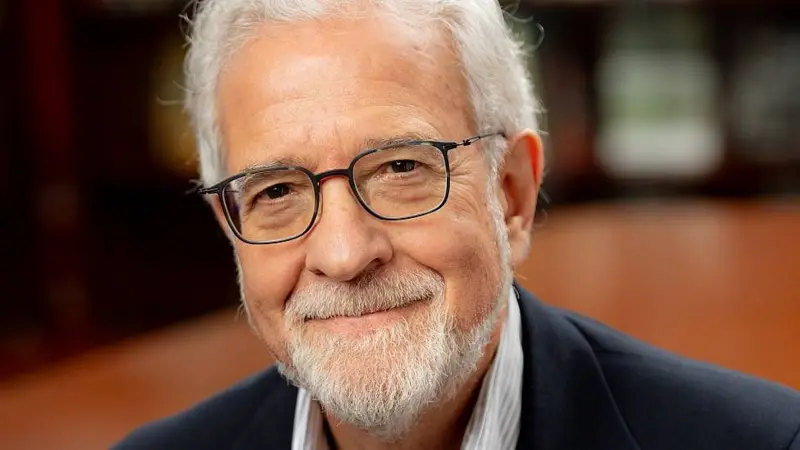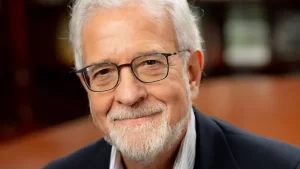Por José Eustáquio Diniz Alves, publicado em Projeto Colabora –
Com quase 30 milhões de desempregados e 10 milhões de jovens sem educação e trabalho, Brasil segue sendo exemplo de desigualdade

O Brasil é um país desigual e injusto. Sempre foi, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Mas depois de 500 anos de avanços e tropeços, se tornou não só uma das dez maiores economias do mundo, como, também, uma nação estagnada e em declínio relativo. Desta forma, o Brasil vive o paradoxo de ser um país com grande potencial mas estar sempre desperdiçando as oportunidades, enquanto passa por uma profunda crise no mercado de trabalho e na previdência.
Após a Independência, em 1822, o Brasil passou a apresentar um crescimento demográfico e econômico acima da média mundial, fenômeno que durou pouco mais de 150 anos, colocando o país entre as nações emergentes mais destacadas do mundo.
Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego
A população brasileira que estava pouco abaixo de 5 milhões de habitantes em 1822, passou para 120 milhões em 1980 e deve alcançar algo em torno de 210 milhões de habitantes em 2022. O Produto Interno Bruto (PIB) que representava somente 0,6% do PIB global em 1822 chegou a 4,3% em 1980. O Brasil deixou de ser pobre e virou um país de poder aquisitivo médio. A renda per capita brasileira ultrapassou a renda per capita mundial, durante os chamados “trinta anos gloriosos” (1950-1980). Parecia que o Brasil estava na trajetória correta para dar um novo salto e entrar para o clube das nações ricas e desenvolvidas, garantindo inclusão social e um bom padrão de vida para toda a sua população.
A trajetória submergente da economia brasileira
Todavia, o quadro mudou e o coelho veloz que representava o “instinto animal” da economia brasileira foi substituído por uma tartaruga lenta e debilitada. O PIB diminuiu, em termos relativos, em comparação ao PIB global. O pico da participação brasileira no PIB mundial foi de 4,3% em 1980. Com a grande recessão ocorrida no governo Figueiredo, entre 1981 e 1983, a participação relativa do PIB nacional caiu para 3,8% e voltou a subir com a retomada do crescimento e com o Plano Cruzado, atingindo 4,2% em 1986. A partir de 1987, especialmente após as recessões dos governos Sarney e Collor (1987-1991), a trajetória de declínio foi se acentuando e o PIB nacional atingiu 3,2% do PIB global no ano 1992.
Nos governos Itamar e FHC, especialmente depois do lançamento do Plano Real, houve uma pequena recuperação e o PIB brasileiro atingiu 3,4% do PIB global no ano de 1996, mas voltou a cair em seguida, ficando em 3% em 2002. Nova recuperação, de fôlego curto, aconteceu no governo Lula que deixou a participação da economia brasileira com 3,2% em 2010. Nova queda acentuada ocorreu nos governos Dilma-Temer, quando o PIB nacional caiu para 2,5% do PIB global no ano 2018. As projeções do FMI indicam que o peso relativo da economia brasileira deve ficar em somente 2,3% em 2022, nos duzentos anos da Independência. Ou seja, em cerca de 4 décadas o PIB brasileiro terá se reduzido, praticamente, pela metade, em relação ao valor real de 1980, como mostra o gráfico abaixo.

O Brasil saiu de uma trajetória emergente (entre 1822 e 1980) para uma trajetória submergente (a partir de 1981). Atualmente, o país passa pela segunda “década perdida” e vive uma crise profunda: barragens de rejeitos de mineração tragaram centenas de vida em Mariana e Brumadinho; pontes e viadutos são interditados por falta de manutenção; há um número escandaloso de acidentes fatais no trânsito; o incêndio do Museu Nacional destruiu parte da nossa história; doenças como Dengue, Chikungunya, Zika, febre amarela e sarampo, que poderiam estar erradicadas, voltam a testar as fragilidades da saúde pública nacional; houve mais de 60 mil homicídios em 2017, a maioria de jovens; garotos promissores do time do Flamengo morreram em um incêndio no centro de treinamento; faltam verbas para manter os serviços básicos de saúde, educação, Justiça e segurança pública, além de recursos para o investimento público em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, metrôs nas grandes cidades, saneamento básico, etc. Também falta dinheiro para garantir as atividades de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de incremento da graduação e da pós-graduação das universidades.
A crise no mercado de trabalho e os sem emprego
O paradoxo da situação atual é que, enquanto faltam recursos para os investimentos públicos, o país desperdiça grande parte do seu principal patrimônio, que é a força de trabalho capaz de gerar renda para as famílias, cidadania para todas as pessoas e riqueza para o país.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, a situação do mercado de trabalho é realmente dramática. Enquanto a população total, em 2018, foi de 208 milhões de habitantes e a população em idade ativa (de 14 anos ou mais) foi de 170 milhões de pessoas, a população trabalhadora ocupada atingiu apenas 91,9 milhões. Se o Brasil tivesse a mesma taxa de atividade da China ou da Coreia do Sul, resultaria em uma população ocupada em torno de 120 milhões de trabalhadores. Portanto, o Brasil está deixando de garantir, a um contingente de quase 30 milhões de pessoas, o direito básico mais essencial, definido no Artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.
O grande desperdício da força de trabalho fica claro em outro indicador da PNADC. A taxa composta de subutilização da força de trabalho (que inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar) foi de 23,9%, no quarto trimestre de 2018, o que representa 27 milhões de pessoas. Ou seja, cerca de uma em cada quatro pessoas que gostariam de trabalhar em condições decentes estava desempregada ou subutilizada no final do ano passado, significando que o país poderia ficar quase 25% mais rico se pudesse contar com a geração de riqueza deste enorme contingente de potenciais trabalhadores.
Ainda segundo o IBGE, o Brasil tinha 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos, em 2018, sendo que quase uma quarta parte não estava nem trabalhando e nem estudando (geração nem-nem). Para essa parcela da juventude, virou fumaça o sonho de transição para a vida adulta, com alta qualificação educacional e profissional. São mais de 10 milhões de jovens nem-nem que estão dando adeus aos bons empregos e aos altos salários para o resto da vida. Indubitavelmente, o Brasil está parindo uma geração perdida, que não é bem aproveitada na flor da mocidade. Essa juventude que não participa do processo de criação de conhecimento e de riqueza hoje em dia, provavelmente, se transformará em uma geração de idosos dependentes no futuro.
Para agravar ainda mais o cenário econômico e social, este grande desperdício da força de trabalho ocorre no momento em que o Brasil possui as menores taxas de dependência demográfica. Isto é, quando a percentagem de pessoas em idade ativa é a maior em relação à percentagem de pessoas dependentes. Este fenômeno, conhecido como bônus demográfico, só acontece uma vez na história de cada país e o Brasil está jogando fora parte da sua janela de oportunidade demográfica.
Se o Brasil perder esta oportunidade única, perderá também a chance de pular para o bloco de cima dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano. Desperdiçar o pleno emprego e o bônus demográfico significa ficar eternamente preso à “armadilha da renda média”, pois nenhuma nação conseguiu enriquecer depois de envelhecer. Não garantir o direito ao trabalho de quase 30 milhões de pessoas em idade produtiva, que estão sem emprego decente, significa também um aprofundamento da crise do sistema previdenciário, pois enquanto o potencial de receitas é reduzido, avoluma-se o potencial das despesas futuras com aposentados e com a seguridade social, em função do envelhecimento populacional decorrente da transição demográfica.
A crise da previdência e da seguridade social
O sistema de proteção social no Brasil está em crise não porque gasta pouco, mas porque gasta muito, aloca os recursos de forma desigual e injusta, além de possuir um déficit estrutural que não para de crescer. Mexer neste vespeiro desagrada muita gente. Todavia, não é saudável para o debate democrático criar uma cortina de fumaça para maquiar os números ruins da previdência.
Evidentemente, o déficit pode variar conforme os critérios contáveis adotados. Geralmente, quem está no poder reconhece a gravidade do problema fiscal, mas quem está na oposição joga para a plateia buscando garantir boas relações com os setores descontentes do eleitorado. O Partido dos Trabalhadores esboçou várias tentativas de reforma, mas não teve força e nem vontade política para seguir em frente e agora, na oposição, é contra. O presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, votou contra as tentativas anteriores de reforma, mas, convenientemente, ao entregar a atual proposta da reforma da previdência ao Congresso Nacional, afirmou que errou no passado e reconheceu que “a reforma é fundamental”.
Segundo os números da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, a soma de todas as despesas com aposentadorias, pensões por morte, benefícios assistenciais e de acidentes do INSS e dos servidores da União, em 2017, superou as receitas em quase R$ 300 bilhões. Mas setores de esquerda dizem que este número poderia ser muito menor se forem consideradas todas as receitas da seguridade social como determina a Constituição e se não houvesse o desvio de recursos retirados da previdência via DRU (Desvinculação de Receitas da União). De fato, o déficit da previdência pode variar conforme os critérios utilizados na contabilidade das receitas e das despesas.
Mas um fato que ninguém pode negar é que o Brasil gastou, em 2018, cerca de 14% do PIB com a previdência, tendo apenas 9% de pessoas idosas de 65 anos e mais no conjunto da população. Essa proporção de gastos é insustentável e difere do restante dos países do mundo. No Chile, a despesa foi de 4,9% do PIB para uma população idosa de 11% do total populacional. Na Coreia do Sul o gasto foi de 4% do PIB para uma proporção de 13% de idosos.
Como o Brasil tinha 7% de idosos em 2012, terá cerca de 14% em 2030 e cerca de 28% de idosos em 2060, a despesa previdenciária, mantido as tendências históricas, tende a abarcar a quase totalidade das receitas orçamentárias do governo. Evidentemente, nenhum país do mundo consegue destinar a maioria do seu orçamento público para cuidar dos idosos, pois a sociedade também requer recursos para os investimentos em infraestrutura, educação, saúde, geração de emprego, etc. Ou seja, o país precisa fazer com que a despesa previdenciária cresça menos do que o ritmo do envelhecimento nacional.
Não se trata, portanto, de reduzir despesas, mas sim evitar que as despesas previdenciárias continuem crescendo muito acima do ritmo da economia. Dizer que não se pode fazer a reforma da previdência, pois não se deve aceitar “nenhum direito a menos” é ignorar que o Brasil está em uma trajetória econômica submergente, com inúmeros outros problemas sociais (além da necessária proteção aos idosos) e que tem cerca de 27 milhões de pessoas desocupadas ou subutilizadas. São milhões de pessoas sem um direito humano básico, além de ser um potencial produtivo jogado fora e que sem ele não haverá como sustentar os idosos de hoje e do futuro.
Desta forma, os direitos previdenciários devem ser garantidos dentro de uma perspectiva de projeto de nação que considere os direitos do conjunto da população e a solidariedade intergeracional. No ritmo atual, as gerações jovens não usufruirão dos mesmos direitos dos idosos atuais. A necessidade da reforma previdenciária é inexorável, pois é preciso evitar a explosão dos gastos, distribuir os recursos de forma mais justa, universalizar os direitos básicos e controlar os privilégios das aposentadorias nababescas e o acúmulo de benefícios.
O investimento é a chave para o presente e o futuro do Brasil
Apesar da importância, a reforma da previdência é apenas um dos problemas do Brasil. Ela é necessária, mas não suficiente. Um indicador que retrata a situação de estagnação e perda de dinamismo do país, ao mesmo tempo que apresenta uma solução para viabilizar o progresso econômico e social, de qualquer nação, é a taxa de investimento.
Como mostrou o economista Walt W. Rostow, no livro “Etapas do desenvolvimento econômico”, de 1959, a transformação de qualquer sociedade pobre e tradicional para uma sociedade rica e avançada em termos de qualidade de vida ocorre pelo aumento das taxas de investimento (formação bruta de capital fixo). Por exemplo, se numa safra de milho reservamos 10% para o replantio teremos uma produção x. Se reservamos 20% teremos uma produção de 2x. Se reservamos 30% teremos uma produção 3x e assim por diante.
Quanto maior a taxa de investimento, maior será a produção de bens e serviços. Altas taxas de investimento permitem manter um crescimento econômico de longo prazo, viabilizando a superação da pobreza de qualquer país, no decorrer do tempo. Investimentos na indústria, na agricultura, no comércio e na infraestrutura permitem a modernização da produção e aumentam a produtividade geral da economia. Investimentos na saúde e na educação permitem o aumento da produtividade da força de trabalho. A literatura econômica mostra, também, que o nível de emprego está diretamente correlacionado com o nível de investimento total. Ou seja, em qualquer lugar, o pleno emprego só é alcançado quando há elevadas taxas de investimento.
O gráfico abaixo mostra porque o Brasil virou um país submergente, enquanto a Coreia do Sul virou um país desenvolvido (e rico) e a China e a Índia são países emergentes e de destaque internacional. Nas 4 décadas em questão, a taxa média de investimentos na China foi de impressionantes 41,1%, na Coreia do Sul foi de 34%. A Índia, que se assemelhava ao Brasil na década de 1980, elevou suas taxas de investimento nas últimas 3 décadas, mantendo uma média de 28,3% entre 1980 e 2020. Enquanto isto, o Brasil apresentou taxa média abaixo de 20% nos últimos 40 anos. Não há surpresas, altas taxas de investimento significam altas taxas de crescimento da renda, redução da pobreza e melhoria das condições sociais. Baixas taxas de investimento significam o contrário.

Em 1980, o Brasil tinha uma renda per capita (em poder de paridade de compra), de US$ 11,1 mil, bem superior aos demais países: Coreia do Sul de US$ 5,1 mil, Índia de US$ 1,3 mil e a China de somente US$ 722, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Mas a estimativa do FMI para 2020 é de US$ 38,7 mil para a Coreia do Sul, de US$ 18 mil para a China, de US$ 7,9 mil para a Índia e de somente US$ 14,9 mil para o Brasil. Em 40 anos, a Coreia do Sul deu um salto fabuloso e virou país rico e desenvolvido, a China apresentou um crescimento tão grande que já possui uma renda per capita maior do que a brasileira e se prepara para disputar a liderança global com os Estados Unidos, enquanto a Índia (que ainda tem uma renda per capita menor do que a brasileira) se tornou uma das economias mais dinâmicas do mundo atualmente.
Sem dúvida, o segredo do sucesso destes 3 países asiáticos, assim como de qualquer outra nação que se tornou bem-sucedida em termos econômicos e sociais, é a manutenção de altas taxas de investimento no longo prazo. As baixas taxas de poupança e investimento no Brasil explicam a perda de competitividade, a baixa produtividade, a decadência da infraestrutura, os desastres ambientais, o reaparecimento de doenças transmissíveis, o aumento da violência e o esgarçamento do tecido social brasileiro.
Depois do fracasso do governo Figueiredo e do agravamento da pobreza na primeira metade dos anos de 1980, as forças líderes do processo de redemocratização da Nova República estabeleceram um pacto social que ficou consolidado na chamada Constituição Cidadã, de 1988. Democracia e aumento dos gastos sociais foram as marcas benéficas das últimas décadas no país. Contudo, o lado oculto das baixas taxas de investimento está representado pela crise fiscal permanente, a estagnação econômica e a perda de dinamismo em relação ao resto do mundo.
Sem um aumento nas taxas de investimento o Brasil continuará preso em um beco sem saída, pois não consegue criar empregos suficientes para absorver a população em idade de trabalhar e nem consegue aumentar a produtividade geral da economia. Sem o aumento da força de trabalho, a renda das famílias não cresce, a arrecadação do governo não é suficiente para cobrir os gastos, as receitas da previdência não cobrem os benefícios e o setor de pesquisas e desenvolvimento não consegue acompanhar os avanços que o resto do mundo produz na 4ª Revolução Industrial e Energética.
O Brasil já conseguiu, desde a Proclamação da República, galgar a transição demográfica e avançar nas primeiras etapas do desenvolvimento econômico, passando de uma sociedade tradicional, atrasada, pobre e escravista para uma sociedade, predominantemente urbana e industrial, democrática e de renda média. Mas pode ficar preso no estágio de renda média, sem nunca dar o salto para as etapas seguintes do desenvolvimento. E o pior, pode até mesmo regredir nas conquistas democráticas e nos níveis de renda. Não custa lembrar que a renda per capita brasileira de 2019 é menor do que a de 2011. O país ficou mais pobre nos últimos 8 anos.
A reforma da previdência deveria ser encarada na perspectiva mais ampla das transformações estruturais para tirar o Brasil do ciclo vicioso da estagnação econômica, do agravamento das condições sociais e do declínio em relação ao resto do mundo. O tempo para alcançar um estágio mais elevado de desenvolvimento humano é curto, pois o país está nos últimos momentos do bônus demográfico e não existem exemplos de nações que enriqueceram depois de envelhecerem. Os desafios são gigantescos. Resta saber se o atual governo está preparado para responder a estes desafios históricos?
José Eustáquio Diniz Alves, sociólogo, mestre em economia e doutor em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado no Núcleo de Estudos de População – NEPO/UNICAMP. Professor titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) do IBGE.