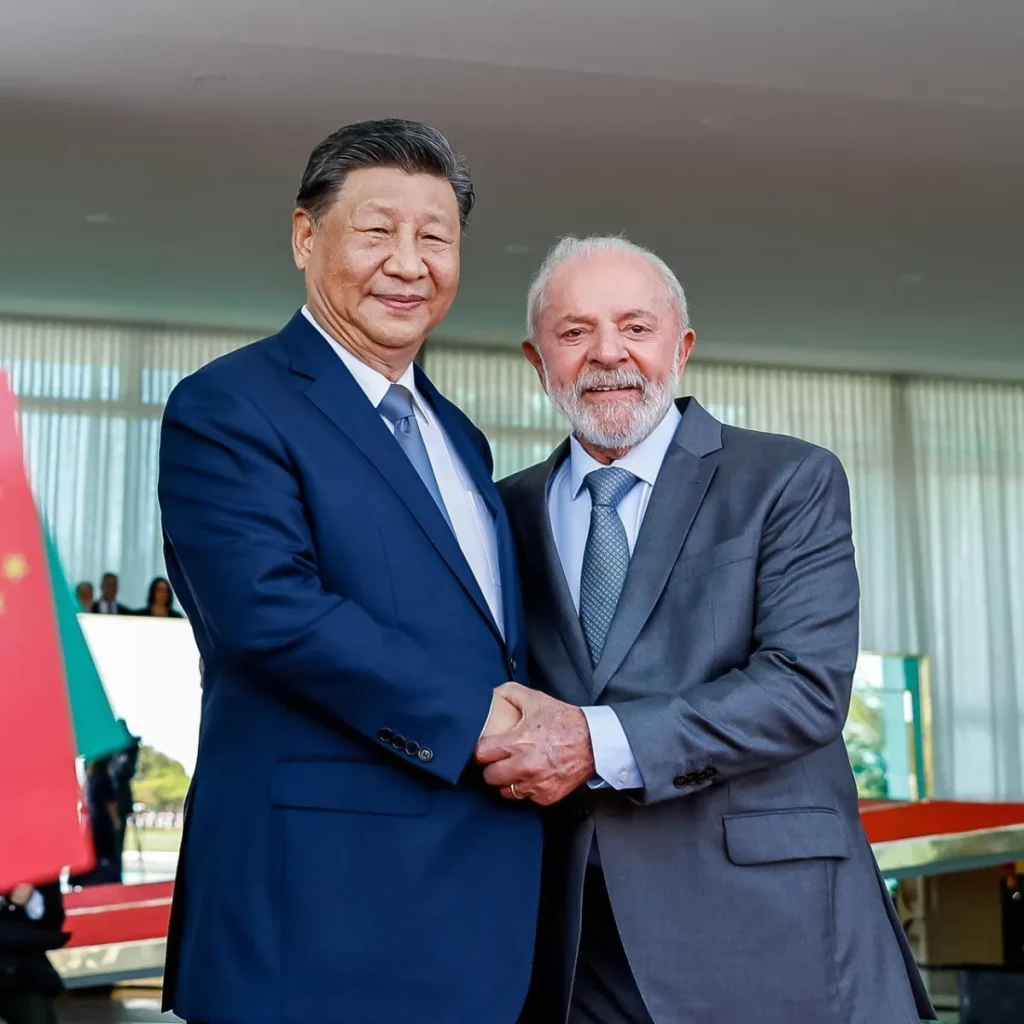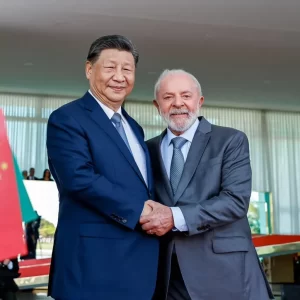Por Saul Leblon, Carta Maior –
A elite sangrou a reforma agrária, sangrou a Vale do Rio Doce, sangrou o salário mínimo, sangrou a CPMF, agora promete travar as mandíbulas na jugular de Dilma.
 Os que hoje se avocam depuradores da nação entendem do riscado.
Os que hoje se avocam depuradores da nação entendem do riscado.
Eles sangraram Getúlio em 54; sangraram a reforma agrária em 1964; sangraram a Petrobras em 1997; sangraram a Vale do Rio Doce; sangraram o salário mínimo por décadas; sangraram o BNDES; sangraram a Lei de Remessa de Lucros; sangraram a CPMF em 2006; sangrariam Lula em 2005 (se ele não reagisse). Sangram até hoje a Constituição de 88 que, no capítulo das comunicações, por exemplo — artigo 220, parágrafo 5º — determina que os meios de informação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
Agora prometem travar as mandíbulas na jugular da Presidenta Dilma Rousseff, envolvendo o Brasil em uma longa noite dos chupa-cabras.
‘Não quero que ela saia, quero sangrar a Dilma’.
A proclamação ‘cívica’ foi expressa didaticamente por um dos mais buliçosos soldados da ofensiva zumbi, o senador tucano Aloysio Nunes Ferreira, cujas credenciais no ramo da sucção podem ser conferidas com o amigo do peito, Paulo Preto.
Ex-Dersa, caixa 2 da campanha de Serra em 2010, ‘Paulo afro’, como corrigiu o então candidato, abduziu uma fatia do dízimo colhido junto às empreiteiras do Rodoanel em caridade própria. Antes, adiantara R$ 300 mil para Aloysio quitar o apartamento, em cuja varanda a família Nunes Ferreira bateu panela contra o ‘governo corrupto’ do PT no último domingo.
‘Não é hora de afastar a Dilma, nem de pactuar’, reforçou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em um colóquio de cirurgiões especialistas em ‘agonizar uma nação’, realizado 24 horas após o ‘caçarolaço chique, no Instituto iFHC.
Lá estava também o indefectível Ilan Goldfajn, economista-chefe do banco Itaú, o mesmo que, junto com o Bradesco, sangrou o país em R$ 200 milhões em impostos, declarando lucros em paraísos fiscais em 2009
Prestativo, Goldfajn pontuou o plano com sugestões sobre o momento mais adequado para se transformar um sangramento em golpe hemorrágico.
Segundo o jornal Valor Econômico, o economista-banqueiro fez minuciosa exposição para demonstrar que a equação buscada pelo governo Dilma baseia-se em um tripé — ajuste fiscal aperto monetário apoio político — que não fecha.
Diante da dúvida de FHC sobre a pressão a ser exercida na jugular presidencial, Ilan palpitou: quando a escalada do desemprego e do endividamento das famílias atingir o ponto de fervura, aí sim, haverá lenha suficiente para uma fogueira hemorrágica.
A plateia de traje executivo e disposição carbonara, pelo que se depreende do relato do jornal, não parecia entender onde os cirurgiões queriam chegar: ‘Se não é pelo impeachment por que vamos sair à rua no dia 15?’, indagou uma moça de tailleur estilo ‘mercado financeiro’.
Ao final do colóquio, Aloysio Trezentinha esclareceria dúvidas.
Um governo petista sangrando em fogo brando, explicou, inviabiliza as chances do PT em 2018. ‘Já um país sob o comando do PMDB (com Dilma afastada por impeachment) e uma economia em frangalhos’, advertiu Trezentinha, ‘poderia devolver ao petismo liderado pelo ex-presidente Lula as chances eleitorais então’.
Busca-se, portanto, um corte com precisão suficiente para sangrar Dilma e ferir Lula de morte.
Por trás da metáfora cirúrgica, na verdade, há uma operação ainda mais complexa que atormenta os estrategistas conservadores e alimenta sua ambiguidade.
Trata-se, como admitiu FHC no mesmo colóquio, de substituir o bloco de governabilidade atual — que se esfrangalhou, com a crise internacional — por outro que sustente a restauração neoliberal no Brasil.
O pulo do gato consiste em usar as ruas para isso.
Sem se deixar atropelar por elas.
Ou seja, sem o risco de extravasar a transição para as mãos da turba, quando tudo pode acontecer e por isso não pode acontecer. Caso de uma reforma política para valer, por exemplo, capaz de extirpar o peso do financiamento privado na democracia brasileira.
Eis o dilema dos bisturis a desenhar dúvidas no ar.
Sangrar o Brasil, paralisar a economia, aleijar o governo, levar o conjunto em coma induzido até 2018, sem que tudo vire uma hemorragia desatada e as elites percam o controle das variáveis em jogo?
O que se teme já aconteceu antes.
Na véspera do fatídico 24 de agosto de 1954, quando Vargas mudou a história do país com um único tiro, a animosidade contra o seu governo parecia disseminada e de forma irreversível.
A rejeição havia extravasado do núcleo emissor da elite para as ruas graças a uma bem orquestrada doutrinação midiática que reduzira a luta pelo desenvolvimento no seu governo a um enredo de incompetência, anacronismo e assalto sistêmico aos cofres públicos.
Dezenove dias antes do suicídio de Vargas, um obscuro atentado a Carlos Lacerda, envolvendo círculos próximos ao Presidente, fechara o cerco.
O tiro no pé de Lacerda na rua Toneleros acertou o coração do governo, servindo de espoleta ao ultimato definitivo das forças golpistas.
No dia 23 de agosto, rumores de que a cúpula das Forças Armadas levaria ao presidente uma carta renúncia vinham acompanhados de um sentimento de quase de alívio nas ruas: o sangramento que os interesses conservadores impunham a Vargas maltratava todo o país, paralisando a economia e a sociedade em uma espiral de crise, incerteza, decepção e fatalismo.
Cevado para a derrubada de Getúlio desde a sua posse, o Brasil agora parecia estar no ponto.
Ponto de saturação.
O governo que reordenara as bases do desenvolvimento com soberania e industrialização — sem o que não existe desenvolvimento -, que criou o BNDES em 1952, a Petrobras em 1953, dobrou o salário mínimo em maio de 1954, fora massificado no imaginário social como um campo indiviso de corruptos, ineptos e criminosos.
O fim inevitável e humilhante contrastava com as vivas esperanças que haviam levado Vargas de volta ao poder, aos 67 anos de idade, carregado por esmagadora maioria de quatro milhões de votos, contra dois milhões dados ao candidato das elites, Brigadeiro Eduardo Gomes.
Foi então que o imprevisto se fez ouvir na madrugada de 24 de agosto de 1954 no Palácio do Catete, no Rio.
Com um gesto estudado, e uma carta testamento memorável, Vargas transformou seu sangramento em uma hemorragia de revolta aberta nas ruas.
A experiência da tragédia abalaria o cimento da resignação cotidiana: rompeu-se a blindagem.
Consternado com a notícia que ecoava pelas rádios, o povo perseguiu e escorraçou porta-vozes da oposição virulenta ao Presidente.
No Rio, a multidão foi precisa em eleger seu alvo: cercou e depredou a sede da rádio Globo que saiu do ar. A emissora do jovem udenista Roberto Marinho cumpria o mesmo papel de âncora do diretório midiático que hoje desempenha o Jornal Nacional da mesma cepa.
Carros de entrega do diário da família Marinho foram caçados, tombados e incendiados nas vias públicas. Prédios de outros jornais que haviam aderido ao ultimato pela renúncia conheceram a força da indignação popular.
Morto, Vargas conduziu a alça do próprio caixão até o futuro da história. E ali perpetuou uma influência ainda inexcedível no imaginário brasileiro.
O gesto desassombrado obrigaria o golpismo a adiar por uma década a chegada ao poder (depois de sangrar Jango, em 1964) e, mesmo assim, sem erradicar integralmente o legado de Vargas.
Não por acaso, ao ser eleito em 1994, o tucano Fernando Henrique Cardoso afirmou, em discurso ao Congresso: ‘(minha tarefa histórica) é eliminar um pedaço do nosso passado que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista’.
Ontem, como hoje, para a inteligência tucana, o padrão de direitos sociais e trabalhistas esboçado por Vargas, ampliado na Carta de 1988 e praticado no ciclo petista é incompatível com o desenvolvimento no Brasil.
‘Isso encarece o custo do investimento privado’, afirmam; ‘o conjunto rebaixa a poupança do setor público, impulsiona o endividamento do Estado, pressiona a taxa de juros e impede o círculo virtuoso do investimento’.
Nenhuma palavra sobre justiça fiscal, por exemplo, capaz de reordenar o fluxo da riqueza para as demandas e o investimento da sociedade.
Do ponto de vista de quem acredita que as conquistas dos últimos 12 anos devem ser corroídas – a exemplo das tarifas protecionistas da economia – para melhor credenciar o Brasil no ‘rating’ global, não importa o custo em termos de qualidade do emprego e da sociedade.
Dos escombros, assegura-se, brotará uma nova matriz de crescimento ‘mais leve, ágil e competitiva’, sem o fardo de direitos legados por Vargas, pela Carta de 1988 e turbinados pelo ciclo do ’lulopetismo’.
É desse sangramento, na verdade, que tratam as cabeças pensantes no iFC e que elegeram Dilma a personificação frágil do que pretendem destruir.
Quem acredita que o entrave ao desenvolvimento brasileiro decorre, exclusivamente, dos equívocos cometidos – e foram inúmeros — pelos governos do PT toma, portanto, a nuvem por Juno.
Do PT pode-se – deve-se – cobrar um reencontro com o engajamento criativo de suas bases, traço indissociável da centralidade que elas já ocuparam na vida do partido.
Pode-se, deve-se, igualmente, desafiá-lo a resgatar o desassombro político original, anestesiado pela responsabilidade do poder e só restituível com amplas doses de democracia interna e humildade política para se recolocar ao lado dos movimentos sociais.
Tudo isso é imperioso e urgente.
Mas a parede contra a qual se esbarra hoje, na disputa pelo passo seguinte brasileiro, não pode ignorar o fio de continuidade que liga 1954 a 2015.
Ela reflete o mesmo conflito que na Constituinte de 1988 – como hoje – interditou a reforma política, o financiamento público de campanha, a justiça fiscal, a reforma agrária, o controle sobre o mercado financeiro e postergou a democratização pluralista da mídia.
Dissociou-se assim o núcleo duro do capitalismo, do espírito progressista e cidadão que embalou a reordenação constitucional ao final da ditadura.
O conflito entre mercado e democracia parece ter chegado agora ao seu nível máximo.
As ruas – naquilo que revelam de insatisfação real – são a expressão de contradições que já não cabem nos limites da institucionalidade disponível.
Diante da transição da economia mundial (cuja retração inviabiliza a acomodação dos conflitos via importações baratas e saldos comerciais elevados) é forçoso romper limites e interditos para repactuar as bases do desenvolvimento.
Não é obra apenas para o PT.
É tarefa para um mutirão histórico, organizativo e constitucional, que exige uma articulação progressista maior, mais sólida e mais coerente do que aquela que emergiu ao final da ditadura e a que elegeu Lula em 2003.
É essa hemorragia que os cirurgiões tucanos temem.
É ela que o campo progressista deve perseguir – especialmente o PT, se quiser sobreviver.
Porém, mais que apenas subsistir: se quiser ter relevância na tarefa de construir o muito que o Brasil ainda deve aos brasileiros.