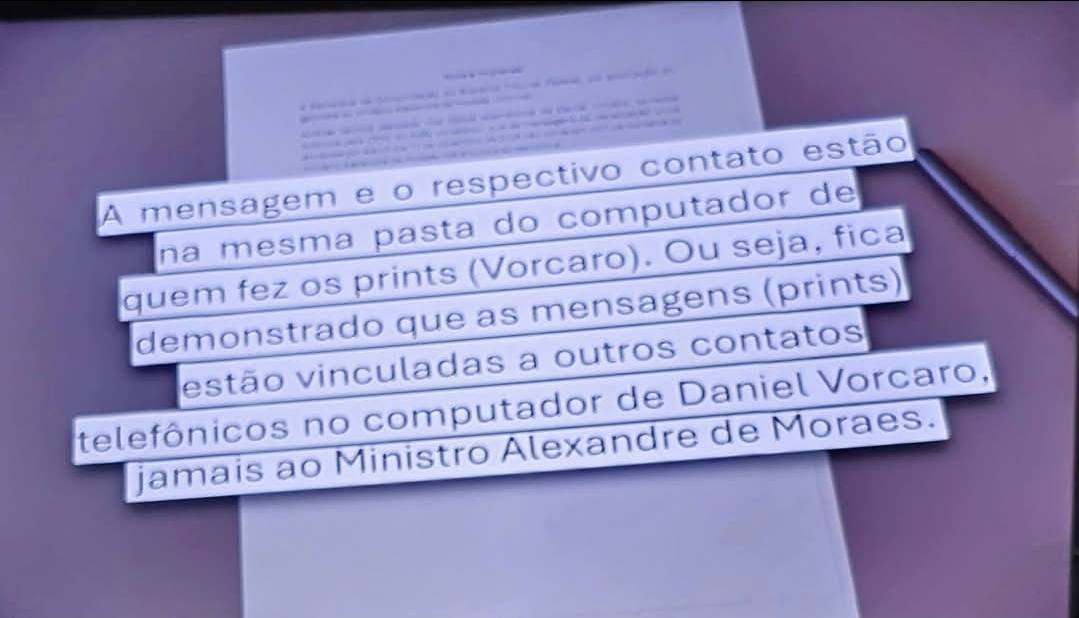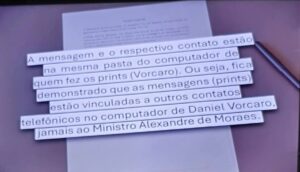Por Eduardo Nunomura , Blog Farofafa, Carta Capital –
No dia 25 de janeiro de 1984, eu tinha 15 anos, uma vaga noção do que eram as Diretas-Já, mas a certeza de que devia estar na Praça da Sé. Era uma data histórica demais para não ser uma entre as mais de 300 mil pessoas presentes à “maior manifestação já realizada em São Paulo desde a Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, segundo a Folha de S.Paulo. Em 13 de março de 2015, aqui estou eu de novo nas ruas. Se são 100 mil, 41 mil ou 12 mil manifestantes, não importa. Esta é uma história que não podia deixar de ser contada.
Vera Lúcia, Marcos, Sergio, José Augusto, Jamil, Andrea, Natalia, Polyana, Gabrielle, Anna Cecilia e Sabrina são meus personagens. Por que eles e não outros? Porque já é muito se comparado com o que o resto da imprensa vai escrever. Pessoas viram números na maioria das reportagens, como se cada uma delas não guardasse histórias de vidas que valessem a pena ser narradas.

São 14h20 e um grupo de 600 pessoas do vale do Ribeira caminha lentamente pela avenida Paulista, na direção do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A bananicultora Vera Lúcia de Oliveira, de 58 anos, é uma delas. Secretária de Política para Mulheres da Federação da Agricultura Familiar, não escondia o discurso de uma típica eleitora de Dilma Rousseff e do PT. “Vim defender a Petrobras, os programas sociais, a política de habitação popular e me opor a usar o recurso deles para pagar o déficit fiscal”, diz.
Em Sete Barras (SP), no vale do Ribeira, Vera Lúcia é uma líder atuante. É ela quem organiza os ônibus e os trabalhadores que vão engrossar manifestações sindicais Brasil afora. Desta vez, foram 12 ônibus. Das bananas que cultiva, ela obtém em torno de um salário mínimo e meio (1.200 reais) por mês. É pouco, mas antes era pior. “Hoje, cada prefeitura é obrigada a comprar 30% da agricultura familiar. Trabalhamos para ampliar nosso mercado.”
Vera Lúcia não tem tempo para descansar e ouvir alguns discursos de professores da rede estadual paulista no Masp, que minutos antes haviam decretado greve a partir de segunda-feira. Chega no meio de uma confusão entre manifestantes (leia o relato aqui) e logo se soma aos que estavam no ato em defesa da Petrobras e do governo Dilma. Começa a chover. A cântaros. Blocos de anotações não combinam com água. Na parte de trás de uma banca de jornal, um providencial abrigo me presenteia com dois novos personagens. Marcos e Sergio discutem, mas civilizadamente.
“Não estou subestimando, mas é uma coisa que ainda está longe de acontecer”, afirma Marcos Kennedy, de 28 anos. Ele se refere ao movimento pró-impeachment da presidente. Sérgio Paulo da Silva, de 43, retruca: “A luta pela defesa da democracia é muito mais urgente, não estou desprezando as suas reivindicações”. Marcos e Sérgio são colegas de universidade, da Uninove, onde se formaram professores. Reencontraram-se na rua. Ambos concordam que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) pegou uma “carona” ao marcar um ato no mesmo dia da assembleia dos professores. Decidida a greve, discordavam se deviam seguir com um ou outro grupo.
-

Os professores Sérgio Paulo da Silva e Marcos Kennedy divergem sobre os objetivos do ato
Marcos relata as dificuldades enfrentadas pelos professores da rede estadual paulista. Não há material de limpeza, não há mesas de professores, o mato do “jardim” da escola. E o clima é de tensão, depois da demissão, pelo governo tucano deGeraldo Alckmim, de mais de 20 mil profissionais com contrato temporário. Ainda assim, Sérgio afirma que “lutas satélites” dos trabalhadores, neste momento, podem fazer o país retroceder para uma época em que essa discussão nem fazia sentido. “Só fui fazer faculdade aos 30 e poucos anos, com o Prouni. Não quero voltar ao tempo em que havia uma divisão profunda entre pobres e ricos”, diz o ex-operador de máquinas que hoje leciona história.
A tempestade não dá tréguas e o jeito é negociar um desconto para comprar um guarda-chuva para acompanhar a marcha (sim, uma marcha não fica parada). A rede de #JornalistasLivres dispara pelo Whatsapp que o site do jornal Valor Econômico informa que manifestantes recebem R$ 35 para estar naquele ato. Mas como encontrar naquela multidão o desempregado Edmilson Barbosa, o único personagem citado na reportagem? Nem vou perder meu tempo.

Na descida da rua da Consolação, o presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, José Augusto Camargo, se depara com Jamil Murad, presidente do PCdoB da capital paulista. “Eles conseguiram que a gente se unificasse de novo”, alegra-se o político. “É um ato conjunto e plural, de muita diversidade, e é só o primeiro.” O sindicalista concorda. “É difícil segurar agora. Isto aqui é fruto de movimentos organizados, enquanto quem está por trás do movimento do dia 15 são grupos minoritários. Quer uma manchete? Escreve aí: ‘A esquerda sai de alma lavada’.”
Minutos depois, a chuva dá uma trégua. A multidão agita as bandeiras e os comerciantes apenas assistem a tudo. Muitos cerram as portas, em pleno expediente de sexta-feira. Trabalhadores que queriam voltar para casa se desviam da massa. “Pode chover/ pode molhar/ ninguém segura a resistência popular/ pode chover/ pode molhar/ e a Petrobras ninguém vai privatizar”, cantam os manifestantes. A polícia filma e acompanha tudo de perto, mas não houve registro de confronto ou depredação em nenhum dos 25 estados que se manifestaram, segundo admite William Bonner no Jornal Nacional da sexta-feira 13.
A aposentada Natália Rosa da Silva, de 59 anos, puxa o ex-vereador e médico Jamil Murad para uma foto com ela, a filha e outras mulheres da Unegro. Ex-auxiliar de enfermagem, Natalia conheceu Jamil quando ele atendia no Hospital do Servidor, no fim dos anos 1980. Desde então vota nele. “Vim para contrapor ao que a mídia fala. Aqui é um monte de gente que acredita na política”, explica Natalia. “Eu sei o real sentido de quem está na luta para sobreviver. Criei sozinha quatro filhos, e foi muito complicado. Hoje, consigo que minha caçula faça uma faculdade.”
Andréa Nascimento, de 40 anos, é uma das filhas de Natália, mas não a caçula. Secretária, ela compara a sua vida com a de seu filho do meio. “Ele ganha R$ 1.000 e só tem 16 anos. Eu ganhava isso com 28 anos, e com esse salário paguei minha faculdade, com muito custo. O Bruno também faz faculdade, de marketing, e entrou pelo Prouni.” E por que participar do ato? “Há uma luta de classes, pobres e ricos estão digladiando. Estou do lado da Dilma, defendendo o que é nosso.”

O temporal reinicia impiedoso. São 18h e a rua da Consolação está tomada de manifestantes. Poucos arredam pé da marcha. Nem mesmo Polyana Alves, de 26 anos, e sua filha Alícia, de 4. A pequena tem um guarda-chuva. A mãe, não. O repórter lhe dá carona e conhece sua história. Alagoana, que veio a São Paulo dois anos atrás, ela participa de uma ocupação de sem-teto da Frente de Luta pela Moradia (FLM). Mora de forma precária na avenida São João. “Estou sem emprego, e não consigo um porque não tenho com quem deixar minha filha”, afirma. Polyana já trabalhou de empregada doméstica, mas com o que ganhava mal podia pagar o aluguel. Participar deste ato é mais um dia de luta entre tantos outros em que ela é levada pelos líderes dos sem-teto para protestar por moradia.
Os carros de som se encontram na praça da República. A chuva cessa e a multidão começa a se dispersar. A tinta verde-e-amarela no rosto da universitária Gabrielle Perez, de 18 anos, foi praticamente lavada com a chuva. Com exceção dos festivos militantes da União da Juventude Socialista (UJS), vi poucos estudantes nesse ato, talvez por estarem dispersos. Bem diferente das passeatas de 1992, onde éramos numerosos e barulhentos. Mas entendi completamente quando Gabrielle, que cursa gestão empresarial na Fatec, explicou porque queria parecer uma cara-pintada. “Eles estão dizendo que vão vir domingo (15) como os rostos pintados e gritando ‘fora, Dilma’ como aconteceu com o ‘fora, Collor’. Mas não há a menor relação, porque hoje é que deveriam estar os cara-pintadas”, diz.
Perto das 19 horas, policiais militares fazem um paredão humano e empurram os manifestantes para as calçadas. A ordem é deixar ruas e avenidas livres. Educadoras aproveitam os últimos minutos para abrir a faixa com os dizeres “verás que um filho teu não foge à luta – a história da luta democrática no Brasil”. As pessoas querem tirar uma foto que sintetiza o dia que viveram. É uma faixa batizada pela chuva, mas já carregada de história. No ano passado, para marcar os 50 anos da ditadura militar, professores do Centro Educacional Unificado (CEU) do Butantã fizeram uma exposição que abordava esse tema. Quando souberam do ato em defesa da democracia, Anna Cecília Simões, Sabrina Teixeira e outras colegas a trouxeram para as ruas.
-

Grupo de educadoras da rede municipal no Butantã exibem faixa-síntese do dia
“Queremos um Brasil dos direitos, dos cuidados, do interesse público, da participação popular, da diversidade, de menos desigualdades”, resume Anna Cecília, de 57 anos, supervisora da Diretoria Regional da Educação da Prefeitura de São Paulo. Nos anos 1980, já na redemocratização, a educadora ajudou na implementação dos Centros Integrados de Educação Pública, os Cieps concebidos por Darcy Ribeiro e mais lembrados como Brizolões, por causa do então governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola. Depois, foi chamada por Marta Suplicy para criar os CEUs. “Temos instituições cada vez mais fortalecidas e tenho orgulho do que conquistamos até agora.”
Sabrina, de 35 anos, é gestora do CEU Butantã e completa o pensamento da colega. “A nossa principal bandeira é o que defendemos na nossa faixa, a luta democrática. Mas também defendemos uma Constituinte para que a reforma política seja feita, porque do jeito que as coisas estão as outras transformações não virão”, diz. “Queremos um Brasil de qualidade para todos os nossos meninos e meninas. E isso significa nenhum a menos.”
O Brasil que não quer se dividir, nem deixar ninguém para trás, fez história neste 13 de março de 2015. E esta foi a minha história.
* #JornalistasLivres em defesa da democracia: cobertura colaborativa; textos e fotos podem ser reproduzidos, desde de que citada a fonte e a autoria. Mais textos e fotos em facebook.com/jornalistaslivres.