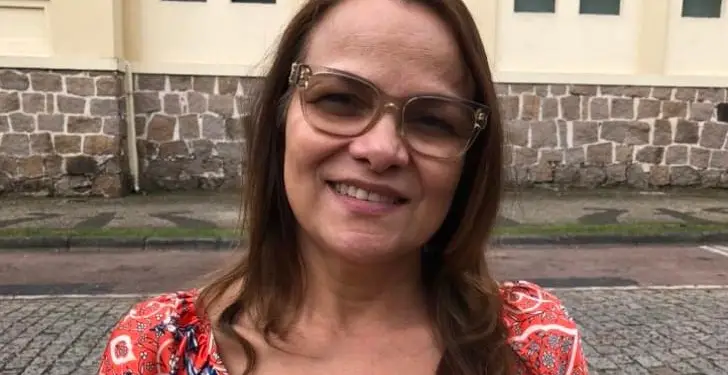Por Rosana Pinheiro-Machado, publicado em The Intercept Brasil –
Quando escrevi o texto“Precisamos falar sobre vaidade na vida acadêmica”, em 2016, não podia imaginar a reação bombástica que teria em milhões de leitores. Recebi 300 longas cartas de estudantes que procuravam meu e-mail no Google para desabafar (com uma estranha) suas angústias.
Desde então, comecei a pesquisar o tema do sofrimento acadêmico e palestrar em universidades brasileiras. Os auditórios lotam e se produz uma catarse na qual praticamente todos os estudantes da plateia contam suas histórias. Na voz do outro, as pessoas encontram reconhecimento e abrigo, quebram o silêncio, falam até exaustão e não raro choram muito.
Muitos se acham “fracos”, outros dizem sofrer da síndrome do impostor. Uns relatam assédio moral ou sexual de professores, que foram humilhados em banca, que são prejudicados por orientadores relapsos, que não sabem lidar com competição, que não veem perspectiva de futuro, que são mães e não têm apoio, negros e LGBTQI+ que sofrem discriminação etc.
Um desses depoimentos que caíram no meu colo foi o de Joice*, minha ex-colega que me escreveu depois de anos para contar que havia tentado se matar um dia antes de uma apresentação de trabalho que fizemos juntas. O tema do adoecimento acadêmico ainda era um tabu. Felizmente, isso está mudando.
Muitos acreditam que esse tema não deveria vir a público em tempos de desmonte universitário. Eu concordava com isso até receber, novamente, mais uma enxurrada de mensagens como resposta a um simples tuíte meu sobre a importância da escolha dos orientadores. Tendo a crer que a condição mental dos estudantes, que já era precária, se tornou trágica sob este governo – e colocar isso para debaixo do tapete é uma irresponsabilidade.
‘Epidemia’ de depressão
Já existem evidências consistentes que mostram que a incidência de depressão nas universidades é muito alta e maior do que na média em da população em geral: 39% em relação a 6%, segundo estudo publicado na Nature em 2018. Outra pesquisa da Rand Europe mostrou que os mais graduados são também os mais atingidos. Entre os belgas, um artigo da Research Policy, de 2018, revelou que mais 50% dos doutorandos apresentavam pelo menos dois sintomas de transtorno mental – números parecidos com os da Universidade de Berkeley. Já se fala em uma “epidemia” de depressão acadêmica.
De modo geral, no Ocidente, respeitando diferentes contextos, um em cada três estudantes está em depressão, e metade deles sofre de transtorno mental. Esse sofrimento é atravessado por opressões sociais mais amplas, pois sabemos que, segundo estudo global publicado na Nature, a incidência de depressão em homens cis é de 31%, em mulheres cis, de 41% e, entre pessoas transgêneras, 57%. Ainda precisamos de mais dados com recorte racial.
O Brasil segue a tendência global. As universidades públicas brasileiras estão cada vez mais atentas para o problema. A Andifes tem realizado os mais abrangentes relatórios sobre o perfil dos estudantes brasileiros e sua saúde mental. Em 2018, a pesquisa mostrou que 32% dos estudantes procuraram apoio psicológico, 83% dos estudantes reportaram dificuldades emocionais e o número de pensamento suicida dobrou em quatro anos.
As causas desse fenômeno complexo são múltiplas. Precisamos olhar para o adoecimento por vários ângulos. Um ângulo possível é a perspectiva do campo acadêmico – ou seja, a academia tem regras próprias, é um universo específico que foi adquirindo características ao longo da história universitária.
O sociólogo Pierre Bourdieu escreveu sobre o que chamou de homo academicus, parte de uma máquina capaz de construir e destruir egos e reputações. Esse “campo” é essencialmente estratificado, foi historicamente construído por valores elitistas, aristocráticos e tem sido constituído por pessoas privilegiadas econômica, social e culturalmente.
Esse também é um ambiente que, desde o seu início, tem sido marcado pelo mito da genialidade inata do ser humano, que torna a obtenção do conhecimento um processo individual. Max Weber já se dopava com ópio para conseguir escrever no final do século 19. Escrever ainda é o ato mais doloroso da vida de um estudante, a prova de fogo.
A crueldade e a postura distante do professor que encarna o estereótipo do homem, branco e velho são vistas como sinal de força.
Há séculos, há ocorrências de orientadores semideuses que maltratam estudantes. Esses são os calhordas, como diz a jornalista Kelly Becker. Estudantes aprendem a admirar professores calhordas que, por sua vez, protegem estudantes calhordas. A crueldade e a postura distante do professor que encarna o estereótipo do homem, branco e velho são vistas como sinal de força. A generosidade da professora didática é vista como fraqueza, e sentimentos são encarados como inferiores. A boa notícia é que estou convencida que o feminismo e o movimento LGBT da juventude atual estão ajudando significativamente a romper com essa lógica no Brasil.
No caso brasileiro, há uma particularidade importante: as políticas de acesso ao ensino superior. Se estudantes europeus adoecem porque sentem saudade de casa, no nosso caso o deslocamento que afeta os estudantes não é geográfico, mas social. O Brasil viveu uma fase de crescimento, inclusão social e popularização universitária, mas os campi continuaram com o ethos elitista e branco, causando um choque nos novos entrantes. Seja nas universidades privadas ou nas públicas, dezenas de relatos que chegaram até a mim eram muito semelhantes: estudantes negras confundidas como profissionais da limpeza, que tinham o seu cabelo tocado o tempo todo e ouviam cotidianamente comentários racistas.
É o neoliberalismo contemporâneo que faz com esse campo, que sempre foi de tensão, se tornar insustentável, aprofundando velhos problemas e criando outros. Diversos especialistas têm entendido que o problema da saúde mental piora no século 21 porque hoje se pede muito mais de um estudante em menos tempo. Ou seja, nosso imaginário romântico sobre a vida acadêmica – sobre a produção brilhante de monografias, longas reflexões, prestígio e viagens – continua inalterado em um sistema que oferece isso apenas para uma ínfima minoria.
Mas o neoliberalismo não apenas retira direitos, tempo e dinheiro, como é também um modo de pensar que incorporamos em nossa conduta. Em um debate da ANPG que participei, uma estudante negra com um filho no colo, pegou o microfone e fez um depoimento comovente: “dos professores a gente espera pouco, mas o que me dói é ver a competição reproduzida pelos colegas”.
Tudo isso resulta em estudantes com insônia, distúrbios alimentares, ansiedade, desânimo, pânico, depressão e até crescentes casos de suicídio em campi. É a geração que toma ritalina para acordar e rivotril para dormir. Esse problema cai como uma batata-quente na mão dos professores, que também estão adoecidos, medicados, precarizados.
Recentemente participei de um workshop no Reino Unido no qual um profissional de saúde pública contou que, com base em dados confidenciais, um único posto de saúde – inserido em um campus com moderna infraestrutura e vista para o mar – recebe uma ligação por semana relatando tentativa de suicídio.
Uma professora, ao escutar o relato, ficou desesperada. Com dois filhos pequenos, ela disse que mal conseguia lidar consigo própria. Um médico acrescentou: “não estamos dando conta do problema. A verdade é que atendemos por cinco minutos, enchemos os alunos de remédios e indicamos aplicativos no celular de yoga e relaxamento”. Os departamentos começam a estender o prazo de todos os alunos. Mas está todo mundo enxugando gelo.
Trata-se de um problema estrutural, que exige políticas públicas de intervenção na área da educação e saúde pública. Mas nós podemos atuar na “redução de danos”. O primeiro passo é encará-lo e falar sobre ele. Precisamos deixar claro mostrar que é um fato social, não individual e que não se trata de fragilidade de quem “não segura o tranco”. Mas mais do que qualquer coisa, um estudante com sintomas de adoecimento deve procurar ajuda especializada.
Na Universidade de Oxford, em que muitos alunos chegavam em minha sala para chorar, percebia que mais da metade dos alunos que eu encaminhava para o serviço de aconselhamento resolvia seus problemas nos grupos gestados pelos próprios alunos, que reuniam também ex-alunos que haviam superado depressão. Conversar com quem passou pelo mesmo problema era libertador. Então, é importante que os alunos brasileiros, diante do desmonte universitário, também consigam organizar rodas de conversas.
O segundo passo é que precisamos romper o círculo vicioso da calhordice. Escolher, quando possível, um orientador generoso (e não o “fodão”, que na prática nem sempre ajuda) é fundamental. Eu só me tornei uma acadêmica feliz no dia que em que decidi me afastar dos ególatras e atuar por meio de alianças colaborativas, nas quais prevaleciam a generosidade. Em grande parte, isso significou me aliar a mulheres. Além disso, também precisamos manter uma postura solidária para com os colegas menos privilegiados.
O fim do mundo – e o recomeço
No Brasil, o fogo no Museu Nacional era uma espécie de presságio do apocalipse científico que viria ocorrer em 2019. Com todas as suas contradições e conflitos, a academia como conhecíamos está em fase de extinção. Por isso, temos ido a público para valorizar nossas conquistas como cientistas. Isso é tão importante como mostrar que, nestes tempos sombrios, os estudantes estão adoecendo porque nunca antes na história do Brasil uma autoridade máxima da nação tratou pesquisadores como inimigos – o que adiciona uma camada extra a um quadro já dramático. Os alunos hoje não veem perspectivas de futuro. É muito pior do que a sensação de não ter bolsa e a falta de papel higiênico: é a sensação de que nosso trabalho não tem valor.
É preciso denunciar o que este governo está causando na saúde mental. Trata-se de responsabilizar os produtores do terrorismo a que nossos estudantes estão submetidos. Precisamos ainda falar sobre sofrimento na academia, justamente para reforçar a importância de uma universidade democrática, inclusiva e humanista.
Por fim, não posso deixar de comentar um lado positivo – e inesperado – que observei em meio à catástrofe. Meus ex-alunos da UFSM, hoje me parecem mais fortes. O motivo? Aprenderam que precisam lutar pelo curso de ciências sociais e passaram a se mobilizar, organizar passeatas, atos e rodas de conversa. O medo, assim, se transmuta em indignação e ação. E, na própria prática de luta coletiva, talvez sem se dar conta, eles têm conseguido quebrar a alienação do individualismo atroz do ensino neoliberal e, assim, repensar – e até recriar – a universidade que desejam.
*Nome foi alterado para preservar a identidade da fonte.