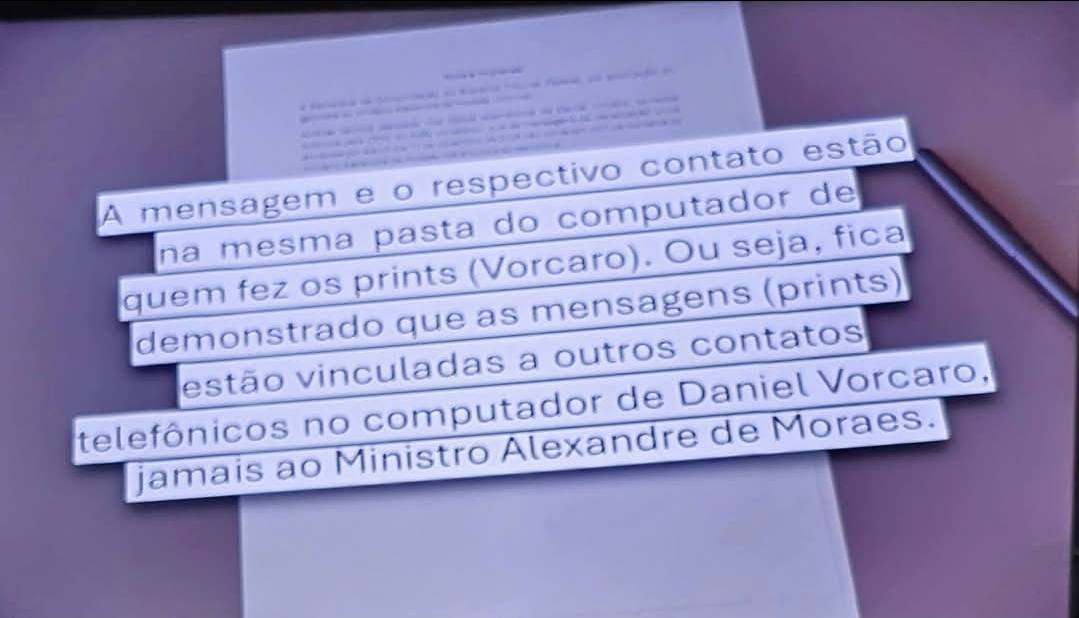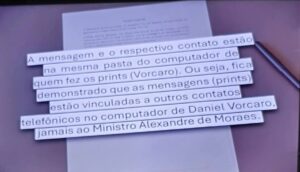Por Júlia Amin, compartilhado de Projeto Colabora –
Celia, Jacyra e Jucicleide contam como a pandemia mudou suas vidas
No braço esquerdo, Celia Maria Oliveira tatuou, aos 60 anos, um aviso pouco óbvio: “Convivo com Alzheimer”, seguido do seu nome, telefone do filho e do marido e um bonequinho com a mão no coração. Hoje, aos 68, ela conta que a pele enrugou, a tatuagem cedeu e que vai precisar retocar, mas que o escrito ainda não teve utilidade. Nunca se perdeu.
Moradora de Salvador, Bahia, Celia, que trabalhava como secretária executiva bilíngue, começou a ter lapsos de memória aos 58 anos. Esquecer o ferro ligado e não conseguir mais dobrar o lençol passaram a ser parte de sua rotina. Dois anos depois, recebeu o diagnóstico final: estava com Alzheimer precoce. “Foi melhor saber do resultado do que achar que eu estava doida. Quando olham pra mim, falam ‘você está tão bem, tão linda’, acham que não tenho nada. Uma ferida na pele, todo mundo vê. Se pudessem abrir minha cabeça e colocar um acrílico, iam ver meu cérebro murchando”, diz Celia.

O Alzheimer, tema central desta série de reportagens, é uma doença neurodegenerativa que pode se iniciar de forma precoce, antes dos 65 anos, ou tardia, após esta idade. A principal característica é a perda de memória, que começa com prejuízos em atividades do dia a dia mais complexas, como mexer com finanças, e que evolui progressivamente, causando dificuldades para realizar atividades simples como trocar de roupa. Seu nível mais agudo acomete funções básicas como comer e falar. De acordo com o Ministério da Saúde, a Doença de Alzheimer (DA) afeta 11,5% dos brasileiros com 65 anos ou mais. “O Alzheimer precoce é um tipo mais dramático e tem um curso mais raro, porque se manifesta antes dos 65 anos, é muito mais rápido e é hereditário”, explica Marcos Vasconcelos Pais, psiquiatra e pesquisador do Laboratório de Neurociências (LIM-27) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
Pessoas diagnosticadas com Alzheimer precoce afirmam que a pandemia teve papel crucial para o progresso da doença. A necessidade de isolamento social reduziu as possibilidades de atividades físicas, sociais e culturais, e trouxe a sensação de que é um tempo irrecuperável. Celia conta que parou de escrever seus textos para redes sociais, passou a ter mais dificuldade para ler e reduziu quase que por completo as caminhadas diárias à praia. Também perdeu o contato com parentes e amigos que frequentavam sua casa, onde mora com o marido. Ficou mais triste. “Às vezes vou até a praia, pego a água numa garrafa e tomo banho de mar aqui mesmo no jardim. Água salgada só de lágrimas não adianta. É barra, tudo foi cortado. Ainda não conheci meu netinho de 8 meses que mora em São Paulo”.

Aos 39 anos, Jacyra Aria do Nascimento, mãe de 3 filhos e moradora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, compartilha de opinião semelhante. Ela acredita que a falta de convívio com os sobrinhos e com a mãe, imposta pela pandemia, contribuiu para sua piora e de seu estado depressivo. Há cerca de um ano e meio, ela parou de fazer contas, decorar letras de músicas e começou a se perder na rua. Embora ainda não tenha um diagnóstico fechado, os médicos desconfiam que esteja com Alzheimer. “Perdi a memória recente. É como se fosse um embaçado na cabeça, como se tivesse uma nuvem na lembrança”, conta Jacyra. Hoje, ela tem dificuldades para caminhar, escrever e tomar banho. “Por eu ser jovem, as pessoas não querem acreditar que eu estou doente, querem que eu volte a ser o que era antes. É um castigo antes do tempo”.
Alzheimer: pesquisa da UFRJ traz esperanças
Paraibana da cidade de Patos, Jucicleide Calvalcante Leite, de 48 anos, foi diagnosticada há cerca de quatro anos. “Eu era professora da rede municipal. Sempre fui muito perfeccionista. Percebi, dentro da sala de aula, que estava acontecendo algo estranho comigo. Comecei a esquecer muita coisa, não reconheci palavras, teve um dia que dei uma aula do 8º ano na turma do 9º”, relembra ela, que foi afastada da escola. Desde então, optou por uma vida reclusa. Raramente sai à rua, pois sente vergonha de encontrar pessoas e não reconhecê-las ou de falar algo que vai se arrepender depois. A pandemia diminuiu drasticamente o pouco de vida social que ainda tinha: as caminhadas com o marido e as idas à igreja e a restaurantes. “Passei a ter mais problemas ligados à depressão. Também percebi uma piora da minha memória, dificuldade de raciocínio e de compreensão”, resume ela, que é mãe de duas filhas.

A perda de memória recente, descrita por Celia, Jacyra e Jucicleide, ocorre porque as sinapses, que são os pontos de contato entre os neurônios, estão prejudicadas. Para que o cérebro trabalhe de maneira adequada e a memória seja consolidada é necessário haver comunicação entre os neurônios, que se dá justamente através dessas sinapses. Cientistas descobriram que em casos de Alzheimer, a síntese de novas proteínas no cérebro, especificamente nas sinapses, está comprometida, o que afeta todo esse funcionamento. “No início da doença, uma pessoa com Alzheimer não consegue gravar uma informação ou aprender coisas novas, mas consegue lembrar de situações de um passado distante. Isso acontece porque quando aquela memória foi consolidada a pessoa não tinha Alzheimer. Ao desenvolver a doença, as novas memórias, que deveriam ser fixadas, não são mais. É como se elas fossem se evaporando”, explica Sergio Ferreira, professor dos institutos de Biofísica e de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Em estudo publicado em fevereiro de 2021 na revista científica Science Signaling, Ferreira e outros pesquisadores da UFRJ e da Universidade de Nova York, nos EUA, demonstraram que o composto sintético ISRIB, desenvolvido há oito anos por cientistas da Universidade da Califórnia, é capaz de recuperar a memória em camundongos. A substância, que aumenta a síntese proteica, já havia sido testada para outras doenças, mas nunca para restaurar a memória perdida decorrente do Alzheimer. A descoberta aponta um rumo inédito para a ciência.
“Testamos esse composto e verificamos que ele aumenta a síntese de proteínas no cérebro de camundongos e quase que milagrosamente recupera a memória. Pela primeira vez, se considera que a estratégia de mexer na síntese de proteínas no cérebro possa ser uma terapia para Alzheimer”, revela Ferreira.
Ele conta que o interesse pelo tema veio de uma questão familiar. Em 1993, quando estava iniciando suas pesquisas sobre a Alzheimer, seu pai foi diagnosticado. A situação o deixou incomodado e, por alguns anos, resolveu se afastar do tema. No final da década de 1990, com o pai ainda vivo, ele retomou as pesquisas com estudantes de doutorado. Hoje, é referência nos estudos de Alzheimer no país.
“Já me peguei pensando: pena que naquela época não havia nenhuma esperança. Hoje, muitos resultados dos nossos grupos de pesquisa já apontam direções de possíveis tratamentos”, sintetiza.