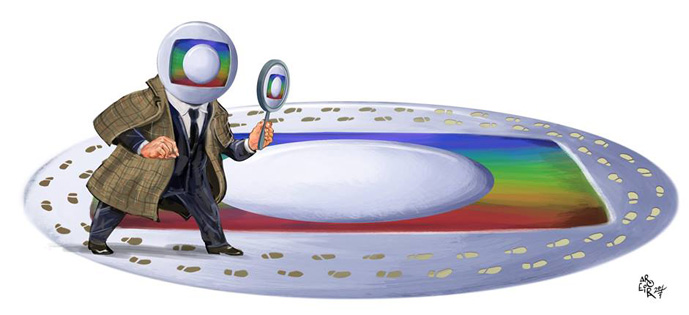Continuando a fugir da guerra que se instaurara, decidimos pular a catraca do Cine Ipiranga e entrar no meio de uma sessão em uma sala quase vazia para nos escondermos agachados no escuro atrás da última fileira. Mas não demora muito tempo para sentir um cano frio me pressionando a nuca.
Por Fernando Castilho, compartilhado de Construir Resistência
Estamos saindo em grande número em passeata desde a Cidade Universitária até a Praça Fernando Costa onde haverá uma concentração e um ato público contra a ditadura. Uma das razões para o protesto é a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado nas dependências do DOI-Codi em 1975. Simularam um suicídio por enforcamento.
Meu pai já tinha me informado que a repressão estaria na praça aguardando os estudantes e que seria violenta. Que eu tomasse muito cuidado.
Ao chegarmos, vejo que ele tinha razão. Há um grande contingente de policiais militares e soldados tomando toda a praça. Começam os lançamentos de bombas de gás lacrimogêneo, tiros e cavalaria perseguindo todos que se encontram no local. Há muita fumaça, barulho e palavras de ordem que não consigo entender. O lugar vira um inferno.
Preciso correr. Atrás de mim, um soldado tenta me alcançar com um chicote e cada vez que a ponta bate no chão, faíscas saem dela. Será um chicote elétrico? Mas nesta época não existem ainda baterias para isso. Provavelmente a ponta é metálica, mas não há tempo para verificar isso.
Logo uma colega da faculdade, a Anne Marie, se junta a mim. Após uns cem metros. o soldado desiste de nós e prefere perseguir outra estudante.
Continuando a fugir da guerra que se instaurara, decidimos pular a catraca do Cine Ipiranga e entrar no meio de uma sessão em uma sala quase vazia para nos escondermos agachados no escuro atrás da última fileira. Mas não demora muito tempo para sentir um cano frio me pressionando a nuca.
Levados, Anne Marie e eu, pelo soldado com arma na mão para o camburão, sentamo-nos junto com mais quatro homens que reclamam por terem sido presos. Os bancos inteiriços são dispostos lateralmente na viatura, de forma que três dos homens se sentam à nossa frente e um ao nosso lado. Se dizem operários que passavam pelo local e não sabiam o que estava acontecendo.
À minha frente o quarto homem, um rapaz com cara de estudante me faz sinais estranhos com os olhos que viram na direção dos que estão ao seu lado. Demoro um pouco a perceber que ele está querendo me dizer para desconfiar e ficar quieto. Os “operários” dizem que não sabem o que está acontecendo, que estavam voltando do trabalho e que os militares safados estão abusando de todo mundo. Percebo agora que eles querem obter informações e me calo.
A viatura roda conosco durante mais de uma hora correndo muito com a sirena ligada e fazendo curvas fechadas que assustam e nos desequilibram. Os pneus “cantam” o tempo todo. O ar começa a ficar rarefeito e o calor se torna insuportável, mas, enquanto Anne Marie e eu estamos apavorados, os dois homens à frente parecem familiarizados com o procedimento.
Permanecemos eu e minha colega o tempo todo calados enquanto os três tentam puxar conversa e fazer com que falemos alguma coisa.
O suor escorre a cântaros, não só pelo calor infernal, mas também pelo medo do que podem fazer conosco quando a corrida terminar.
Enfim o camburão para.
Soldados do lado de fora abrem a porta traseira e formam duas fileiras de homens voltadas de frente uma para a outra. Em seguida nos mandam descer.
Os três “operários” descem primeiro, percorrem o corredor sem serem molestados e desaparecem. Em seguida, eu, Anne Marie e o estudante descemos. Teremos que passar pelo meio das fileiras de soldados. É o chamado “corredor polonês”. Passamos correndo, mas apanhando muito daqueles cassetetes.
Quando, enfim, paramos, vemos que ninguém parece nos seguir.
Ao olhar em volta reconheço o prédio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Achamos melhor nos separarmos e nos despedirmos. Em seguida tomo um ônibus para casa.
Este relato, extraído de meu livro Um Humano Num Pálido Ponto Azul, editora Mondrongo, de forma alguma, tem a pretensão de se equivaler a outros muito mais dolorosos, como o recente de Paulo Coelho que sofreu bárbara tortura e escapou por pouco da morte, mas sim de contribuir para ilustrar que a ditadura militar no Brasil, fruto de um golpe de estado, nunca foi um movimento, nem foi fruto de anseio popular como o general Braga Netto afirmou em sua última ordem do dia de 31 de março de 2022.
Não, general, João Goulart, à época do golpe, tinha, segundo pesquisa Ibope da época, cerca de 70% de aprovação da população, portanto o golpe não foi anseio popular, mas sim, do Departamento de Estado norte-americano. E o senhor sabe disso.
Aliás, se a democracia não fosse restaurada, quem garante que o senhor seria hoje membro de um governo eleito – mesmo que de maneira fraudulenta – e estaria à vontade para falar asneiras e ameaçar mais um golpe, caso seu chefe não vença as eleições de 2022?
A história está registrada e não vai ser a fala de um general saudoso da ditadura que vai modificá-la.
Meu amigo de faculdade, Cláudio, que também estava presente nesse dia, me alerta que o ano era 1977, portanto dois anos após o assassinato de Vladimir Herzog.
Foto: Arquivo Nacional

Fernando Castilho é arquiteto, professor e escritor. Criador do blog Análise e Opinião