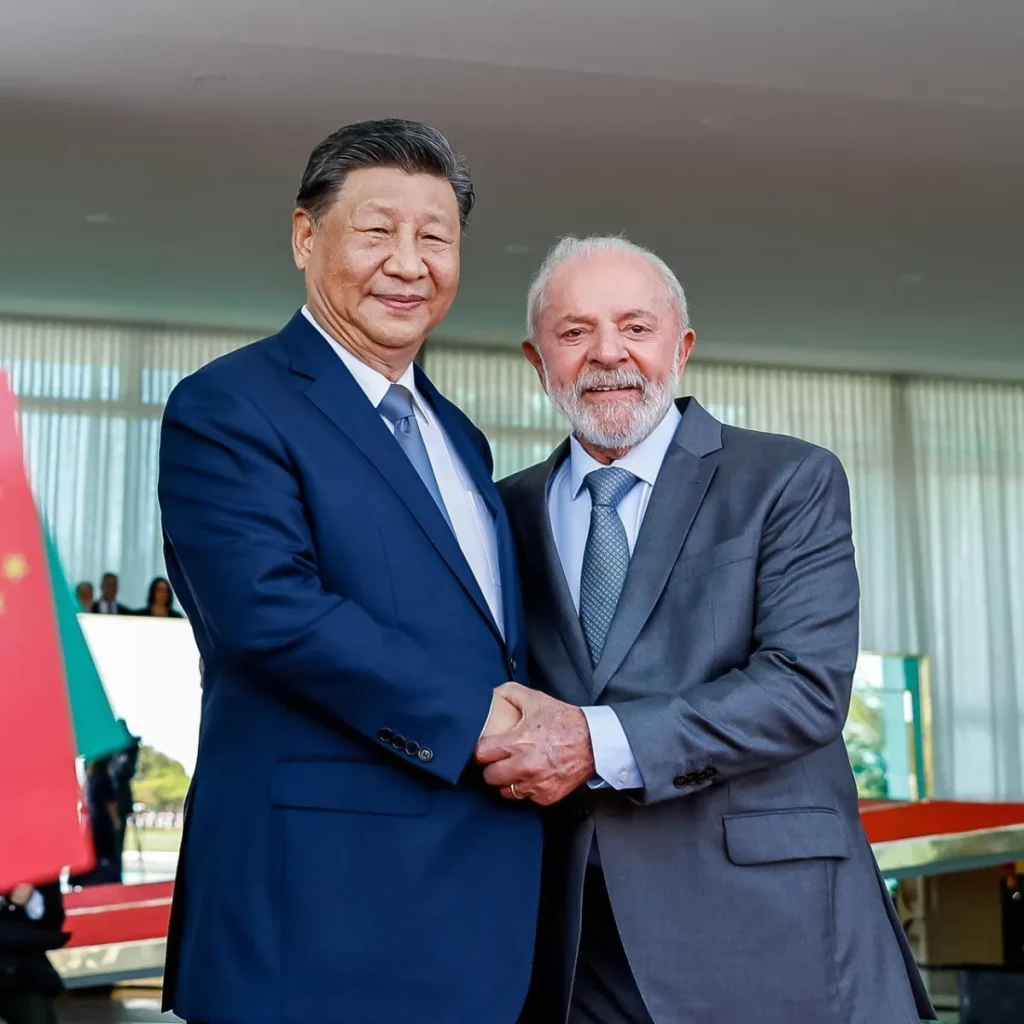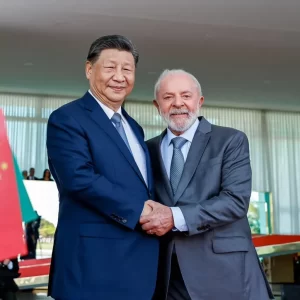Por Joana Suarez, compartilhado de Projeto Colabora –
A dificuldade de lidar com a finitude leva os humanos a apostar em suportes artificiais de vida, à espera de um “milagre de UTI”; a existência, muitas vezes, perde a dignidade e o sentido
Era um momento precioso de despedida. O barulho dos equipamentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram silenciados. A atenção deveria ser apenas em Luiz Carlos, sem a tensão do marcador cardiológico. Uma playlist, com as músicas preferidas dele, tocava em uma caixinha de som ao fundo. Oldimeia deitou a cabeça no peito do marido, já sem o tubo respiratório, e ficou escutando o coração dele, ali no leito hospitalar, como costumava fazer na cama do casal. Permaneceu concentrada naquelas batidas por minutos, inesquecíveis.
Os dois filhos também estavam lá, encontrando forças nas boas lembranças que ficariam dos 60 anos vividos pelo pai, e uma delas seria esse fim digno. A respiração dele foi enfraquecendo, uma lágrima escorreu discretamente pelos olhos cerrados de Luiz Carlos Gomes da Costa. Morreu.
O primogênito iniciou a oração do Pai Nosso, acompanhado pela irmã e pela mãe. Algum tempo depois, sem desespero, os três deixaram a UTI, levando Luiz nos seus corações. “Por mais sofrido, por mais doído que foi, ele teve um fim lindo, merecido”, disse Oldimeia Vieira de Andrade Costa, 54, dias após o enterro. Sempre que escutar as músicas tocadas naquela UTI lembrará com carinho da partida de Luiz, que, nas palavras dela, foi “quase de novela”.
Mas, até que chegasse nesse final, Oldimeia teve que se manter firme para atender o último desejo do homem que amava — e que significava ser fiel a uma parceria de 33 anos. Ela não deixaria que ninguém decidisse por eles o que era “melhor” sem levar em conta a opinião do seu marido, abalado por uma doença incurável, degenerativa e em progresso rápido. “Nem que levasse Luiz Carlos debaixo do braço, eu não admitiria que fizessem alguma coisa que ele não queria”, garantiu ela.
O diagnóstico
Um homem ativo, independente, atencioso com a saúde, com a alimentação e com o corpo. Assim era o empresário Luiz Carlos até os 60 anos. Em dezembro de 2019, após dores e dificuldades para executar movimentos simples, ele recebeu o diagnóstico da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – que afeta o sistema nervoso, causando paralisia motora irreversível. Chegou ao mês de maio já sem mexer quase nada do corpo e sem falar. Comunicava-se com Oldimeia pelo olhar.
Todos em casa percebiam a evolução rápida da doença. Luiz já tinha pesquisado tudo sobre ELA e transmitia para Oldimeia que não queria ficar na cama durante anos, mexendo apenas os olhos. Essa condição, para ele, não seria estar vivo. Luiz passou dez meses dependendo da mulher para praticamente tudo. “Mas eu não conseguia tirar aquela dor dele”, lamentou ela, enquanto viu o marido indo embora – “todo dia um pouquinho” – com a perda dos movimentos.
Nos meses finais, as tosses sufocavam Luiz e duravam em torno de 40 minutos, duas vezes ao dia. Até que a frequência aumentou. No princípio de outubro, dois dias depois do aniversário dele, resolveram chamar a ambulância já de madrugada. Oldimeia avisou aos paramédicos que o marido não queria ser traqueostomizado – procedimento em que se faz uma abertura na traqueia para manter a respiração artificial por tempo indeterminado.
A traqueostomia poderia resultar em um prolongamento que Luiz já havia deixado claro que não era o seu desejo, pois seguiria paralisado. Não estaria esticando a vida, mas a morte.
O casal chorava quase todos os dias. Quando a doença começou a evoluir, uma médica domiciliar mostrou para eles pessoas que viviam anos com ELA. Apontando com o pé, Luiz perguntava se eles comiam, se faziam xixi, cocô… — “não, não saiam da cama”, ouvia. E indicava as letras para Oldimeia escrever: “vale a pena viver assim?”.
Mas ao chegar no pronto-socorro de uma unidade hospitalar privada, em Belo Horizonte, foi imediatamente intubado . A família só foi informada posteriormente. “Situação difícil a dele”, avisou o plantonista*, 40 minutos após a entrada de Luiz no corredor de terapia intensiva.
O prognóstico ruim não mudaria, a doença continuaria progredindo, mas ele foi intubado. Normalmente, pode-se permanecer com o tubo por até três semanas, para não gerar infecções. E aí surge a opção da traqueostomia, que foi avaliada pelo profissional dessa unidade como “obrigatória” no plantão dele.
Decisão deve ser compartilhada
O corpo humano é feito para estar em movimento e, ao se prolongar o processo de morte, causamos danos, como dor e desconforto, explica a médica paliativista Sarah Ananda Gomes. “Com a traqueostomia, a pessoa com ELA pode ficar viva muito tempo, mas se os órgãos vão aos poucos entrando em falência, começa a abrir feridas na pele”. Por isso, ela defende que o suporte avançado de vida seja usado com muito critério.
Em casos como esse, prega a médica, um caminho adequado para decidir o que fazer seria levar em consideração o que importa para a família e o paciente, junto com o conhecimento técnico-científico e discutindo em equipe. A perspectiva dela é de uma medicina que se preocupa com o ser humano por trás (ou à frente) da doença. Sarah é presidente da Sociedade Mineira de Tanatologia e Cuidados Paliativos (Sotamig) e foi secretária da diretoria regional Sudeste da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP).
Um médico não pode cuidar do paciente da maneira que ele, profissional, gostaria de ser tratado, pois cada um tem sua história de vida. “Tenho que chegar a uma decisão compartilhada, sem jogar (o peso) para a família de forma nenhuma”, sustenta Sarah, ressaltando que a fase terminal é muito delicada, há sofrimentos pessoal, familiar, espiritual e social.
Além da dor por estar perdendo um companheiro de três décadas, Oldimeia precisou enfrentar embates desgastantes com o médico do plantão nos derradeiros dias de Luiz. “Volte com seu marido para casa , mesmo que ele fique nervoso por você não ter feito a vontade dele”, orientou.”Aí, quando ele tiver uma pneumonia, é só não tratar ”.
Para a filha do casal, Bianca Andrade Costa, 21, que estava sempre por perto, esse médico insistia na postura pelo fato de Luiz ter sido levado para o hospital, mesmo não querendo fazer a traqueostomia. “Mas a gente não sabia que seria assim…”. Uma unidade hospitalar, no entanto, existe para cuidar e ajudar o doente. “Não é para ficar sofrendo em casa, é para ficar confortável”, destaca a paliativista Sarah.
Aquele plantonista que atendeu Luiz tinha uma concepção diferente, mas não incomum. São muitos os que focam nos procedimentos, não no acolhimento. A doutrina de um sistema de saúde que busca “cuidar sempre e curar às vezes” parece que ficou no passado, pois hoje está mais para “solucionar” doenças.
O paradigma da cura veio forte principalmente com a tecnologia surgida na mudança de século. Medicamentos e artifícios, úteis para salvar vidas em enfermidades curáveis, passaram a ser usados para evitar que morressem também aqueles com doenças irreversíveis, mesmo em situação terminal.
Era preciso mudar de hospital
Oldimeia teve de ouvir do médico que ela estava matando o marido: “É uma covardia o que você está fazendo, se ele fosse traqueostomizado, poderia viver anos”. Ela contestou: “mas em qual condição?”.
O médico chegou ao ponto de dizer que a vontade de Luiz não seria respeitada nem se ele tivesse registrado em um documento. Outros funcionários da unidade concordavam com Oldimeia, entendiam o direito do paciente, mas era como se nada pudessem fazer. E ela entendeu que precisaria transferir o marido de hospital.
“Existem outras possibilidades de salvar alguém e pra mim é respeitando a vontade da pessoa”, explicou Oldimeia, que não queria para seu companheiro de vida um fim acompanhado de dor, humilhação e tubos enfiados pelo corpo a contragosto. Ela, então, procurou a advogada Luciana Dadalto, doutora em ciência da saúde e especialista nas questões de finitude, para saber se o que estava fazendo era mesmo um crime. Luciana chorou ao desligar o telefone. Oldimeia não estava fazendo nada ilegal. Só teve um entendimento “de que a vida pertence àquele sujeito”, algo muito difícil na nossa cultura, avalia Luciana.
A insistência em procedimentos invasivos que não trarão benefícios perante prognósticos ruins, mantendo-se suporte artificial, tem nome: distanásia. É um termo pouco ouvido na sociedade, apesar de ser prática corriqueira nos hospitais brasileiros, mesmo que refutada na teoria.
Os documentos médicos e religiosos que proíbem a eutanásia — mais conhecida — também vedam o excesso terapêutico. Condena-se a abreviação da vida e o prolongamento inútil e doloroso. A primeira, por ser crime em muitos países é, em tese, mais respeitada. Já a distanásia acessa um lugar que a maioria das pessoas não dá conta de falar.
São duas condutas diferentes: “Quando eu pratico eutanásia o que quero é abreviar a vida do paciente e quando suspendo a distanásia o que quero é deixar o curso natural da doença”, ensina Luciana. E no meio do caminho há a ortotanásia (palavra que significa morte correta), permitindo que o ciclo da vida seja soberano diante de uma doença incurável e progressiva, sem adiantar nem adiar.
Foto: “Existem outras possibilidades de salvar alguém e pra mim é respeitando a vontade da pessoa”, prega Oldimeia. Foto de Flavio Tavares