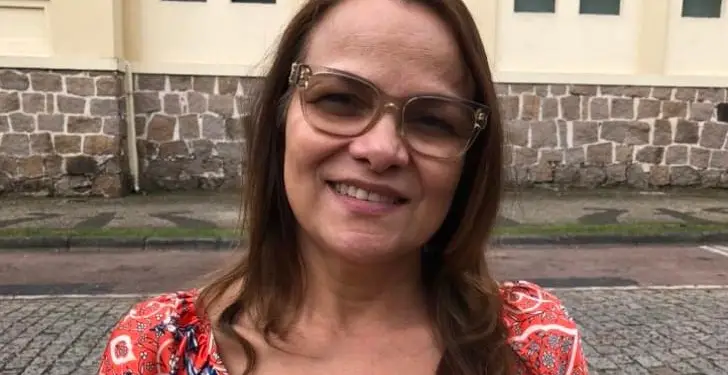Por Claudio Lovato Filho, jornalista e escritor
“Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências” (Pablo Neruda)
Eu finalmente me encontrei com ele no bar Viramundo, no Cruzeiro Velho, em Brasília, depois de exatos cinco meses e quatorze dias de procura.
Cinco cidades, três unidades da Federação; avião, ônibus, até trem. Não foi fácil, mas eu queria muito escrever a biografia dele.
Um ex-colega de jornal que morava (e ainda mora) em Brasília me ajudou a encontrá-lo, e, dando sequência às suas demonstrações de solidariedade e camaradagem, fez questão de me levar de carro até o bar no dia do encontro.
Ele já estava lá quando cheguei. Vestia camisa social branca de mangas curtas, bermuda de linho e sandálias de couro. À frente dele, na mesa, uma cerveja, um copo, um maço de cigarros e o isqueiro, mas não havia cinzeiro, porque era proibido fumar ali.
Parecia em boa forma. O cabelo estava totalmente branco, mas era farto, uma cabeleira desalinhada que lhe caía bem. Rosto bronzeado de sol. Algum sobrepeso, mas longe da obesidade. Aparentava uma idade um pouco inferior aos seus 55 anos. A voz era firme, mas carregava aquelas notas de melancolia que eu imaginava (sabia) por que estavam ali.
José César Oliveira da Silva.
Zé César.
Eu me aproximei, mas antes mesmo que eu pudesse chamá-lo pelo nome ele fez sinal para que eu me sentasse. Perguntou o que eu queria beber. Respondi que o mesmo que ele, e então ele pediu mais um copo e outra cerveja à funcionária do bar.
“Você é mais novo do que aparenta na foto do WhatsApp”, ele disse.
Sorri, a título de resposta ao comentário. Ele sorriu de volta.
Quanto sofrimento uma pessoa pode enfrentar sem desaprender a sorrir?
O assassinato do pai; a morte da mãe, levada por um câncer dois anos depois. Tudo isso quando ele ainda não tinha 30 anos. Em seguida, a fratura que o fez abandonar a carreira quando ainda tinha pelo menos uns quatro ou cinco anos de futebol pela frente. Então, a tentativa frustrada de virar técnico; a vida financeira indo aos trancos e barrancos; o vício da bebiba e da jogatina, e depois as drogas; a separação da mulher, após muitas idas e vindas, e o gradativo afastamento dos dois filhos – um casal –, até ficarem sem contato por completo. Por fim, os anos de prisão.
Os três botões abertos da camisa permitiam ver o terço que ele usava no pescoço. Quando já estávamos na segunda cerveja, perguntei se ele praticava alguma religião.
“Sou cada vez mais cético”, ele disse. “Mas ainda não consegui deixar de acreditar em Deus”, acrescentou com o sorisso aberto que lhe era característico.
E prosseguiu: “As pessoas passam a vida inteira tentando ficar a salvo, mas isso não existe. Ninguém está a salvo. Religião, estudo, dinheiro, terapia, posição social, nada disso é garantia de coisa nenhuma. E pode rezar à vontade, meu amigo”.
Perguntei como foram foram aqueles primeiros anos após a morte dos pais.
“Você tem que torcer para ter o dobro de força que imaginava ter”, ele disse. Contou alguns episódios envolvendo os velhos, sem se aprofundar demais. Os olhos molhados ao falar da mãe. A ferida que nunca vai fechar. O futebol como elo entre ele o pai. As primeiras idas ao estádio. O apoio do pai quando decidiu que iria tentar a carreira de jogador profissional.
Deixei que ele falasse sem interompê-lo em nenhum momento. Então, sem que eu pedisse, ele me relatou a história da primeira vez em que foi parar na delegacia.
Ele estava com “amigos” [aspas sinalizadas por ele] num apartamento numa cidade do interior de São Paulo para onde havia se mudado a convite de um primo, que lhe deu emprego na rede de ferragens da qual era dono. Isso foi logo depois que a mulher de Zé César o abandonou. Naquela noite, estavam no apartamento de um amigo de um ex-companheiro dele em um dos clubes pelos quais atuou. Estavam bebendo e cheirando pó. A festa ia a todo vapor quando a polícia invadiu o lugar. O dono do apartamento estava sendo vigiado há meses. Foram todos para a delegacia. Quando chegou sua vez de ser ouvido foi levado, para uma sala no fundo do corredor, no alto da qual havia uma plaquinha preta com letras brancas: “Delegado”.
O policial que o havia conduzido até ali pediu que ele esperasse onde estava, bateu na porta e a abriu sem esperar resposta. Lá de dentro veio a pergunta numa voz grave e rouca.
“Que foi?”
“Doutor, estou com um dos caras que foi pego lá no apartamento”.
“Tá, e daí?”
“Bom, doutor, é que é o Zé César…”
Um breve silêncio.
“Você está falando do Zé César, do…”
“É, doutor. Ele mesmo”.
“Traz ele aqui”.
Ele entrou. Estava em estado lastimável: um blusão sujo e gasto, com buracos na frente e sob um dos braços, uma calça jeans que há muito tempo não era lavada e mocassins estropiados. Cheirava mal.
O delegado fez sinal para que o inspetor deixasse a sala.
“Senta aí”, ordenou a Zé César, e apontou para a outra única cadeira que havia na sala além da sua própria.
Ele se sentou e olhou para o lado, para a pequena janela no alto da parede.
“O que é que houve?”, o delegado perguntou.
“Vacilei, delegado”.
Disse isso e teve vontade de chorar, mas conseguiu se segurar.
“Eu vi você jogar muitas vezes”, disse o policial. “Eu era seu fã de carteirinha. Tenho autógrafo seu numa camisa e numa foto”.
Zé César permaneceu calado. Tentou sorrir, mas a tentativa se transformou numa careta, numa máscara sombria.
“Meu pai foi seu fã. Talvez tenha sido o maior fã que você teve na vida. Ele dizia que você era um centroavante que jogava como um centroavante de verdade devia jogar”.
Para Zé César, aquilo tudo parecia confuso. Não sabia se estava acontecendo de verdade, se era real.
“Nós vamos combinar o seguinte”, o tira então lhe disse. “Você vai procurar ajuda. Você vai procurar ajuda e vai aparecer aqui uma vez por semana, toda sexta-feira, até as coisas melhorarem. Depois, vai aparecer a cada quinze dias, e depois uma vez por mês. Eu vou te indicar um lugar que você vai procurar amanhã. Amanhã de manhã. Cedo. Quem coordena o negócio é uma pessoa amiga minha. É particular, mas você não vai ter que pagar nada. E aí? O que você me diz?”
Zé César, o homem que um dia foi o herói do menino que se tornou policial, ergueu a cabeça com um sentimento que misturava humilhação e gratidão tatuado na cara.
“Topa ou não topa?”
Ele balançou a cabeça para cima e para baixo.
“Topo”.
Os dois homens se encararam em silêncio.
“O seu pai mora aqui?”, ele conseguiu perguntar. “Se ele morar eu gostaria de fazer a ele um agradecimento…”
“Não. Meu pai já morreu. Faz tempo. Veja só como são as coisas. Morreu um mês depois de o nosso time ser campeão nacional pela primeira vez. Com dois gols seus. Quando o jogo acabou, ele me disse: ‘Agora eu já posso morrer!’. Pois é. Quantas vezes a gente pode dizer isso ao longo da vida? Acho que ele foi embora feliz. Espero que sim”.
O policial olhou para o relógio de pulso. O ex-jogador mirava o chão.
“Aurélio, dá um pulo aqui”, o delegado disse ao telefone.
O inspetor chegou em segundos.
“Entra e fecha a porta. Vamos virar um jogo aqui”.
Foi a primeira história, em detalhes, que ouvi dele.
“Deu certo por um tempo”, ele me disse, referindo-se à proposta do delegado.
Perguntei se ele se sentia solitário.
“Não. Não me sinto. Tenho uma companheira maravilhosa, enteados, amigos que fiz aqui e outros das antigas, irmãos de coração com quem mantenho contato”.
Voltamos a nos encontrar várias vezes depois daquela primeira conversa – no Cruzeiro Velho, no sítio de amigos dele em Valparaíso de Goiás, e, uma vez, consegui que ele fosse me visitar no Rio. Ficou hospedado na minha casa e fomos assistir a um jogo no Maracanã, onde ele viveu os melhores momentos da carreira.
“Assim é a vida”, ele me disse quando estávamos descendo a rampa do estádio naquele dia. “Tem que seguir. Vale a pena esperar para ver o que tem mais à frente. Esse o segredo. É o que tenho feito”.
No dia seguinte, na rodoviária, ao nos despedirmos, ele apertou a minha mão e disse: “Só o que não pode acontecer é a opção pela infelicidade, meu amigo. Essa não vale”.
Falou isso, abriu um sorriso e foi entrando no ônibus que o levaria de volta a Brasília, naquela que seria uma viagem longa e tranquila. Antes de subir a escada para se acomodar no assento marcado, ele se virou para mim e, por fim, disse: “Viver é muito bom”.