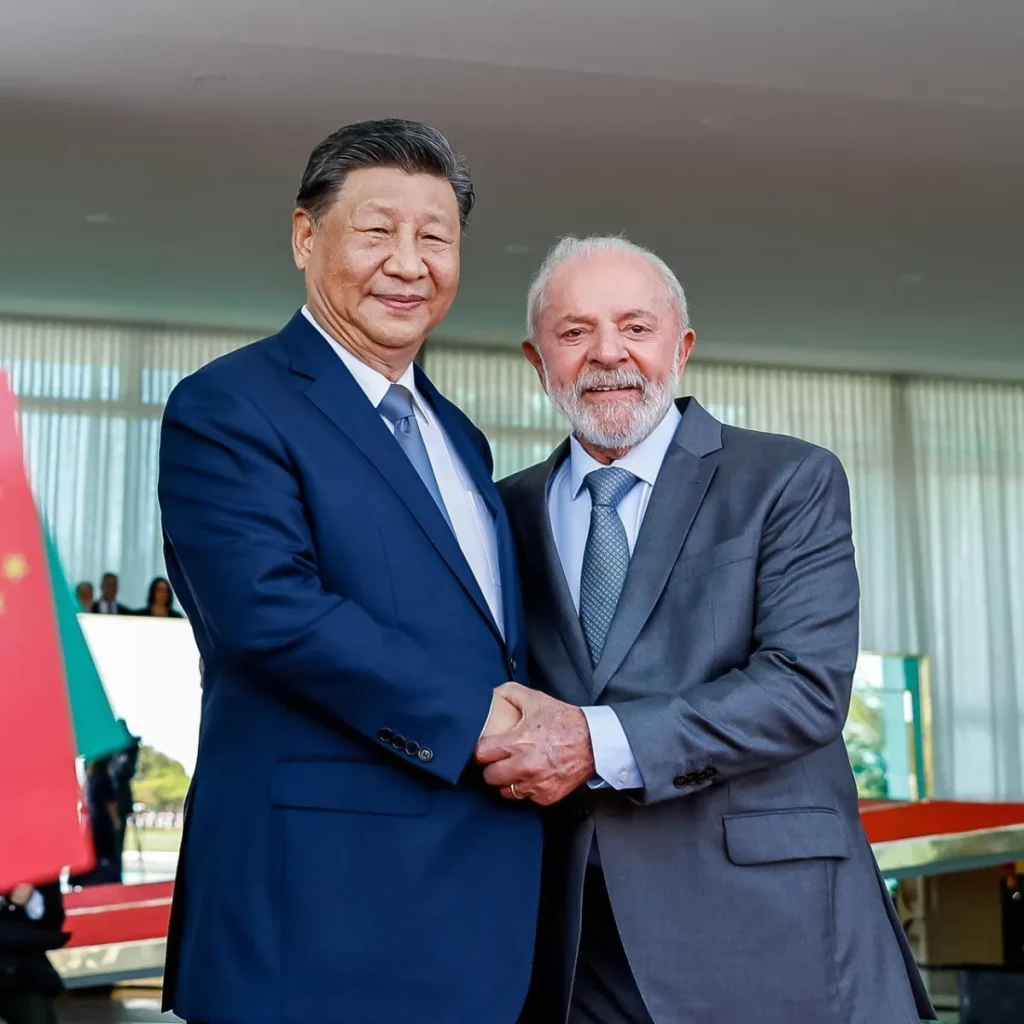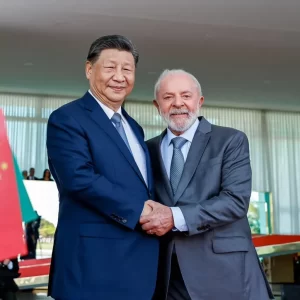Por José Geraldo Couto, publicado em Outras Palavras –
A vida invisível, de Karim Aïnouz, é delicado melodrama: nos anos 40, duas irmãs, anuladas pelo machismo, são separadas; amam-se com intensidade e, assombradas pelo remorso, tentam construir uma existência imaginária para a outra

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema
Quase no meio da maratona da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, alguns títulos se impõem como obrigatórios. Entre eles, o sul-coreano Parasita, de Bong Joon-ho, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, e o brasileiro A vida invisível, de Karim Aïnouz, vencedor da seção Um certo olhar no mesmo festival e representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.
Curiosamente, ambos falam de família, mas de perspectivas radicalmente distintas e originais. O brasileiro só teve uma sessão de gala na Mostra, mas estreia nos cinemas dia 21 de novembro. O sul-coreano já teve duas sessões lotadas e deverá ter mais uma (sem contar a provável repescagem) no dia 27.
A vida invisível é, no fundo, um melodrama clássico, mas nada acadêmico e muito pouco convencional, graças à delicadeza do toque do diretor e a uma série de deslocamentos sutis. Para começar, é uma intensa história de amor, mas não entre um casal, e sim entre duas irmãs, Eurídice (Carol Duarte) e Guida Gusmão (Julia Stockler), filhas de um severo padeiro português, criadas no Rio de Janeiro de meados do século XX.
Como nas radionovelas da época (evocadas discretamente na trilha sonora), haverá na trajetória das irmãs separações, conflitos, remorsos, mal-entendidos. E são os mal-entendidos, as falsas realidades, que assombrarão o dia a dia dessas mulheres ao longo das décadas.
Nessa construção, o título do filme – tirado do romance que o inspirou, A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha – ganha mais de um significado: numa chave mais geral, indica a invisibilidade da mulher anulada pelo pai e pelo marido, regra ainda vigente numa sociedade marcadamente machista; de modo mais específico, alude à vida que cada uma das irmãs leva e que a outra ignora. Cada uma delas constrói uma existência imaginária para a irmã.
Muito se falou sobre a extraordinária atuação de Fernanda Montenegro, roubando a cena nos dez minutos finais de filme, e esse muito ainda foi pouco. Nem o mais insensível dos milicianos sairia do cinema com os olhos enxutos.
Parasita
O filme de Bong Joon-ho impressiona pela desenvoltura com que trafega da crônica social à comédia de humor negro e desta para o que se poderia chamar de tragédia de erros. Desde o início, em cenas breves e incisivas, traça-se um quadro de precariedade social, instabilidade econômica e crise de valores morais. Tudo isso sem discurso, só mostrando o dia a dia de uma família que mora numa casa-porão abaixo do nível da rua e ganha a vida montando caixas de papelão para uma pizzaria.
Logo surge a oportunidade de sair literalmente do buraco: o rapaz da família (Choi Woo-sik) consegue emprego como professor particular de inglês da filha adolescente de um abastado executivo, e isso será uma cunha para a família pobre se infiltrar na casa rica.
Não convém antecipar as surpresas e artimanhas da narrativa, mas o fato é que, também aqui, a construção de identidades imaginárias adquire a mesma espessura da “realidade”. Tudo é teatro, encenação, e o filme parece se encaminhar para uma farsa corrosiva e cínica, um pouco à maneira dos primeiros filmes dos irmãos Cohen, mas a certa altura as coisas ganham uma densidade inesperada e excruciante. Parasita, em suma, não é uma diversão inconsequente.
Outros destaques
Breve miragem de sol, de Eryk Rocha, cola no rosto e no corpo de um taxista (Fabricio Boliveira) para conduzir o espectador numa viagem noturna pelas ruas de um Rio de Janeiro conflagrado pela violência e pela anomia social. Equivale quase a uma descida aos infernos, em que o caos da cidade invade a tela sobretudo pelo som estridente e cacofônico do que está fora do quadro e se reflete no olhar extraordinário do protagonista. A todo momento, o espectador tem o impulso de dizer “Para esse táxi que eu quero descer”. Mas nesse caso seria preciso descer da cidade, do país, quiçá do mundo.
O projecionista, de Abel Ferrara, é um documentário sobre a singular história do cipriota Nicolas Nicolaou, que chegou a Nova York como um menino pobre nos anos 1960 e acabou gerenciando e depois comprando uma porção de cinemas na cidade. Com verve e humor, e recheado com farto material de arquivo, o filme, conduzido pelo próprio Nicolaou, fala sobre as transformações do mercado exibidor nas últimas décadas do século 20, das salas de bairro aos multiplexes, mostrando relações insuspeitadas entre salas pornô, nichos de filmes “de arte” e cinemas de lançamentos.
Marghe e sua mãe, de Mohsen Makhmalbaf, é outro caso de “filme menor de cineasta maior”. Rodado num vilarejo do sul da Itália, com atores italianos e falado em italiano, retrata personagens à margem, jovens que vivem de pequenos golpes e furtos, entre eles Claudia (Ylenia Galtieri), a mãe da menina Marghe do título. Há resquícios do neorrealismo e da comédia social italiana dos anos 1960, mas como que desfocados pelo olhar estrangeiro e original do diretor iraniano. A relação com o catolicismo e seus mitos é central, mas de uma perspectiva ao mesmo tempo lírica e irônica. Um filme belo e um pouco estranho, ou antes belo porque um pouco estranho.
Carcereiros, de José Eduardo Belmonte, apresenta-se como inspirado no livro homônimo do médico e escritor Drauzio Varella, mas, menos que retratar o cotidiano de agentes carcerários, empenha-se em criar uma narrativa de ação frenética à americana, apesar de contar entre os roteiristas com escritores tarimbados no realismo social, como Marçal Aquino e Fernando Bonassi.
Um presídio sob permanente tensão por causa da rivalidade entre duas facções, e que abriga numa ala especial criminosos de colarinho branco, tem sua rotina abalada pela chegada de um preso estrangeiro acusado de terrorismo. Filmado com ritmo sôfrego, em planos picotados, música enfática, tiros e explosões a granel, tem uma tentativa interessante de confrontar o bangue-bangue sujo da ralé carcerária com a criminalidade limpinha dos engravatados. E ao menos uma fala memorável: num momento de tensão, um dos engravatados diz: “Eu não sou ladrão, não roubei ninguém. Só matei minha mulher”.