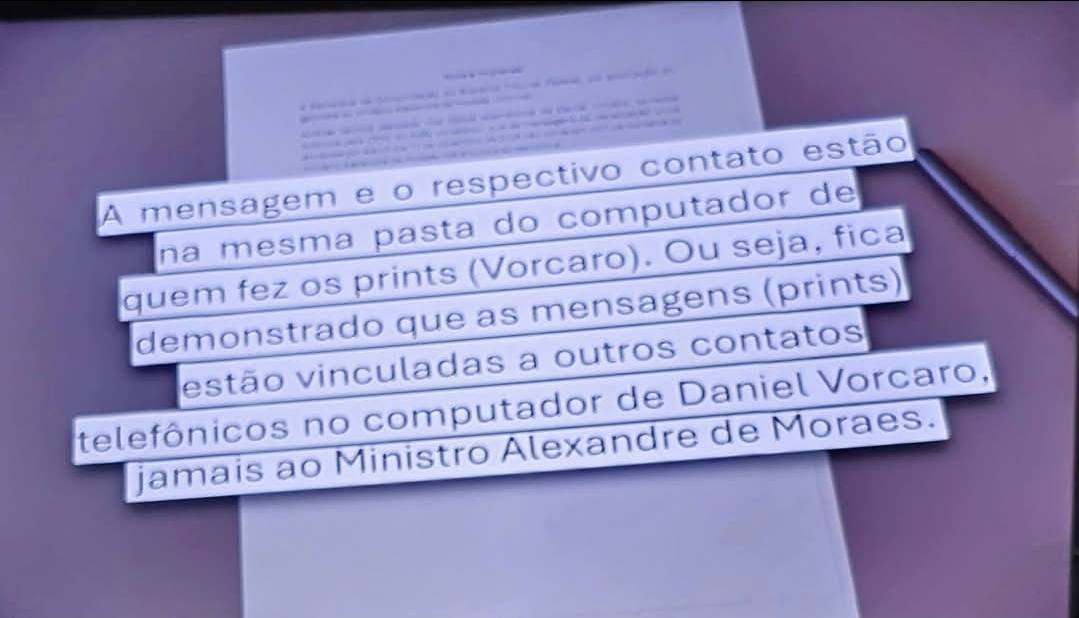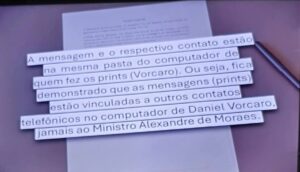Por Brunella Nunes Do Hypeness, publicado no Portal Geledés –
Museus e galerias são geralmente ambientados em um cubo branco. Das paredes ao público, essa é a cor que predomina nos espaços de arte. Em uma parceria, o Museu de Arte de São Paulo(MASP) e o Instituto Tomie Ohtake fazem o oposto ao reunir um enorme acervo de arte onde o povo negro é autor ou retrato exposto.
Na mostra Histórias Afro-Atlânticas, que percorre cinco séculos em 450 obras de 210 artistas, questiona o lugar - literal, figurado e visceral dos negros nas Américas. Os espaços te convidam a inverter papéis e a enxergar de uma vez por todas que ser latino é ter sangue negro fluindo nas veias.
Recentemente, Beyoncé e Jay-Z provocaram o mesmo tipo de debate ao lançar o clipe Apeshit, gravado no parisiense Museu do Louvre, um dos mais relevantes do mundo - se não o mais. O papel e representação dos afrodescendentes em museus são questionados pela dupla e o que temos nessa mostra são algumas respostas.
Na exposição, os afrodescendentes são artistas que assinam as obras e/ou personagens retratados nas mesmas. Tapeçarias, esculturas, instalações e pinturas compõem a enorme coleção. O conjunto apresentado é, em sua maioria, oriundo de coleções diversas, particulares e mais de 40 museus internacionais, como o Metropolitan Museum de Nova York, Museo Nacional de Bellas Artes de Havana (que recomendo muito!) e a National Gallery da Jamaica. Dividida por núcleos, a mostra passa por Mapas e Margens, Cotidianos, Ritos e Ritmos, Retratos, Modernismos Afro-atlânticos e Rotas e Transes: Áfricas, Jamaica e Bahia. No Tomie Ohtake, entram ainda Emancipações e Resistências e Ativismos.
Representatividade, representação e escravidão são três temas colocados em cheque numa das exposições mais importantes que o Brasil terá esse ano, quando a desde sempre atrasada Lei Áurea completa 130 anos. Apesar de ter a maior população negra fora da África, nosso país teima em não aceitar as próprias origens, ferindo a própria pele que o cobre. Entre as cicatrizes, o que sobressai é o mesmo sangue africano, seja nas guerras civis do Rio de Janeiro, no corpo miúdo de quem arde sob o sol do sertão, nos milionários jogadores de futebol, nas maiores feministas do país e em pelo menos 52% da população brasileira.

Era o oceano Atlântico que ligava cerca de 40% dos africanos ao Caribe e ao Brasil, chegando ainda ao Estados Unidos e a Europa. A relação entre as Américas com a África é tema central da mostra, colocando em pauta assuntos ligados a imigração, escravidão, cultura, religião, ancestralidade, heranças e influências. As ilusões europeias do século 17 não escapam da seleção do Masp, que em obras de Albert Eckhout deixam claro o quanto os cenários são, no mínimo, fantasiosos quando se retrata um país escravocrata, que arrasta a violência e a desigualdade racial até hoje. A enorme imagem de ficção fica pequena diante da realidade que os curadores (Adriano Pedrosa, Hélio Menezes, Lilia Moritz Schwarcz, Ayrson Heráclito e Tomás Toledo) minuciosamente fizeram questão de retratar.
Aaron Douglas, que foi um dos primeiros artistas afro-americanos a se destacar no Estados Unidos e assina a obra Into Bondage (Em Servidão), de 1936. O muralista afro-americano John Biggers é autor de uma das minhas favoritas na mostra: Market Woman, Ghana (Mulheres do Mercado, Gana). Não poderia faltar também o meio argentino, meio brasileiro Carybé, que em Salvador se encantou com as cores, a paisagem, a religiosidade, os costumes e o povo baiano. Em Feira, ele retrata vários elementos da cultura afro-brasileira. O mesmo se repete em Alexandrina e sua Cidade.



O lindo olhar feminino da mineira Maria Auxiliadora aparece para retratar o cotidiano em forma de pintura e bordado, aplicado aos detalhes. Em Hora do Almoço, vemos uma mesa farta rodeada de brancos e negros, em papéis de igualdade. A cena é adversa ao que retrata a obra de Jean-Baptiste Debret, em Um Jantar Brasileiro, onde negras servem os brancos do período colonial.


Um fato curioso é ver as diversas representações de Iemanjá, a mãe dos mares e dos orixás. Ao ser “adotada” por praticantes de diversas crenças no Brasil, foi apropriada por novas configurações europeias, ganhando a imagem de uma mulher branca de longos cabelos lisos e roupa azul, cor influenciada pelo catolicismo, que tem entre suas padroeiras a Nossa Senhora dos Navegantes. Na mostra, vemos Iemanjá negra através dos traços de Maria Auxiliadora e Edsoleda Santos. Outro orixá presente é Xangô, presente em estatuetas nigeriana e baiana. Seus cultos surgem em fotografias de Pierre Verger e em desenhos de Celina, David Driskell e Radcliffe Bailey. A umbanda também aparece em Candomblé, de Maria Auxiliadora.


O conjunto de retratos, feitos entre os séculos 16 e 21, é de encher os olhos. Essa ala é bem interessante porque contrapõe completamente o que estamos acostumados a ver em pinacotecas: retratos de homens brancos e burgueses, em sua maioria, feitos sob encomenda. Ali estão retratados homens, mulheres e crianças afro-atlânticas, passando por pessoas não identificadas até heróis esquecidos propositalmente pela história oficial, como os líderes Zeferina e João de Deus Nascimento.
Não passa despercebida a escultura de bronze Amnésia, de Flávio Cerqueira, em que um menino joga um balde de tinta branca na própria cabeça, fazendo alusão ao perverso branqueamento da população negra no Brasil (brilhantemente narrada no texto da revista seLecT), mas também The Octaroon Girl (A Menina Oitavona), de Archibald John Motley. O quadro, que não pode ser fotografado pela imprensa, é parte de uma série em que o artista explora os diversos tons da pele negra. Uma mulher de pele mais clara é retratada de forma elegante, trazendo à tona os debates sobre colorismo, hierarquia social e padrões de beleza. Vale a pena conferir outros trabalhos do modernista.


A artista Loïs Mailou Jonespega referências egípcias para compor Egyptian Heritage (Legado Egípcio), uma tela forte que coloca Cleópatra e outras duas mulheres negras na posição central, sendo que uma delas pode ser a própria artista, que olha diretamente para o espectador. É também uma maneira de lembrar que os povos egípcios foram igualmente embranqueados por livros, filmes e demais representações.

É como um tapa na cara se deparar com um vídeo em que AD Junior, Edu Carvalho e Spartakus Santiago dão dicas de como os negros devem agir ao sair às ruas no Rio de Janeiro, que passa atualmente por uma intervenção militar. A medida, cruel e ao mesmo tempo necessária, é pela simples sobrevivência, afinal, não é novidade que a população negra é a que mais morre no país. Nesse sentido, o núcleo Emancipações, Ativismos e Resistências, exibido no Instituto Tomie Ohtake, é a chave principal para entender o racismo estrutural e institucional.
Da imagem “exótica” à subserviência, dos abusos sutis aos mais escancarados, podemos notar nas telas e nos vídeos o quanto dói a não-aceitação de um povo, ao mesmo tempo em que se vê tanto qualidade artística e cultural como retratos que questionam a posição dos negros perante a sociedade. Os protagonistas de uma nação miscigenada, que vive e exporta até hoje as heranças culturais africanas, estão entre dois opostos: sendo enaltecidos ou perseguidos. Entender as origens e as diversas faces dessas narrativas históricas é nos entender por completo.

A mostra fica em cartaz até 28 de outubro de 2018 e conta ainda com oficinas, palestras e mostra de cinema. O ciclo de vídeos, exibidos no segundo subsolo do MASP sob a curadoria de Horrana de Kássia Santoz, há autores que contam outras histórias da diáspora negra, como John Akomfrah, que exibe Tropikos até o dia 12 de agosto. O cineasta e pesquisador utilizou o livro “Water and Dreams: An essay on the imagination of matter”, de Gaston Bachelard, como inspiração literária para abordar um encontro entre africanos e europeus na Inglaterra do século 16. Em fevereiro do ano que vem, será apresentado um trabalho de Jenn Nkiru, co-diretora do clipe de Beyoncé e Jay-Z no Louvre, citado no início dessa matéria.