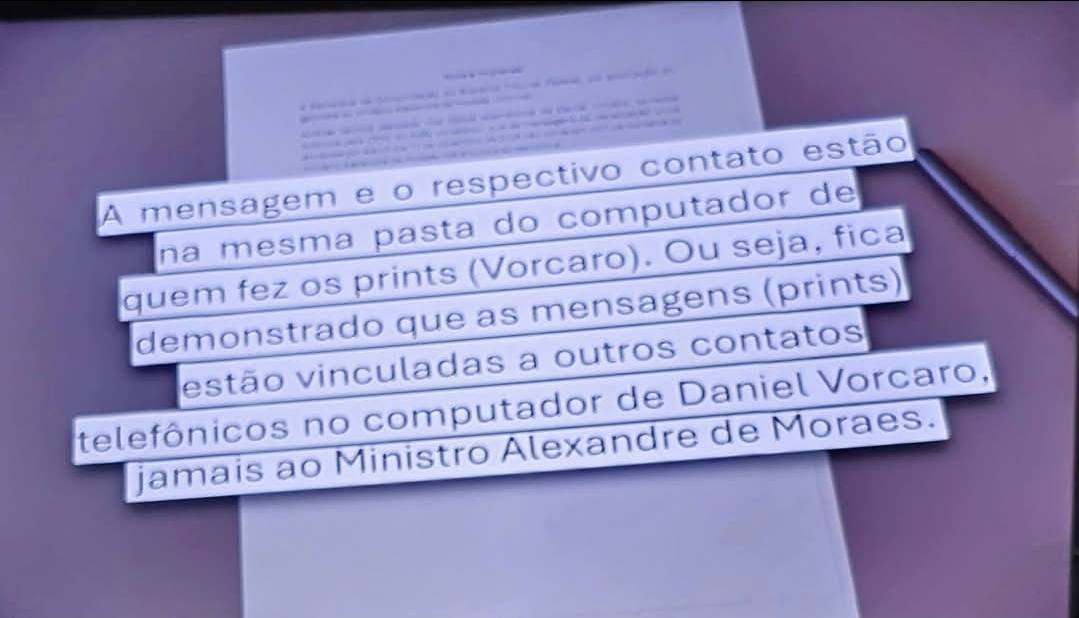Por Saul Leblon, Carta Maior –
Em conversa premonitória, Maria da Conceição antevia a urgência de uma frente ampla com projeto para toda a nação.

Um dos maiores desafios na ação política é ser contemporâneo do seu próprio tempo.
Significa, entre outros requisitos, ter a noção exata das determinações que singularizam a luta pelo desenvolvimento em uma sociedade num dado momento histórico.
Ir além dele condenaria o voluntarismo mais heroico ao resultado mais pífio; o erro em sentido contrário não costuma ser menos inclemente com os hesitantes.
Nessa prova de fogo não se poupam boas intenções ou trajetórias consagradas de governantes, lideranças, partidos, movimentos, sindicatos, mídia …
Com o desconto da ligeireza, não haveria despropósito em dizer que a tragédia vivida hoje pela sociedade brasileira decorre, em parte, de um erro de avaliação dessa natureza.
Já no final do primeiro mandato da Presidenta Dilma, a quilha da governabilidade exigia outro mix entre a rua e o parlamento.
Gargalos gritavam a necessidade de mudar o lastro para o exercício do poder –e isso implicava uma recomposição das alianças.
A política fiscal contracíclica havia esgotado seu fôlego diante de uma persistente desordem global do neoliberalismo.
A escolha de um ajuste rápido baseado em aperto de gastos e desvalorização cambial –para crescer ancorado em exportações, subestimou a anemia do comércio internacional…
Ao negligenciar a dimensão política do impasse econômica, o governo perdeu o lastro, o golpismo nativo –e o Departamento de Estado– farejou a deriva, a aliança da mídia com a escória, o dinheiro e o judiciário fez o resto.
A exata compreensão da encruzilhada exacerbada pelo golpe de 31 de agosto tornou-se agora uma questão de vida ou morte.
Não do PT. Da nação que o Brasil poderia ser, mas ainda não é.
O fato de, em menos de quinze dias, o golpe ter jogado ao mar a carne podre de seu principal operador, cassando Eduardo Cunha por 450 votos a 10, não deve nutrir ilusões em autodissolução.
A faxina no porão, na verdade, alivia a disputa no convés.
A cabeça de Cunha serve como esparadrapo na imagem de um governo corroído pela ilegitimidade.
Passa, ademais, a imagem de um suposto controle sobre o Congresso –para aprovar ‘as reformas’ exigidas pelo mercado.
É improvável que gere retaliações: o descarte não teria ocorrido sem garantias robustas e generosas, inclusive de salvo conduto na Lava Jato.
O conjunto reafirma no presente, em cores ainda mais vivas, aquilo que já era verdade na travessia do primeiro para o segundo mandato do governo Dilma: o nome do novo protagonista capaz de sacudir a espiral conservadora, com escala e força capaz de derrota-la, é a rua mobilizada.
Manifestações recorrentes tem arrastado centenas de milhares de pessoas às praças e avenidas de todo o país.
A maciça presença, inclusive de famílias inteiras de classe média, deu a elas um peso pedagógico em si: a desobediência civil diante da violência fardada ou midiática desmente para o conjunto da sociedade a fraude do ‘consenso golpista’.
É essa rota de colisão em defesa de eleições diretas que vai trincar a ordem unida da santa aliança entre a escória parlamentar, a mídia, o dinheiro e o judiciário
Para que ela se consolide, porém, não basta a rua dizer o que não quer para o Brasil.
A agenda antissocial e antinacional do golpe terá que ser afrontada por pleitos, bandeiras e projetos que ofereçam à nação uma nova referência de futuro crível para a economia, a sua gente e a sua esperança.
A chance de as forças progressistas se transformarem nessa baliza depende da escala e da consistência desse repto nas ruas.
Há um requisito mais geral para isso: a determinação para enxergar o esgotamento de um ciclo e as balizas que podem pavimentar o próximo.
Das muitas conversas que Carta Maior teve sobre essa travessia com intelectuais e lideranças progressistas, uma se notabilizou pelo desassombro atrelado à experiência.
‘Essa crise não se parece com nenhuma outra que vivi’, disse a professora Maria da Conceição Tavares ainda no início da ofensiva golpista, cuja virulência ela precificava, intuitivamente, no diagnóstico sobre a dissociação extremada de interesses econômicos e sociais em confronto.
‘Nenhuma das que acompanhei mais de perto –o pós-Getúlio e a do golpe de 1964, para não falar das outras, como a do fim da ditadura—envolvia um travamento estrutural e político tão difícil’, explicou para sublinhar em contraponto: ‘ Sem falar no quadro internacional, que é completamente outro, marcado pelo ambiente financeiro destrambelhado’.
‘Estamos em uma transição de ciclo estrutural’, escandiu a professora para demarcar o que de essencial precisaria ser contemplado na busca de alternativas progressistas para o futuro brasileiro.
Nos anos 50 e nos anos 70, depois do suicídio de Getúlio, discorria então –‘assim como após o golpe militar, havia espaço para se agregar novos setores à estrutura econômica brasileira’.
“Agregar é mais fácil do que reformar as estruturas, me entende?, repetiu algumas vezes durante a conversa, sem disfarçar a apreensão com a gravidade das próprias palavras .
A agregação amortece a colisão entre os interesses já instalados e os novos.
O que fez, afinal, Getúlio quando foi reconduzido ao poder em apoteótica votação nas eleições de 1950, com o Brasil desordenado pela ‘malta liberal’ de Dutra?
‘Getúlio viu espaço oco para agregar novos motores na economia’, observava a decana dos economistas brasileiros na conversa premonitória sobre o golpe que se desenhava.
Segundo ela, Vargas tomou uma série de iniciativas diante da avenida aberta a sua frente: o Plano de Eletrificação, em 1951; o BNDES, em 1952; a Petrobrás em 1953.
‘Eram medidas convergentes com uma industrialização ainda em fraldas, onde muito havia por fazer, mas que já dava um horizonte à nação’.
Vargas modernizou áreas já existentes, adicionou novas turbinas a elas, investiu no setor de bens de base — ‘de base porque produz equipamentos, componentes, insumos universais, para todos os segmentos, certo?’.
Interligou isso aos duráveis, amalgamando a economia com uma cola política feita de expansão do emprego e extensão de direitos ao florescente operariado urbano.
‘Aí acharam melhor eliminá-lo, que a coisa estava indo longe demais’, brincou a voz professoral.
‘Mas a crise da morte do Vargas’, atalharia em seguida a economista, ‘embora violenta por todos os seus ingredientes, paradoxalmente durou pouco’.
Aqui puxou a memória de acontecimentos que acompanhou diretamente, jovem matemática atravessando a fronteira para a economia.
‘Durou pouco porque havia toda uma avenida aberta, aquela que Vargas deixou para JK agregar: a dos bens de consumo’, interrompeu para retomar o fôlego.
‘O que fez JK, então? Fez o Plano de Metas dilatou a infraestrutura; trouxe o parque automobilístico, deslanchou um novo ciclo de expansão’.
O impasse vivido por Jango seria um primeiro sinal de que a agregação pura já enfrentava gargalos estruturais, lembrou Conceição a Carta Maio, convidada a traçar um paralelo com a gravidade da crise que, pouco depois redundaria no golpe atual.
‘Tanto que tivemos ali uma ruptura violenta’, pontuou a economista que se exilou no Chile durante a ditadura, onde assessorou a equipe de Salvador Allende, cuja derrubada completou quarenta e três anos neste 11 de setembro.
Quando Jango se viu na contingência de ampliar o espaço do brasileiros miseráveis, excluídos do mercado e da cidadania –que dilataria o fôlego do desenvolvimento pela alavanca do mercado de massa– os interesses estabelecidos reagiram violentamente.
‘Por quê?, indaga a narradora como se visse um filme rebobinado passando outra vez diante de seus olhos atentos e fixos.
Em vez de apenas agregar, as reformas de base buscavam democratizar o que antes era um privilégio dos herdeiros da casa grande.
Eis a diferença sinalizada por ela.
A terra, por certo. Mas também a educação, o comando sobre riquezas naturais; o controle sobre a moeda e os capitais; a ampliação da democracia na base da sociedade.
Deu-se o que é sabido.
‘Só que os milicos do golpe eram eles mesmos desenvolvimentistas! ‘, atalhou Conceição rindo das ironias da história. Os ‘milicos’ no entanto tropeçariam ‘feio’, lembra.
Fizeram o torto por linhas certas: em vez de agregar novos polos de ponta à industrialização, como eletroeletrônica etc, o regime ditatorial super-dimensionou outros já existentes –a siderurgia, por exemplo.
A ‘sobreagregação’ expandiu o PIB por um tempo, mas endividou o país sem contrapartida exportadora para os dólares tomados a juros baixos, mas a taxas flutuantes.
Quando elas flutuaram ferozmente para cima –saltaram de 7,5% para 20,18% em 1980—‘o regime perdeu o assoalho’, disparou a voz rouca inconfundível.
‘O que se tem agora é mais sério, de qualquer forma, do que a transição de Vargas para JK e de Jango para o golpe’, sentenciaria em seguida antevendo o embate que, afinal, se concretizou.
‘É estrutural’, repetia Conceição mais uma vez.
Estrutural, insiste, significa que não se resolve adicionando mais carga na mesma máquina de crescimento — como se fez antes para reacomodar os conflitos de classes.
‘O Brasil não vai acabar, nem o capitalismo’, brincou então querendo desanuviar a turbulência intrínseca ao quadro que desenha em largas pinceladas de cores fortes. ‘Mas há um esgotamento desse correr para frente baseado em aditivos que se sobrepõem à engrenagem anterior claudicante’.
Ainda por cima, coroado por um ambiente internacional pantanoso.
Então é diferente de tudo o que Conceição viu e viveu.
‘A estrutura econômica do país está montada. É preciso recauchutar a máquina mas, sobretudo, reorientar seu rumo’, aqui a professora retomava o fio do impasse.
O Brasil viveu um período acelerado de consolidação industrial no 2o PND (1975/79) , o plano de desenvolvimento da ditadura –‘dificilmente repetirá aquele desempenho característico da fase de instalação e consolidação de um parque industrial’, adverte.
Esse tempo acabou.
A indústria brasileira, na verdade, está sendo corroída por duas inércias que o ciclo iniciado em 2003 não corrigiu. De um lado, a valorização cambial acumulada nas últimas décadas asfixiou o parque fabril brasileiro sob a avalanche das importações asiáticas. Simultaneamente, cristalizou-se uma inserção internacional capenga, que perdeu o bonde tecnológico dos anos 80/90 porque ruminava a dolorida digestão da dívida externa da ditadura.
‘O bonde perdido de um ciclo internacional não passa de novo’, adverte a professora na conversa premonitória. ‘Não vamos mais competir com os chineses naquilo que eles tomaram de nós e se mostraram líderes no mundo’, advertiu sobre a erosão sofrida em vários setores e cadeias industriais.
Por isso o pré-sal e o mercado de consumo doméstico, revigorado pelo ganho de poder de compra e escala propiciados pelas novas balizas sociais e salariais do ciclo do PT, bem como o PAC na infraestrutura e, objetivamente, o agronegócio, são tão importantes.
É esse o novo chão do desenvolvimento brasileiro no século XXI.
Os encadeamentos inscritos no regime de partilha do pre-sal e a exigência de conteúdo nacional, ambos demonizados e agora às portas de serem revogados pelo golpe com a decisiva indução de um ex- companheiro de exílio de Conceição –José Serra– encerram impulsos industrializantes de ponta, com escala capaz de criar, aí sim, uma inserção virtuosa do país nas cadeias internacionais.
O mercado de massa, por sua vez, poderá atrair plantas industriais e lastrear segmentos ainda não triturados por décadas de importações baratas. ‘O PAC arremata o comboio puxando tudo pela alavanca do investimento público’.
Conceição contextualizou esse tripé de forma realista, ciente de que a areia movediça da crise política estreitou a margem de manobra em todas as frentes.
‘Hoje isso depende muito do financiamento chinês para se viabilizar. É por aí que vamos completar o investimento público do PAC; não enxergo outra saída com as restrições impostas na frente fiscal’, suspirava a olhar o país a escapar-lhe pelos dedos.
Seu próprio desalento, porém, sofre um safanão em tom de advertência na frase seguinte: ‘ Mas se não defendermos as políticas sociais, o PAC e o pré-sal não teremos mais modelo nenhum, nem de desenvolvimento, nem de industrialização, nem nação; o Brasil vai para o ralo’.
A costura dessa travessia envolve uma operação essencialmente política, como já explicou, porque mexe profundamente em interesses cristalizados.
O nome do jogo não é mais ganha/ganha: é correlação de forças. E ele se joga na rua.
A alternativa ao ajuste golpista baseado na supressão de direitos trabalhistas, por exemplo, adquire subversiva transparência: chama-se taxação das fortunas, do lucro dos bancos, dos dividendos, das remessas disfarçadas de assistência, das heranças etc.
´Não existe resposta técnica para o que se esboça diante de nós’, projetaria com precisão a professora de uma geração inteira de economistas, entre alunos e amigos, que a ouvem e respeitam, mesmo quando dela divergem.
Como já antevia, com o golpe, os gargalos se fecharam em arrocho, que já derrete o consumo das famílias, derradeiro lacre de segurança do ciclo petista que avançou de forma quase ininterrupta até meados de 2014.
O consumo das famílias pesa 63% na demanda da economia e arrastou junto a receita, o investimento, o emprego… O que sobra?
‘A sobra é insuficiente para sustentar uma nação, um governo e um projeto progressista de desenvolvimento’, diz a voz naturalmente grave, mas com sustenido emotivo.
‘Você não sairá disso com debate econômico’, profetizou Conceição. ‘É preciso algo amplo, democrático que se imponha como um lastro, uma nova referência’.
Conceição quis dizer exatamente isso que hoje significa ser contemporâneo do próprio tempo: a rua munida de projeto para o conjunto da sociedade – ‘inclusive para os setores produtivos’.
A professora vislumbrou tudo isso meses antes, talvez porque quisesse acelerar o tempo, a tempo de ver seu país resgatar o sonho de ser a grande nação pela qual ela lutou durante seus oitenta e seis anos.