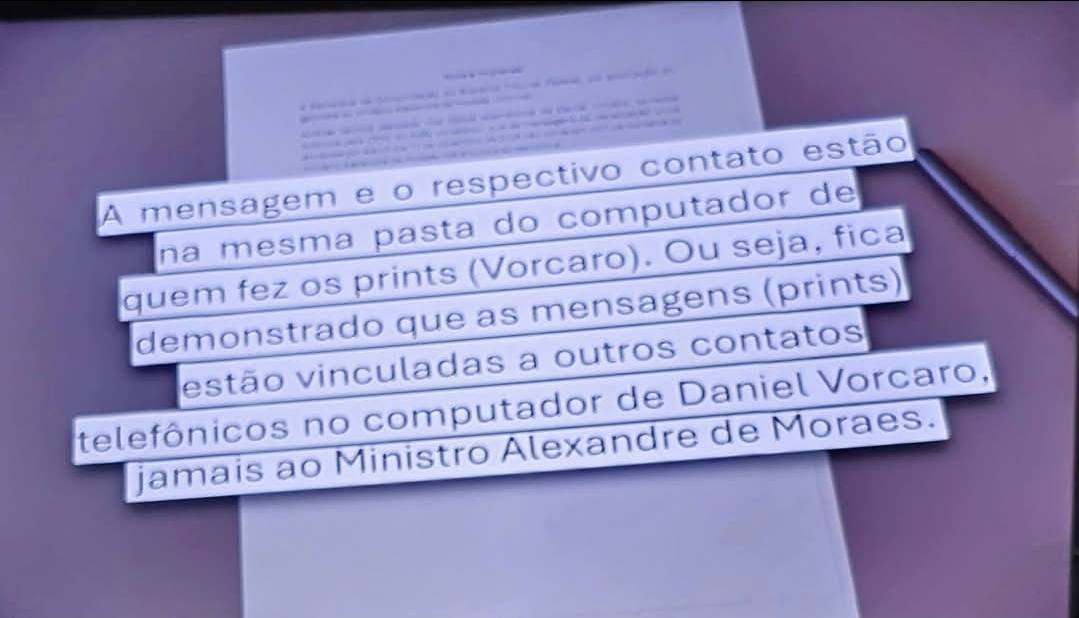A educação no Brasil não é pensada para garantir o sucesso de todos os alunos, mas para privilegiar os que são considerados os “melhores” estudantes.
Por Letícia Mori, Da BBC News Brasil, compartilhado de CONTEE

Essa é a conclusão do pedagogo Ocimar Munhoz Alavarse, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave).
Ele chama essa postura de “pensamento olímpico”, porque certos alunos seriam educados para serem os “campeões” — como se a educação fosse uma Olimpíada — enquanto as necessidades da maioria dos alunos seriam deixadas de lado.
Como consequência, diz Alavarse, os “melhores alunos” recebem mais atenção, incentivo e elogios para potencializar seu desenvolvimento, enquanto alunos com mais dificuldades são deixados para trás.
“A gente tem que pensar se quer formar quatro ou cinco alunos brilhantes ou se quer garantir que todos os alunos consigam atingir um certo patamar mínimo de habilidades”, afirma o pesquisador.
“É uma escolha: qual o modelo que você quer?”.
Essa dificuldade em garantir um patamar mínimo para todos é um dos retratos mostrados pelos resultados do Pisa de 2022, principal exame global de educação, divulgados neste mês.
O Pisa mostrou que 70% dos alunos brasileiros não demonstraram ter as habilidades mínimas em Matemática.
Isso significa que a maioria dos estudantes não consegue resolver contas e equações simples nem aplicar o conhecimento a situações do mundo real, como comparar distâncias.
Cerca de 50% não atingiram o patamar mínimo em leitura e cerca de 55% não tinham as habilidades mínimas esperadas em ciências.
Alavarse diz que, embora o “pensamento olímpico” não faça parte oficialmente de uma política educacional, é algo arraigado e bastante comum no comportamento de muitos professores, diretores, gestores escolares e políticos.
“É claro que nos documentos oficiais ninguém assume uma postura seletiva para a escolarização, mas todo mundo que já esteve em uma sala dos professores sabe que sempre existe o que é considerado o ‘bom aluno’”, afirma.
“Sempre existem aqueles que acreditam que a escola é para escolher os melhores.”
Um exemplo seriam políticas públicas que premiam professores conforme os bons resultados dos seus alunos, segundo o pesquisador.
“É uma ideia totalmente equivocada”, diz ele, “porque não faz sentido exigir performance dos professores sem fornecer as condições mínimas de trabalho e de estrutura.”
Para o pesquisador em educação Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação da ONG educacional Cenpec, esse tipo de política de “bônus por resultados” pode acentuar desigualdades.
Isso porque acaba direcionando mais recursos para escolas que já têm um bom desempenho e contam com mais apoio financeiro e de infraestrutura.
É preciso especial atenção para esse problema no ensino público, diz ele, onde estão hoje mais de 80% dos alunos brasileiros.
No entanto, essa lógica também existe nas escolas particulares, segundo os especialistas.
Não é raro, por exemplo, que elas escolham os melhores alunos para participar de avaliações externas, criem salas especiais de ensino avançando ou publiquem rankings com as notas dos alunos em provas e simulados de vestibular.
A pedagoga Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do Curso e Colégio Objetivo, argumenta, no entanto, que separar alunos em turmas com diferentes níveis de habilidades em diferentes áreas é, na verdade, uma forma de atender as necessidades individuais de todos – algo que pode ser feito, segundo ela, a partir do ensino médio.
“Quando chega no ensino médio, o próprio aluno faz exigências. Existem alunos que têm facilidade no aprendizado, que exigem mais, querem mais aprofundamento em uma disciplina”, afirma.
“O que não podemos é deixar os outros alunos de lado, é preciso trabalhar as necessidades de quem tem dificuldade, dar aulas especiais, estimular. Mas existirem turmas no contraturno para aprofundar é justamente uma forma de atender às necessidades de cada um”, diz ela.
Antunes diz que alunos com facilidade em alguma área podem ter dificuldades em outras. Ela defende que essa divisão de turmas ajuda a descobrir essas habilidades e dificuldades. E permite que alunos tenham um atendimento mais personalizado.
A pedagoga, no entanto, reconhece que nem todas as escolas têm os recursos para criarem turmas extras — e diz que, quando há uma única turma, a escola não deve atender somente às necessidades dos mais avançados.
Segundo ela, se forem trabalhadas corretamente, as competições podem ser positivas para os alunos.
“Tive uma aluna com autoestima muito baixa que começou a brilhar depois de uma gincana, que se sentiu incentivada e valorizada porque se destacou na área artística.”
Procurado pela BBC News Brasil para comentar o assunto, o Ministério da Educação apontou a fala do ministro Camilo Santana (PT) sobre o Pisa em entrevista coletiva após a divulgação dos resultados.
O ministro lembrou que o Brasil ficou praticamente estável no Pisa em seus resultados apesar da pandemia e do que chamou de “ausência” de apoio do governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro (PL), aos Estados.
“Estamos tomando uma série de medidas para melhorar a qualidade da educação básica”, afirmou o ministro.
“Para garantir a alfabetização de todos na idade certa, para garantir a escola em tempo integral, garantir a atratividade da escola e melhorar a qualidade e a formação continuada dos professores.”
“Toda ação nossa está focada na redução da desigualdade e na inclusão de públicos que muitas vezes não tem acesso à escola”, disse Santana.
Para que serve uma avaliação?
Alavarse diz que um equívoco comum é considerar as avaliações em si a raiz do problema – o que não é o caso, diz ele.
A lógica “olímpica” para a educação não vem de haver testes, mas da forma como se lêem os resultados desses testes, afirma.
“É preciso sim que haja avaliações internas e externas – não para ranquear os alunos ou escolas, mas para entender adequadamente quais as necessidades e podermos definir quais as ações pedagógicas necessárias para garantir o sucesso de todos”, diz ele.
Para Alavarse, no caso do Pisa, por exemplo, o importante não é olhar onde o Brasil se posiciona no ranking em relação aos outros países, mas entender quantos alunos estão demonstrando habilidades mínimas em cada área.
Ambos os resultados mostram um baixo desempenho do Brasil. O Brasil ficou em 65º lugar em Matemática entre os países da Organização para Comércio e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com uma nota que ficou 93 pontos abaixo da média de todos os países avaliados.
O resultado de que 70% dos alunos não atingiram o nível de habilidade mínimo em Matemática é mais importante, diz Alavarse
Além disso, o Pisa mostra que há grande distância entre os resultados dos grupos socioeconômicos mais e menos privilegiados.
Os alunos mais ricos fizeram em média 77 pontos a mais em Matemática do que o grupo dos menos privilegiados.
De acordo com Alavarse, há uma certa naturalização na cultura educacional brasileira de que alguns alunos “simplesmente não vão aprender”.
Se os alunos são tratados como se estivessem competindo para formar um ranking, vão sempre existir os melhores e os piores.
“É uma cultura que naturaliza que certos estudantes – por causa de seu histórico familiar, sua raça, local de origem, nível socioeconômico etc – não aprenderão tão rápido ou atingirão um patamar desejado e não concluirão os ciclos escolares.”
O pesquisador defende que se entenda a qualidade na educação como “igualdade de resultados do processo de escolarização”, ou seja, que a educação tenha como objetivo que não haja uma disparidade tão grande entre os resultados de alunos diferentes – pelo menos em áreas básicas como proficiência em Leitura e Matemática.
“Na realidade, essa diferença é absurda, o Pisa mostra isso, mas é algo que já sabemos há muito tempo, que outros exames já mostraram”, diz ele.
“No fim de um ciclo na escola obrigatória, não deveriam existir diferenças entre seus concluintes.”
Para isso, afirma, o sistema público de ensino precisa ser organizado de uma forma que as escolas consigam minimizar as diferenças e desigualdades das origens dos alunos, que, em geral, resultam em desigualdades de resultados escolares.
“Pesquisas mostram que as diferenças encontradas no início do processo escolar continuam ao longo da vida educacional do aluno”, afirma.
“Isso vai eliminar as disputas na vida, no mercado de trabalho? Claro que não. Mas ao menos garante oportunidades para todos partirem do mesmo patamar.”
Isso passaria também, diz ele, por uma formação para que os professores entendam o conteúdo e os critérios de avaliações como o Pisa.
Não para ensinar pensando na prova, argumenta o professor, mas para entender o que é importante e o que é considerado conhecimento básico para todos os alunos. “Ou seja, quais habilidades todos os alunos precisam ter”, diz Alavarse.
“Hoje, a maioria dos professores nem sabe o que esses exames avaliam.”
O professor Romoaldo Portela de Oliveira, do Cenpec, pontua que tornar o sistema mais igualitário passa necessariamente pelo aumento no investimento.
“Há muitos anos existe um discurso liberal de que não gastamos pouco, mas gastamos mal. Mas isso não é verdade”, diz ele.
“Existe um patamar mínimo de investimento que a gente não atinge (no Brasil), um mínimo de investimento para garantir condições de funcionamento do sistema.”
Dinheiro isoladamente “não resolve” o problema, diz Oliveira.
“Mas é condição necessária. Se você pega os dados do sistema escolas, vê escolas que não têm esgoto, não têm ar condicionado em um calor de 50ºC.”
Segundo Oliveira, o debate pedagógico é importante, mas não substitui as questões estruturais.
Alavarse defende que as duas questões não são excludentes. Ou seja, deve haver um aumento no investimento e uma discussão sobre o que desejamos para a educação.
“É preciso abandonar a cultura que aceita o sucesso dos considerados bons e normaliza o baixo desempenho de outros para uma que tenha como o objetivo o sucesso de todos.”