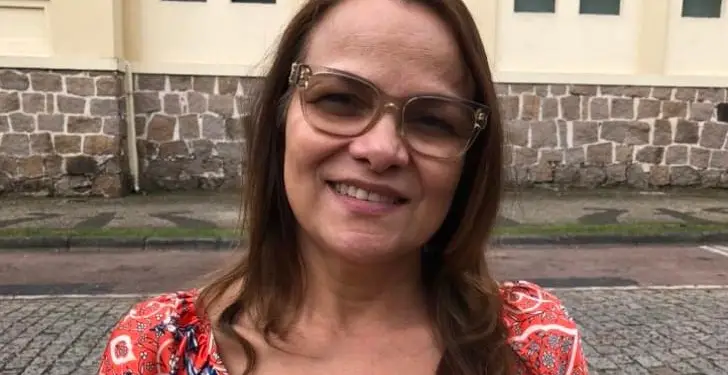E a coluna “A César o que é de Cícero”, do doutor em Literatura Cícero César Sotero Batista, nos faz refletir a respeito dos indígenas e a importância da leitura para entendermos questões fundamentais sobre a nossa quase sempre triste realidade. Ah, só para lembrar, dia 19 de abril é O Dia dos Povos Indígenas, mas, como diz a música de Jorge Benjor (ouça no final do texto), antes todo dia era dia de índio.
Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.
(Oswald de Andrade)
Eu estava na oitava série em uma escola pública e ainda havia a obrigatoriedade de se ler um livro como avaliação, mais ou menos como Estudo Dirigido. O escolhido pela professora de português foi um tal de “De olho nas penas”.
A professora de Português não nos disse o motivo de tal escolha. Ela apenas nos advertiu sobre a peculiariedade do livro. Ela não se cansava de dizer que leríamos um livro destinado ao Ensino Médio, isto é, um livro que exigiriria maturidade de seus leitores. Eu, no alto de meus doze anos, não entendi muito bem o que a professora quis dizer com aquilo tudo. Não me senti orgulhoso nem diminuído por não ter maturidade.
Meu pai comprou o livro, que foi lido mais por obrigação do que por prazer ou por gozo.
Já naquela época existia na escola uma sala destinada à leitura, chamada de Biblioteca. Não deixei de reparar que as mesas e as cadeiras eram pequeninhas, como se não tivessem sido feitas para mim. Será que eu era o Branco de Neve daquela história?
Menos Cícero César, menos. A pequena biblioteca era modesta, sim. Foi nela, entretanto, onde leste algumas obras da série Vaga-Lume, por exemplo. Eu não sei se comprei ou se li à base de empréstimo obras como “O escaravelho do diabo”, “O menino de asas”, “Mistério no cinco estrelas”, “O gênio do crime”. Mas eu li. Não sou li como gostei. Como um bom filme, sabe? Melhor: como um condutor de memórias.
O professor Erivelto Reis gentilmente me cedeu uma porção destes volumes. Eu, por minha vez, os cedi à pequena biblioteca de uma das escolas onde trabalho. Estão lá também alguns títulos de Clarice Lispector que me pertenceram (a julgar pela assinatura um tanto desleixada) e que agora fazem parte do acervo da biblioteca da escola.
Uma biblioteca, ainda que modesta, não deixa de ser este lugar de poder onde livros que podem salvar do tédio uma criança ou um adolescente. Empoeirados, escondidos, já entrados em anos, a se despedaçarem, não importa. Livros, livrai-nos do mal, Amém.
“De olhos nas penas” era um livro de Ana Maria Machado que, um tanto à frente do seu tempo, falava da origem dos índios, do orgulho de ser índio, dessa beleza toda. Não me lembro muito mais do livro, afinal já se passaram quase quarenta anos. Mas algo especial entrou na minha cabeça. É a história da criação das raças conforme os pães ( (hoje, esta fabulação poderia ser considerada politicamente incorreta). Irei contá-la à minha maneira para vocês.
Vamos a ela:
Para a criação do homem, foi feito um forno de assar pães. O padeiro não se atentou para o tempo e tirou a fornada muito tarde. Foi assim que surgiu a raça dos homens negros. Da segunda vez o padeiro se precipitou e tirou a fornada muito cedo. Foi assim que surgiu a raça dos homens brancos. O padeiro coçou a cabeça, para não tirar a fornada nem tarde demais nem cedo demais. Finalmente ele acertou. A fornada saiu toda douradinha, no ponto. Foi assim que surgiu a raça dos homens índios.
Isso é para dizer que alguma coisa da escola fica na gente. É preciso, entretanto, ter certo espírito arqueológico, ir buscar esses tesouros da juventude.
Estar de olho nas penas é reconhecer que há um punhado de histórias escabrosas sobre como os índios foram e ainda são maltratados. Vi documentários sobre a época da Ditadura. Coisa feia, cruel, maligna, de embrulhar o estômago. De que forno saiu esta gente? Foi no mesmo forno de Deus?
Para tomar as terras dos índios, os homens maus penduravam camisas perto das aldeias. Camisas contaminadas com o vírus da varíola. Isto, para quem não sabe, é o suficiente para dizimar uma população inteira. E foi o que ocorreu.
Também testemunhei em Paraty os índios vendendo suas bugingangas para a gente, visitantes da cidade em virtude da FLIP. Eu adoro o clima da cidade, adoro aquilo tudo mesmo, adoro perambular, beber e ouvir palestras, me sinto em uma universidade de portas abertas. Mas ver os índios vender seus badulaques, entoar seus cânticos ao ritmo de um chocalhinho foi de lascar para o sujeito aqui. Porque eu me dei conta do que estava ocorrendo justamente no momento em que estava ali. Eu não quereria ter feito parte de tamanha humilhação pública.
Eu, que sempre quis ter uma onça de madeira para decorar a minha estante, realmente deixei o desejo para lá.
O episódio tanto me marcou que eu escrevi um texto em prosa chamado “Aimirim”. Depois ainda fiz a letra de uma canção chamada “Aimirim”. Em um eu registrava aquele clima todo da burguesia passeando em shopping a céu aberto, inclusive com aquela cena do mais tarde a gente compra; no final, eu tinha uma “miração”, uma alucinação. Em outro, eu descrevia um indiozinho passando a perna nos homens adultos. Era uma espécie de compensação para os horrores que se testemunhou, a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar.
Dizem que “Aimirim” é formiguinha mas também tamanduá em uma das inúmeras línguas dos nossos povos originários. Línguas que precisam ser preservadas, estudadas, compreendidas como outras tantas.
Com a posse de Ailton Krenak na ABL (Academia Brasileira de Letras), volto-me para o livro que estudei na oitava série de uma escola pública em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E reconheço que somente nos últimos anos fiquei feliz com as posses de membros da ABL. É quando penso que por lá agora há gente como Fernanda Montenegro, Gilberto Gil e Ailton Krenak.
Pãos ou pães é questão de opiniães, já disse o mestre.