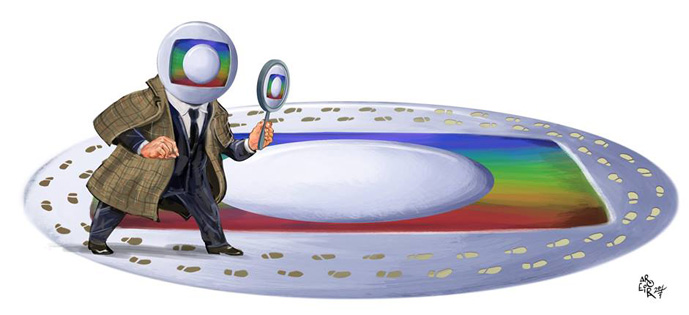Por Pedro Madeira, compartilhado de Projeto Colabora –
Apelo feito por representantes da ONU e movimento de parlamentares no Congresso não impedem a continuidade das remoções

Traduzido pelo imperativo “fique em casa”, tão enfatizado por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o medo de se expor ao vírus da covid-19 trancou milhões de brasileiros em suas casas. Entretanto, nos últimos 11 meses, 9.156 famílias brasileiras tiveram o seu direito à moradia, à quarentena e ao cuidado com a saúde negados. Outras 64.546 famílias foram alvo de ameaças de despejo durante a maior crise sanitária da história.
Os dados, divulgados pela Campanha Despejo Zero, tratam das “remoções forçadas”, quando um grupo de ocupantes é despejado do imóvel. Logo, não estão contabilizados os despejos individuais, por falta de pagamento do aluguel. O estado do Amazonas, um dos mais afetados pela covid-19, foi também o que mais despejou no Brasil: mais de três mil famílias foram desalojadas. São Paulo foi o segundo, com mais de duas mil famílias removidas. Todas essas operações transcorrem mesmo após os insistentes pedidos da Organização das Nações Unidas (ONU) pela suspensão das remoções durante a pandemia e os esforços de deputados federais favoráveis à proibição dos despejos.
A questão fundamental é uma violação do direito à moradia e o direito à cidade. Mas no momento da pandemia é também uma violação ao direito à vida, pois se você remove e não proporciona para aquela família uma alternativa adequada para se proteger e ficar em casa com possibilidade de isolamento, você está expondo ao próprio contágio e, portanto, à morte
Em julho de 2020, o Brasil chegava ao quinto lugar no ranking de países com mais mortes decorrentes de covid-19, atingindo a triste marca de 37 mil óbitos. O mesmo mês em que o presidente Jair Bolsonaro contraiu a doença. Nesta altura da crise sanitária, o relator especial pelo direito à moradia da ONU, o indiano Balakrishna Rajagopal, faz uma crítica pública à conduta adotada pelos governantes brasileiros de dar continuidade às remoções:
“O Ministério da Saúde brasileiro pediu às pessoas que ficassem em casa se tivessem sintomas, que lavassem bem as mãos e mantivessem o distanciamento físico. Ao mesmo tempo, centenas de famílias estão sendo despejadas em SP sem qualquer acomodação alternativa, impossibilitando o cumprimento das recomendações oficiais e deixando essas pessoas sob um alto risco de contágio”, afirmou o relator em comunicado ao Brasil.

Rajagopal ressaltou que os despejos forçados durante a pandemia, independentemente do status legal de posse, são uma violação clara aos direitos humanos: “O Brasil tem o dever de proteger urgentemente todas as pessoas da ameaça da covid-19, especialmente em comunidades em risco”. Para ele, “as autoridades locais parecem priorizar a retomada de propriedades de grandes empresas e proprietários de terras, em detrimento da saúde e segurança de pessoas vulneráveis”.
No mesmo comunicado, o representante da ONU expressou preocupação em relação ao veto presidencial à proposta do Congresso de limitar o impacto das expulsões. Ele se referia à Lei n° 14.010/20, sancionada em junho. No texto original, um artigo previa a suspensão do cumprimento de ordens de despejo individual até outubro, por falta de pagamento de aluguel. Esses casos, porém, não incluíam as remoções de ocupações coletivas monitoradas pela campanha Despejo Zero. Bolsonaro vetou o artigo, mas o veto foi derrubado pelo Congresso.
A deputada Natália Bonavides (PT-RN), autora de outro projeto de lei que prevê o fim dos despejos durante a pandemia, considera inadmissível manter, em plena crise sanitária, operações que deixam famílias desabrigadas.
“Ao contrário do que alguns juízes pensam, as pessoas não desaparecem após o despejo. Elas continuam existindo, porém, sem abrigo. Mesmo diante dos riscos evidentes, os despejos continuam acontecendo com o aval do judiciário. Por isso vimos a necessidade de apresentar esse projeto de lei. É desumano que o Congresso não tenha aprovado nenhuma medida tão óbvia para a proteção da saúde da população e para o controle da crise sanitária”, afirma Natália.

Junto com a deputada, outros três parlamentares, Professora Rosa Neide (PT-MT), Paulo Teixeira (PT-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ), e o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Helder Salomão (PT-ES), recorreram à ONU pedindo apoio ao fim das remoções. Em resposta, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) na América do Sul e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) no Brasil enviaram uma carta de apoio aos projetos de lei que visam garantir o direito à moradia durante a pandemia.
“O Projeto de Lei n° 1975/2020 e o artigo 9º da Lei 14.010/2020 contribuem para intensificar a atividade jurisdicional e administrativa necessária para alcançar o objetivo final da devida proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade ante às ações de despejos e remoções no país, tendo em vista que o direito à moradia deve ser considerado tema central em qualquer resposta à pandemia”, diz um trecho da carta.
De quarentena nas ruas
Enquanto representantes da ONU, parlamentares e outras lideranças lutavam em vão para conter os despejos, nas ruas de cidades como o Rio de Janeiro, Diadema, Sorocaba e Piracicaba, famílias se viravam como podiam para encontrar um abrigo e reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Benedito Barbosa, um dos articuladores da campanha Despejo Zero, conta que muitos ocupantes foram impactados pela alta no preço do aluguel, o desemprego e a proibição do trabalho dos ambulantes.
Em Diadema, por exemplo, município de São Paulo, um despejo promovido a pedido da empresa Ecovias, proprietária que obteve do estado a concessão da área onde se localizava a ocupação, demoliu ao menos 40 barracos erguidos durante a pandemia. Jucelio Lima, ex-morador da ocupação em Diadema alvo de uma reintegração de posse, lembra que não houve sequer tempo de reunir seus pertences antes das demolições:
“Perdi quase tudo. Eles chegaram com trator e quase ninguém conseguiu recuperar o que tinha. Deixei para trás fogão, geladeira, mesa, roupa e até dinheiro. Fiquei com a mesma roupa do corpo por uma semana. Meus filhos foram nos destroços para tentar pegar alguma coisa e voltaram com os livros da escola. Aquilo me deixou orgulhoso”, conta Jucelio, de 39 anos.
Com a perda do emprego na pandemia, e após ser despejado do apartamento onde morava de aluguel, Lima vendeu uma moto, pegou metade do dinheiro da venda e juntou com o empréstimo que havia feito com o antigo patrão para construir um barraco na área da ocupação.
“Achávamos que não íamos ser despejados naquele dia, senão teria tirado tudo lá de dentro. Pedimos para esperarem até metade do dia para conseguirmos tirar nossos pertences. Só deu tempo de tirar a televisão e dois colchões. De resto, o trator passou por cima. Ficamos perdidos e fomos morar na garagem da casa de um amigo da minha esposa. Era para ser alguns dias, mas ficamos duas semanas lá”, lembra Lima.
Em nota, a Ecovias afirma que a ocupação representava tanto um risco à infraestrutura rodoviária, quanto aos moradores do local e, por isso, fez o pedido de reintegração. A empresa também alega que, no dia da reintegração de posse, alertaram os moradores da necessidade de retirar os pertences. Apesar disso, muitos, como relatou Lima, perderam seus pertences na demolição.
Ano passado, antes de chegar às ocupações no Centro do Rio, William Evangelista Filho, de 38 anos, o “Bombom”, passou por alguns hotéis populares da prefeitura para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entretanto, ele não carrega boas memórias desse período. Diz que a situação era totalmente precária e que se sentia agredido:
“Foi quando peguei covid. Onde fiquei, outros três homossexuais acabaram pedindo desligamento antes de eu ir embora. O governo pisa. Depois disso vim para as ocupações e foi quando conheci a Márcia”, conta Bombom, na entrada da ocupação Denise Presente, localizada na Rua Miguel Couto, no Centro do Rio.
Perdi quase tudo. Eles chegaram com trator e quase ninguém conseguiu recuperar o que tinha. Deixei para trás fogão, geladeira, mesa, roupa e até dinheiro. Meus filhos foram nos destroços para tentar pegar alguma coisa e voltaram com os livros da escola. Aquilo me deixou orgulhoso
Quando não está cuidando de oito ocupações no Centro do Rio, Márcia Gomes, de 41 anos, trabalha de manicure, cabeleireira e camelô. Nos momentos em que está livre, mantém a neta Manu entretida e se diverte com Bombom assistindo vídeos nas redes sociais. Porém, diz Márcia, ordens de desocupação dos imóveis não param de chegar durante a pandemia. Mesmo assim, conseguiu defender todas as oito ocupações até o momento – não sem enfrentar a truculência de policiais.
“Antes de chegarmos nesta ocupação em que estamos, fomos despejados de outra na mesma rua, depois de uma ação que trouxe Bombeiro, Choque de Ordem, Polícia Militar e Bope. Mas já tínhamos saído, porque fomos avisados pela Defensoria Pública. Eles vêm com a guerra deles e a gente continua firme”, relata Márcia.
No paredão dos sobrados da rua, se destaca um portão de enrolar estilizado em grafite multicor, com a inscrição “Denise Presente”, em homenagem a uma mulher que liderou a ocupação Oi Telerj, onde moravam mais de 5 mil pessoas. Ao lado dos desenhos, uma porta estreita dá nas escadas para o andar de cima da ocupação. Um enorme vai e vem de pessoas.
“Eles trazem Centro presente, polícia e conselho tutelar. Às vezes levam alguns de nós presos. Aí ligamos para a Defensoria e mandamos fotos. Os policiais alegam que vão checar antecedentes criminais dos detidos. Isso é o que eles falam. Nessa hora todo mundo vai para a delegacia”, conta Márcia.
Por enquanto, segundo Márcia, as ocupações sobrevivem através do trabalho de alguns ocupantes e doações de roupas, cesta básica, eletrodomésticos e materiais de construção para realizar melhorias nos imóveis. No entanto, ela viu rarear as doações nesse período de pandemia.
“Mas vivemos nessa situação com dignidade, sem querer nada dos outros que não seja nosso ou que a gente ganhe. Porque para muitos policiais a maioria dos ocupantes são bandidos, senão eles não faziam o que fazem, como entrar apontando arma na cara dos outros. Eles tratam a gente como marginal e nós não somos marginais”, explica Bombom.

Também morador da ocupação “Denise Presente”, Jaime da Cruz, chamado pelos amigos e colegas de “Seu Jaime”, é um senhor de 65 anos e vendedor de quiabo, pimenta, alho e aipim e já passou por duas ocupações. Ele vende seu produto no mesmo ponto, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, há dez anos, desde os tempos em que morava em Vaz Lobo, bairro da Zona Norte.
Nessa época, acordava todos os dias de madrugada para bater ponto nas calçadas do Centro. No entanto, com evolução de uma úlcera na perna que o deixou debilitado para as longas caminhadas, e um problema de família mal resolvido, Jaime acaba perdendo os seus bens, sai de Vaz Lobo e vai para a sua primeira ocupação, a pouco menos de 1 km do trabalho.
“Me trouxeram para uma ocupação num galpão onde todo mundo ficava junto no mesmo espaço. Passei um perrengue. Para comer dependia dos outros, porque não tinha. Mas me botaram numa segunda ocupação, e agora estou com um quartinho só pra mim, do jeito que eu gosto”, conta.
Apesar de amargarem o topo no ranking de remoções, Amazonas e São Paulo apresentam dinâmicas de remoções diferentes, diz Adinomar Santos, assistente social e articulador da campanha na região amazonense. Santos aponta que as remoções em SP ocorrem com grupos reduzidos, ao passo que no Amazonas são em áreas integradas, com número maior de famílias envolvidas.
Um exemplo emblemático desse perfil de ação em Manaus foi o caso de Monte Horebe, onde morava uma comunidade com 2.400 mil famílias em pouco mais de 2 mil imóveis. Ocupada em 2014 por pessoas de baixa renda, a área possui ao menos 450 mil m² e localiza-se no Km 1 da BR-174, que dá acesso a Roraima.
Resultado de um imbróglio judicial que data de 2014, o Estado do Amazonas pede em fevereiro de 2020 reintegração da área, dando início a uma operação de 12 dias de despejo e demolição em plena pandemia. Santos lembra que no dia da ação, a polícia formou um cordão de isolamento nos arredores e quem saía para comprar mantimentos era impedido de retornar às casas.
“O estado prometeu realizar um levantamento socioeconômico para registrar as famílias que iriam receber um auxílio. Para isso, elas precisavam se cadastrar em uma escola estadual próxima ao Monte Horebe. Entretanto, ao chegar no local, muitos moradores estavam sem os documentos necessários e quando voltam para buscar, não podem mais entrar em suas casas”, conta Santos.
De acordo com dados da Secretaria de Assistência Social do estado, das sete mil famílias ex-moradoras do Monte Horebe, duas mil foram atendidas pelo auxílio aluguel. Para justificar a remoção, o governo do estado do Amazonas alega que vai construir um grande empreendimento de segurança pública no local. Até hoje, afirma Santos, nada foi realizado no terreno, que continua sem cumprir nenhuma função social.
Ex-morador da região reintegrada pelo estado do Amazonas, Fredson Emerson Brasil de Araújo, de 44 anos, morava com a esposa e os três filhos no local há cinco anos, enquanto trabalhava como eletricista, emprego que lhe rendeu sustento para construir um local fixo de moradia.
“Foi torturante. Estava com uma neta recém-nascida, então não dava para continuar em casa. As televisões quebraram, ventiladores também e a geladeira parou de funcionar depois disso. Se passar lá onde ficava a comunidade ainda se vê roupa jogada e eletrodoméstico quebrado”, conta Araújo, que foi morar no conjunto habitacional Viver Melhor, perto do antigo Monte Horebe.
Morando na sombra da incerteza
Com a continuidade da política de remoções durante a pandemia, o Brasil anda na contramão em relação às condutas que foram adotadas mundo afora por governantes. Na França, Emmanuel Macron estendeu por dois meses uma “trégua invernal” de despejos – interrompidos mesmo com decisões judiciais. Nos Estados Unidos, a presidente da Suprema Corte do estado da Carolina do Norte suspendeu por 30 dias todos os despejos. Demais cidades, como São Jose, Seattle, São Francisco e Nova York também aprovaram legislação na mesma linha.
“A questão fundamental é uma violação do direito à moradia e o direito à cidade. Mas no momento da pandemia é também uma violação ao direito à vida, pois se você remove e não proporciona para aquela família uma alternativa adequada para se proteger e ficar em casa com possibilidade de isolamento, você está expondo ao próprio contágio e, portanto, à morte”, explica Raquel Rolnik, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU).
De acordo com Raquel, essas populações de ocupantes vivem o que ela conceitua como “transitoriedade permanente”. Como relata, em sua experiência coordenando o Observatório das Remoções, projeto que monitora remoções forçadas desde 2012, Rolnik viu pessoas que chegam a passar por sete remoções ao longo da vida.
O Ministério da Saúde brasileiro pediu às pessoas que ficassem em casa se tivessem sintomas, que lavassem bem as mãos e mantivessem o distanciamento físico. Ao mesmo tempo, centenas de famílias estão sendo despejadas em SP sem qualquer acomodação alternativa, impossibilitando o cumprimento das recomendações oficiais e deixando essas pessoas sob um alto risco de contágio
“Elas passam de uma para outra, a cada vez que são removidas e não são atendidas de uma forma adequada do ponto de vista da política pública. A cada recomeço, elas se organizam e constituem uma nova ocupação ou uma nova favela mais precária ainda que a anterior. E assim a pessoa vai”, lamenta Raquel.
O poder público, ela explica, ora entende a situação dos ocupantes e permite-nos fixar moradia em imóveis sem função social, ora remove, a depender dos desejos de uma política urbana que não está preocupada com o destino dessas famílias. Logo, a professora conclui, essas pessoas vivem em clima de ambiguidade e transitoriedade.
Rolnik pontua que uma ressalva importante precisa ser feita quando se analisa os dados de remoção, pois eles são subestimados. Segundo ela, muitas denúncias nem chegam a essa rede de organizações envolvidas. E, como afirma a professora, por não existir dados oficiais desse tipo em lugar nenhum, São Paulo e Amazonas não necessariamente tiveram mais casos de despejo, mas foram os lugares de onde mais chegaram denúncias.
No enfrentamento da problemática, afirma a professora, é fundamental pensar na necessidade de políticas públicas inclusivas. Para ela, normalmente o poder público não equaciona nas ações de remoção forçada o destino das famílias. Rolnik defende que sejam feitos projetos de moradia justamente para quem é mais vulnerável e está mais sujeito à situação de “transitoriedade permanente”.
Deste modo, aponta Raquel Rolnik, é preciso concentrar-se em proporcionar moradia adequada a essa população desabrigada. Quando atuou como relatora especial da ONU em direito especial para moradia, a especialista houvia muitas perguntas sobre o que de fato é o direito à moradia ou o que define uma moradia adequada.
“A moradia adequada não é um teto e quatro paredes. Ela é um portal para os outros direitos, ela é um ponto de entrada para os moradores se estabelecerem dentro da cidade e ter acesso a uma vida digna, com acesso à saúde, ao lazer, à mobilidade, à educação. Por isso que, por exemplo, você oferecer uma casa no meio do mato, onde não tem nada, não é adequado, pois não está resolvendo a questão básica que é poder usufruir da cidade”, explica a professora.