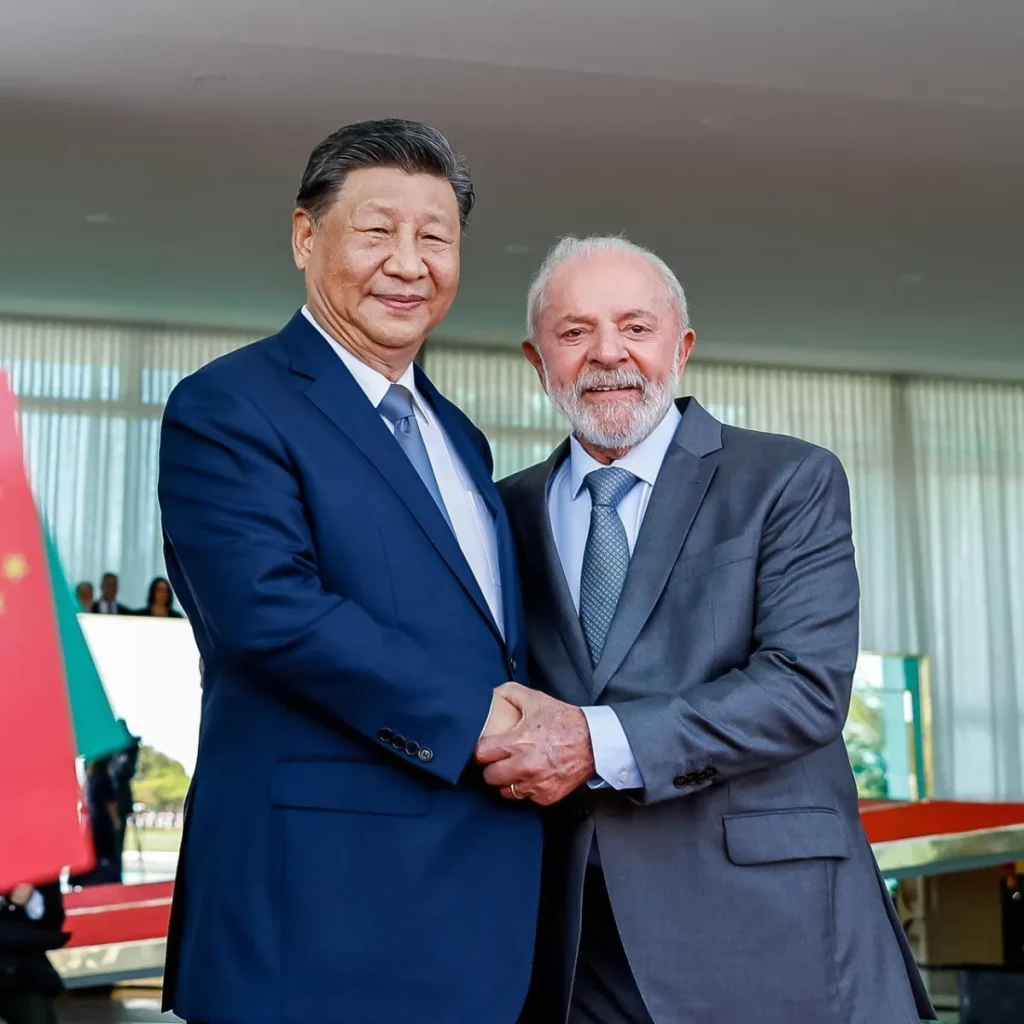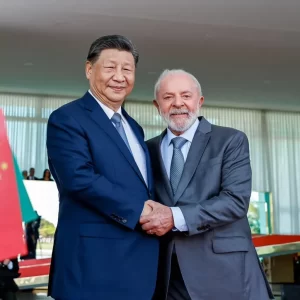E o doutor em Literatura Cícero César Sotero Batista, na coluna “A César o que é de Cícero”, cozinha um texto para nos dar água na boca. E vamos às gostosas palavras, pois, como diz Victor Hugo, “ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come”.
“Como de tudo, sem restrições. Gosto, sobretudo pela farra, das comidas que são feitas para um batallhão: feijoada, rabada, dobradinha, bobó etc. Quando encaro essas iguarias, não abuso da pimenta nem deixo em suspenso o ditado que aprendi com as leituras do velho Aldir Blanc sobre pratos mais pesados: por precaução, pegue leve, uma vez que “velho e panela sempre se acabam pelo fundo”. Cada coisa na sua hora. Não estou tão velho assim, ainda posso abusar de quando em quando.
Hoje eu venho com este cardápio sentimental de comidas que provei e que me fazem lembrar da vida. São meus bolinhos de laranja, mesmo eu não sendo Proust. Afinal, basta um cheiro de terra molhada antes do cair da chuva a chuva pesada para suscitar lembranças.
Vale tudo ou quase tudo. Não descarto nem o cheiro de podre à certa altura da Avenida Brasil, uma vez que com ele eu, quando criança, me assegurava que em instantes estaria desembarcando na Rodoviária Novo Rio, após longa viagem de ônibus só Deus sabe de onde.
Enfim, sigo o caminho recordação.
No Rio
Sempre que eu ia à Quinta da Boa Vista, pedia a meu pai para comprar o milho assado da baiana. Como é gostosa espiga de milho assim, assada como se fosse churrasco. E também tinha aquela laranja descascada em uma máquina à manivela. A casca saía inteirinha. E tinha também o suco em um copo que era um filtro de papel.
E na praia, ou nas praias do Rio, o homem-mate passava carregando dois tambores de alumínio. Um era de mate; o outro, de limão. Eu gostava da mistura. Fifty-fifty, please.
E a rosquinha polvilhada de açúcar na padaria do ponto final do ônibus da Barra da Tijuca? Lá pras bandas das ruas do motéis.
Em Maceió
Já nas praias de Maceió, havia a tal da raspadinha. Xarope artifical mais gelo picado. Nunca haverá nada melhor que raspadinha na praia da Avenida, uma praia tão linda quanto suja. Coisas de cidade que pode abandonar uma praia no centro da cidade. E tinha também quebra-queixo no tabuleiro. O do Nordeste era o melhor. Na praia também? Sim.
O cheiro de vida a bufar e a apodrecer nas feiras de rua. Ciriguela vendida a lote em portes de margarina no centro de Maceió. Isso para não falar dos banquetes que a tia Elita preparava como manifestação da hospitalidade da família, do povo alagoano. Em tais ocasiões, meu tio Antonio bebia uma garrafa de aguardente – de leve, para não fazer feio.
Na velha São Salvador
Quando eu chegava à Bahia, eu gostava de comer acarajé sem nada, só o bolinho. Acarajé da baiana cuja banca ficava perto de um hotel velho em Salvador onde nos hospedamos duas vezes. Um lugar que de noite que parecia cinema, outro mundo, outra coisa, fora do tempo, que nem a Bahia da literatura de Jorge Amado, que nem canção de Caymmi. Eu não me esqueci da porta pantográfica. Como é que a pessoa se lembra de uma porta pantográfica em um texto que fala de comida?
Aliás, foi na Bahia que eu Ouvi Luiz Caldas antes de ele ser sucesso nacional. Você já foi à Bahia? Já. Na boca e na porta do céu.
Pausa pro café
“Bom mesmo é café Capital/Tomo um, tomo dois, tomo três/Depois de um café Capital só mesmo um café Capital outra vez”.
No Rio
Doce de Cupuaçu direto do Norte. Alcione é quem trazia quando voltava de Santarém. Azedoce. Coisa boa. Como deve ser bom o Pará. Até hoje, quando topo com gente do Pará, vou logo perguntando se eles arranjam um docinho de cupuaçu, um sorvete, coisa assim. Dona Alda, dona Alda, como você está?
O arroz à carreteiro do seu Sérgio (meu primeiro sogro) era divino. Gaúcho de falar trilegal, tchê. Lembro-me do esmero do churrasco que ele fazia e dos vinhos Galiotto que ele escorava elegantemente nos ombros para verter o sagrado líquido. Tererê com o Roney. Erva-mate gelada. Cuia de chifre. Bomba.
Eu trocaria muita coisa por um galeto com fritas em um dos muitos restaurantes que havia no centro. Chopp gelado, escuro ou claro, tulipa fina. Aquele balcão enorme com um monte de gente comendo em banquetas. Não me esqueci da cena: do restautante vi um mendigo revirar o tonel de lixo lá fora. Eu li o poema “O bicho” antes de ter lido o poema de Manuel Bandeira.
Em Maceió de novo
Sorvete de mangaba. Fiz vergonha certa vez. Fui para Maceió e só comprava de sobremesa sorvete de mangaba. Potes e potes de sorvete de mangaba, todo dia, coisa de quem tem perdeu um parafuso nas estradas da vida. Eu sou assim: a máquina de iogurte que me pai comprou. A Pepsi de garrafa cacarecada da velha venda. O amendoim da velha venda. A maquininha de chicletes de bola. Você punha uma moeda em um slot e girava uma manivela. Lá vinha o chiclete.
Sei lá onde
Eu nunca quis fumar. Eu queria mesmo era mascar Dentine. A bala Kid´s de hortelã corta o sabor de seu cigarro. Eu nunca quis fumar. Só cigarrinhos de chocolate.
Nas dobras do coração
O arroz branco enrolado no jornal dentro do forno do fogão – era para quando meu pai chegasse do trabalho. Não sei de onde minha mãe tirou essa ideia. Um gesto de uma delicadeza ímpar.
A minha mãe era a única mãe que eu conhecia que fritava em casa postas de peixe. De agora em diante irei lembrar também da minha mãe assim: fritando postas de peixe e guardando no forno a panela de arroz branco embrulhada no jornal que foi de ontem.”
Sobre o autor
Radicado em Nilópolis, município do Rio de Janeiro, Cícero César Sotero Batista é doutor, mestre e especialista na área da literatura. É casado com Layla Warrak, com quem tem dois filhos, o Francisco e a Cecília, a quem se dedica em tempo integral e um pouco mais, se algum dos dois cair da/e cama.
Ou seja, Cícero César é professor, escritor e pai de dois, não exatamente nessa ordem. É autor do petisco Cartas para Francisco: uma cartografia dos afetos (Kazuá, 2019), Circo (de Bolso) Gilci e está preparando um livro sobre as letras e as crônicas que Aldir Blanc produziu na década de 1970.