Publicado por Marcelo Auler em seu Blog –
Na Enciclopédia do Golpe, Volume I, (Editora Praxis, 288 páginas, R$ 60,00) por iniciativa do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora – DECLATRA, cujo lançamento ocorre nesta quinta-feira (30/11), na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, ao editor deste Blog foi pedido um verbete sobe a Polícia Federal no golpe que ajudou a derrubar a presidente eleita Dilma Rousseff, em 2016.
No trabalho, que se estende por 21 páginas do livro, a ideia foi demonstrar o foco político que a Operação Lava Jato teve desde seu início. Nem podia ser diferente. Ela é fruto do chamado Processo do Mensalão.
Embora seus “operadores”, da chamada “República de Curitiba” insistam em dizer que o foco inicial fora as operações de quatro grupos distintos de doleiros, os próprios inquéritos existentes mostram que o foco era sim operações de câmbio e de lavagem de dinheiro envolvendo deputados. Não foram explícitas para que não fossem desviadas para o Supremo Tribunal Federal (STF).
Um questionamento que chegou a ser levantado por alguns defensores, mas que no próprio STF foi sepultado garantindo o foro à Justiça Federal do Paraná. O desenrolar dos fatos, porém, demonstram que o foco político sempre existiu. São vários exemplos, que a0o longo dos últimos dois anos foram surgindo. Muitos deles documentados, como demonstramos no texto que conta da enciclopédia, cujas 12 primeiras páginas do artigo reproduzimos abaixo:
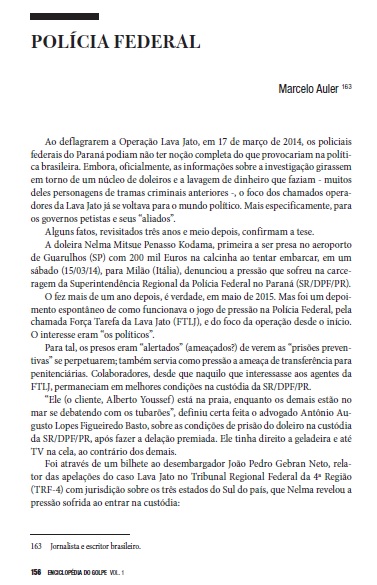 ” Ao deflagrarem a Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014, os policiais federais do Paraná podiam não ter noção completa do que provocariam na política brasileira. Embora, oficialmente, as informações sobre a investigação girassem em torno de um núcleo de doleiros e a lavagem de dinheiro que faziam – muitos deles personagens de tramas criminais anteriores -, o foco dos chamados operadores da Lava Jato já se voltava para o mundo político. Mais especificamente, para os governos petistas e seus “aliados”.
” Ao deflagrarem a Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014, os policiais federais do Paraná podiam não ter noção completa do que provocariam na política brasileira. Embora, oficialmente, as informações sobre a investigação girassem em torno de um núcleo de doleiros e a lavagem de dinheiro que faziam – muitos deles personagens de tramas criminais anteriores -, o foco dos chamados operadores da Lava Jato já se voltava para o mundo político. Mais especificamente, para os governos petistas e seus “aliados”.
Alguns fatos, revisitados três anos e meio depois, confirmam a tese. A doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, primeira a ser presa no aeroporto de Guarulhos (SP) com 200 mil Euros na calcinha ao tentar embarcar, em um sábado (15/03/14), para Milão (Itália), denunciou a pressão que sofreu na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná (SR/DPF/PR).
O fez mais de um ano depois, é verdade, em maio de 2015. Mas foi um depoimento espontâneo de como funcionava o jogo de pressão na Polícia Federal, pela chamada Força Tarefa da Lava Jato (FTLJ), e do foco da operação desde o início. O interesse era “os políticos”.
Para tal, os presos foram “alertados” (ameaçados?) de verem as “prisões preventivas” se perpetuarem; também servia como pressão a ameaça de transferência para penitenciárias. Colaboradores, desde que naquilo que interessasse aos agentes da FTLJ, permaneciam em melhores condições na custódia da SR/DPF/PR.
“Ele (o cliente, Alberto Youssef) está na praia, enquanto os demais estão no mar se debatendo com os tubarões”, definiu certa feita o advogado Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto, sobre as condições de prisão do doleiro na custódia da SR/DPF/PR, após fazer a delação premiada. Ele tinha direito a geladeira e até TV na cela, ao contrário dos demais.
Foi através de um bilhete ao desembargador João Pedro Gebran Neto, relator das apelações do caso Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) com jurisdição sobre os três estados do Sul do país, que Nelma revelou a pressão sofrida ao entrar na custódia:
“Quando cheguei à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, fui ouvida pelo delegado Márcio Anselmo, os procuradores Deltan Dallagnol e Orlando Martelo, os quais me perguntaram: A senhora tem algum político, ou negócio com tráfico de Drogas? Algum fato novo? Porque se a Sra. só tiver operaçõezinhas com chinesinhos não é do nosso interesse” (sic)”
Bem antes de Nelma relatar essas pressões os sinais de que a Polícia Federal daria à Operação Lava Jato conotação política apareciam nos jornais. Notadamente naqueles que se tornaram “porta-vozes dos vazamentos” ilegais de informações sigilosas.
Eram hipóteses, suposições, conjecturas. Tudo noticiado como se já se tratasse de verdades confirmadas. Um jogo de mobilização da opinião pública em torno da tese principal: com o petismo surgiu e ganhou corpo a corrupção.
Nesse jogo, valia mais a notícia do que os fatos do processo em si.
Um exemplo surgiu em 21 de março de 2014, dois dias após a deflagração da Operação (19/05). O site de O Estado de S. Paulo alardeou as suspeitas em torno de um contrato da Labogen S/A Química Fina, empresa de propriedade de Leonardo Meirelles, com o Ministério da Saúde, em 2013. Na empresa também havia digitais do doleiro Alberto Youssef, outro dos presos na operação.Tudo relacionado à gestão de Alexandre Padilha. Àquela altura, ele já não era ministro, mas pré-candidato a governador de São Paulo.
Em 22 de março, o ataque continuou: “PF põe foto de Padilha nos autos da operação Lava Jato”, noticiou o jornal paulista. A própria reportagem, porém, informava:
“A PF não faz nenhuma acusação a Padilha, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, mas à página 134 do documento junta a foto em que ele aparece durante a assinatura de contrato no âmbito da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP).
A polícia não o acusava diretamente. Mas as informações vazadas viravam manchetes. Atingiam a reputação pessoal do ex-ministro e, principalmente (era o alvo?), sua campanha eleitoral.
Foi uma “queimação” política. Afinal, Padilha jamais foi chamado a se explicar neste caso. Oficialmente, nem investigado foi. Assim como a Polícia Federal, como lembrou o jornal, não fazia naquele dia qualquer acusação ao ex-ministro, também não fez depois. Apenas e tão somente queimou sua reputação, como o próprio confirmou:
“É exatamente isso! Nunca fui arrolado, investigado, nada. O mais grave é que este episódio revela exatamente como funcionava o esquema de vazamento para a grande imprensa. Lembro-me como se fosse hoje (não lembro a data exata, mas os quatro grandes jornais deram a mesma manchete Folha, Estadão, Globo e Correio Braziliense).
Estava em caravana pelo interior de SP, por volta das 17h30, e todos os quatro jornais, mais a Rede Globo, procuraram nossa equipe com a matéria, buscando ouvir nosso lado.Fui do governo federal desde 2003, sempre atuando em áreas sensíveis como a Presidência da República (no ministério da Coordenação Política) e depois no ministério da Saúde (que tem muita demanda diária da imprensa). Nunca tinha visto uma situação como aquela. Os quatro grandes jornais, mais a Rede Globo, procuram no mesmo horário por conta da mesma matéria. Havia uma central de vazamento em algum lugar que tinha acesso aos depoimentos”.
Vivia-se não apenas um momento pré-eleitoral, mas um clima de “denuncismo” contra o governo de Dilma Rousseff. O mote principal era o noticiário em cima da compra da Refinaria de Pasadena, nos EUA. A oposição, tirando proveito da situação, apresentou a proposta de uma CPI para investigar os negócios da Petrobras.
Mas o pano de fundo de tudo era voltado, sem dúvida, para as eleições em outubro, por conta da participação da presidente Dilma na busca da reeleição. Curiosamente, a CPI criada como um estorvo para o governo petista acabou por revelar as primeiras ilegalidades da operação policial/política desencadeada em Curitiba. Como o uso de grampos, sem a devida autorização judicial. Portanto, ilegais.
Àquela altura – março de 2014 – os ataques da Operação Lava Jato ao Partido dos Trabalhadores estavam apenas começando. Provavelmente a equipe da Polícia Federal, assim como dos procuradores da República na Força Tarefa de Curitiba, não tinha noção da reviravolta que provocaria no ambiente político.
Os vazamentos persistiam, notadamente de “suspeitos” que, pela Constituição, teoricamente estavam protegidos pelo foro privilegiado. O objetivo era obter o apoio da mídia, instrumentalizando-a para pressionar o próprio Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, em vários momentos o tribunal que deveria estar acima de possíveis intempéries se acovardou.
Pouco depois das primeiras prisões da Lava Jato, um dos operadores na Polícia Federal da Força Tarefa de Curitiba tentou usar um conhecido e, de certa forma, inusitado, “Alvará Metropolitano” que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) possuía.
Emitido pelo juiz da Vara Criminal de Pinhais (cidade vizinha à capital paranaense), José Orlando Cerqueira Bremer, tal alvará, de legalidade discutível, visava auxiliar as investigações em torno do tráfico de drogas na região. Permitia identificar telefones e dava acesso às suas contas para o cruzamento de informações. Não autorizava grampos.
Foi nessa brecha que os operadores da Força Tarefa tentaram identificar dois números que possuíam há tempos, mas, oficialmente, não os identificavam. Esbarravam no foro privilegiado. A barreira continuou. O agente da DRE, ponte com as operadoras de telefonia, nada obteve a não ser a confirmação de que eram números corporativos da Câmara dos Deputados. O fornecimento dos dados desejados tinha que passar pelo STF.
Evitava-se esse trâmite normal e constitucional com o receio de que a investigação fosse avocada. Era preciso mantê-la em Curitiba, sob os métodos, a esta altura, nem sempre ortodoxos, da equipe da Lava Jato. Assim, o Supremo permanecia alheio a tudo.
Mas a imprensa obtinha/recebia as informações negadas ao STF. Como, por exemplo, uma troca de mensagens entre Youssef e o deputado federal, então vice-presidente da Câmara, André Luís Vargas Ilário (PT-PR).
Ela foi noticiada pela Folha de S. Paulo em 1º de abril de 2014, quinze dias após ter início a operação. Era dele um dos números cuja identificação fora negada pela operadora. Outro era usado pelo também deputado federal Luiz Argolo (PP-BA).
No diálogo repassado à imprensa, datado de janeiro daquele ano, o doleiro acertava o empréstimo do seu avião particular – prefixo PR-BFM – para levar os familiares do parlamentar, em férias, a João Pessoa (PB). O vazamento criou um problema ao juiz Moro junto ao ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no STF.
Com a notícia do envolvimento do deputado, os advogados de Paulo Roberto Costa – ex-diretor da Petrobras, preso desde 20 de março -, bem como a defesa de outros investigados também encarcerados, recorreram ao STF. Alegaram a incompetência de Moro, juiz de primeira instância, em investigações envolvendo políticos.
A Reclamação 17623, protocolada em 16 de abril de 2014, não mereceu a liminar pedida: Zavascki primeiro requisitou informações a Moro. Somente em 8 de maio – quase 40 dias após a Folha noticiar o que a investigação sigilosa descobriu sobre um parlamentar com direito a foro especial -, foi que o juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, através das explicações encaminhadas ao ministro, comunicou ao STF algo que deveria ter sido informado imediatamente após sua descoberta.
A explicação para a omissão foi capenga, uma vez que na imprensa os dados já tinham sido publicados com as devidas identidades dos envolvidos. Tampouco houve qualquer explicação sobre o vazamento da informação sigilosa. Nem providências para investigá-lo. Recorreu ao jargão do “encontro fortuito de provas”.
“(…) durante a investigação, especificamente a intercepção telemática de Alberto Youssef, foram colacionadas, em encontro fortuito de provas, mensagens trocadas com pessoa que se identificava como ‘Vargas’. Somente mais recentemente, após as buscas e apreensões, a Polícia Federal concluiu que referida pessoa séria André Vargas, Deputado Federal, e depreendeu do conteúdo das mensagens possível caráter criminoso”, expôs Moro.
Na realidade, nos celulares de Youssef a polícia localizou 270 mensagens trocadas com André Vargas e 1411 com o então deputado Luiz Argolo (PP-BA). Mas Moro alegou que não tinham identificado Vargas como o deputado.
Tampouco falou de outras mensagens que, teoricamente, podem/devem ter sido enviadas a outros parlamentares.
Também não revelou que antes mesmo da deflagração da Operação Lava Jato, os investigadores receberam informações da canadense Blackberry, de mensagens trocadas por aparelhos daquela marca, muito usados pelos doleiros.
O vazamento da troca de mensagens sobre o voo para a família em férias surtiu efeito. A notícia do uso do avião do doleiro por um parlamentar foi mais do que explorada pela mídia. Inclusive relembrando o fato de Vargas, de forma desrespeitosa e infantil, ter provocado o então presidente do STF, Joaquim Barbosa, na abertura dos trabalhos legislativos de 2014, cerrando o punho tal como José Dirceu e José Genoíno o fizeram ao serem presos.
A pressão da mídia, que reverberou a gritaria dos oposicionistas em campanha contra a reeleição de Dilma, fez com que duas semanas antes de a informação de Moro chegar oficialmente ao STF, quando já respondia a um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Vargas se desligasse do PT.
Em 10 de dezembro de 2014, foi cassado. Alegou-se quebra de decoro parlamentar ao intermediar negócios de Youssef com o Ministério da Saúde e o uso do jato do doleiro. Sem mandado, seu processo caiu nas mãos de Moro e logo os dois ex-parlamentares – a cassação do mandato de Argolo deu-se em outubro – foram presos, condição em que permaneciam até outubro de 2017.
Curiosamente, outros políticos que também utilizaram o avião de Youssef jamais foram cobrados por isso. Seja pelos investigadores, seja pela imprensa. A diferença: não eram do PT nem da base aliada do governo petista.
Youssef, natural de Londrina (município ao norte do Paraná, distante 385 quilômetros de Curitiba) é figura bastante conhecida na região. Embora já tenha frequentado as páginas policiais anteriormente, ganhou maior destaque nacional com a Lava Jato. No seu estado de origem sempre desfrutou de boas relações. Inclusive, e principalmente, com os políticos. Independentemente de filiações partidárias.
Isso começou com José Mohamed Janene, deputado do PP-PR, que se aposentou como parlamentar em 2006 e morreu em 2010. Ele aproximou o doleiro/conterrâneo dos parlamentares em Brasília. A intermediação se deu após o cambista ajudar o conterrâneo na sua primeira eleição para deputado federal (1994). Não foi qualquer ajuda. Basicamente financiou toda a campanha.
Janene, Vargas e Youssef conviveram desde cedo. Os três cresceram em Londrina, cidade que em 2017 contabilizava 500 mil habitantes. Na cidade também estudou outro político paranaense que governou o estado (1987/91) e, desde1999, ocupa uma das três cadeiras do Paraná no Senado Federal.
O historiador Álvaro Fernandes Dias, embora natural de Quatá (SP), foi criado em Maringá (PR), cidade natal de Moro. Mas se formou na Faculdade de História da Universidade Estadual de Londrina. Lá iniciou sua carreira política como vereador (1968), aos 24 anos. Foi onde conheceu Youssef, cuja vida foi toda calçada na contravenção/criminalidade.
O doleiro em sua adolescência vendia salgados pelas ruas do município. Logo enveredou pelo crime de “descaminho” (a venda de produtos importados sem o devido recolhimento dos impostos), comum nas regiões fronteiriças do país, como revelou Pedro Cifuentes, correspondente do espanhol El País, na reportagem “Alberto Youssef: o doleiro que arrastou todos em sua queda”:
“Youssef sempre foi um homem de família. Sua irmã Maria foi sua primeira provedora de bens: trazia eletrodomésticos do Paraguai de ônibus e os entregava para seu irmão para que os vendesse na rua. Mas foi sua outra irmã, Olga Youssef, mais conhecida como Flora (também condenada no ‘caso Banestado’), quem o introduziu no turbulento mundo das casas de câmbio”.
Na verdade, Cifuentes errou. Youssef não arrastou todos. Salvou Dias, o senador. Afinal, como ele próprio admitiu na CPI da Petrobras (25/08/15), na campanha eleitoral de 1998 auxiliou Dias na disputa por uma das cadeiras do Senado
Candidatou-se pelo PMDB (ao longo de sua trajetória política, porém, ele passou por oito partidos até desembarcar, em 2017, no PODE). Mais grave, a campanha, pelo narrado na CPI, contou também com verba desviada da prefeitura de Maringá, a cidade natal de Moro:
“Na época eu fiz a campanha do senador Álvaro Dias (…) parte destas horas voadas foram pagas pelo Paolicchi, que foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá. E parte foi doação mesmo que eu fiz das horas voadas”.
Informação confirmada pelo então secretário de Fazenda do município, Luís Antônio Paolicchi. Ele esteve preso pelos desvios milionários ocorridos na gestão do prefeito tucano Jairo Gianoto, entre 1997 e 2000. Paolicchi foi assassinado no final de 2011. O ex-prefeito, em outubro de 2017 ainda respondia ao processo. Mas vivia solto, em suas fazendas no Mato Grosso.
Ou seja, o passeio de voo do deputado Vargas que escandalizou o país e mereceu páginas e páginas dos jornais, provavelmente foi um nada perto do que o doleiro investiu na campanha de Dias. Assunto que mesmo tendo vindo à baila na CPI da Petrobras, com a informação de que envolveu também verbas públicas do município paranaense onde Moro foi criado, não despertou qualquer interesse da grande mídia. Tampouco da Polícia Federal, dos procuradores da República e do próprio juiz, que compuseram a Força Tarefa da Lava Jato, na sanha de passar o Brasil a limpo.
A preocupação de que o nome do senador – na época, 2014, no PSDB – surgisse no bojo da Lava Jato com a prisão do doleiro preocupou muita gente. Em Curitiba, não só na Polícia Federal, é corrente a história de uma visita que Youssef recebeu já na carceragem da Superintendência do DPF, dias depois de ali chegar.
Nela, segundo contam, cobraram garantias de que ele não falaria do senador. A estranha e irregular visita gerou uma sindicância interna na Polícia. Nela foi dada outra justificativa para a presença do visitante na carceragem, uma área
reservada. O assunto acabou esquecido e arquivado. Tal e qual outras estranhas ocorrências na custódia da SR/DPF/PR.
Afinal, na Lava Jato, tornou-se praxe deixarem de lado episódios que colidissem com o seu mote principal: passar o Brasil a limpo. Desde cedo, porém, ficava claro que a limpeza se restringia às sujeiras do petismo e seus aliados.
Já as irregularidades ou mesmo ilegalidade cometidas com o objetivo maior de chegar aos petistas foram relegadas ou escondidas. Nas investigações, os fins justificavam os meios, ainda que esses fossem ilegais.
Youssef, como o próprio juiz Moro definiu no início da Lava Jato, ao revalidar a condenação que lhe dera em 2004, era reincidente:
“Um delinquente profissional […] Teve sua grande oportunidade para abandonar o mundo do crime, mas a desperdiçou”.
A condenação fora suspensa pela delação premiada. Por ele ter reincidido no crime, ela voltou a valer. Paralelamente, foi reaberto outro processo também paralisado.
Em 2003, ao ser pego nas investigações em torno da remessa ilegal de dinheiro para o exterior via o expediente CC5 através do Banestado, o doleiro era considerado um iniciante. Mesmo assim, segundo relatos do próprio Moro no processo paralisado em 2004 e reaberto em 2014, em pelo menos três de suas contas bancárias no exterior passaram valores expressivos: R$ 172.964.954,00 (conta da empresa Proserv Assessoria Empresarial S/C Ltda.); 163.006.274,03 dólares (Ranby International Corp.) e 668.592.605,05 dólares (June International Corp.).
Neste processo reaberto, pegou quatro anos e quatro meses de reclusão, em sentença assinada em setembro de 2014. A condenação, na verdade, pode ser vista como parte de uma estratégia.
Se chegasse a responder judicialmente por todos os crimes dos quais o acusavam, calculava-se que as penas superariam 122 anos. Tal informação servia para lhe pressionar a uma nova colaboração. A sentença ajudava nesta pressão pela delação. Por meses, relutou fazê-la. Depois, cedeu.
Na ação julgada em 2004 (Banestado) sua pena foi de sete anos de prisão em regime semiaberto, por crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas e formação de quadrilha. Foi quando apelou para a “colaboração premiada”, apesar de, à época, ainda não existir tal benefício. Ele surgiu em 2013, no governo de Dilma Rousseff, na lei específica para combater organizações criminosas (Lei 12.850), ainda assim, foi beneficiado. Cumpriu um ano em regime fechado e ganhou a liberdade.
No acordo com Moro, deveria narrar tudo o que sabia e devolver todo o dinheiro obtido com atividades ilegais. Não fez nem uma coisa, nem outra. Basta ver que jamais falou dos financiamentos de campanha de Janene e de Dias. Nem de outras candidaturas que certamente financiou pelo chamado Caixa 2. Também não devolveu toda a verba obtida.
Ao investigá-lo a partir de informações recebidas da Ação Penal 470 – o famoso processo do Mensalão -, em 2006, o delegado federal Gerson Machado, da Delegacia de Polícia Federal de Londrina, soube, pelo próprio, que não revelara a Moro – e, portanto, não devolvera aos cofres públicos -, parte do dinheiro das atividades ilegais.
Ficou com algo entre 20 milhões e 25 milhões, provavelmente dólares. Por si só, essa “omissão” seria suficiente para anularem a colaboração. Mas, informados por Machado do descumprimento do acordado, Moro e o procurador Deltan Dallagnol – que inicialmente concordaram até com quebras de sigilo para que o delegado prosseguisse nas investigações – nenhuma providência tomou para suspender os benefícios conquistados.
Youssef permaneceu livre, leve, solto. E sem concorrente. Inversamente, quem acabou se dando mal foi o delegado.
Espertamente, nas delações ao juiz Moro no Caso do Banestado – cujos resultados foram pífios, como pífias foram as condenações que não atingiram os chamados figurões – ao revelar os “laranjas” das principais contas bancárias por
onde correu a dinheirama enviada ao exterior via CC-5, o doleiro entregou seus principais concorrentes.
Com isso, ao descumprir o acordo e voltar às atividades ilegais, não encontrou obstáculos para crescer no mercado paralelo. Ganhou espaço e destaque suficiente para se tornar o principal operador do esquema que a Operação Lava Jato desvendou.
Desde 2006, portanto, ficava claro que a “colaboração premiada” – que legalmente só seria constituída através da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, a Lei de Combate ao Crime Organizado, sancionada por Dilma Rousseff – poderia se transformar em faca de dois gumes.
Sem dúvida, reconhecidamente, é uma forma de se conseguir indícios – que não podem ser considerados provas -, necessários a investigações deste naipe, mais complexas.
Ao mesmo tempo, porém, pode não passar de armadilha/armação criada por parte do delator com o intuito de atingir desafetos ou mesmo afastar concorrentes. Tal e qual Youssef fez. O que lhe permitiu crescer no submundo do mercado paralelo de câmbio.
O mesmo delegado Machado – aquele que não mereceu a atenção do juiz e do Ministério Público quando alertou sobre a reincidência do doleiro Youssef -, foi quem deu início, em 2006/2007, a investigações que se tornariam, sete anos depois, a Ação Penal da Operação Lava Jato.
Também com informações vindas do Mensalão, acrescidas de denúncias formuladas pelo empresário Hermes Freitas Magnus, instaurou inquéritos policiais – IPLs 790/07 e 714/09 – na Delegacia de Polícia Federal de Londrina, Paraná.
Todos ajuizados junto à 2ª Vara Federal de Curitiba por tratarem de lavagem de dinheiro, na qual a Vara – depois transformada em 13ª Vara Federal Criminal – ficou especializada, tendo Moro sempre à frente.
Oficialmente a investigação girava em torno da movimentação financeira de um assessor de Janene – Meheidin Hussein Jenani. Mas atingia também a mulher do deputado – Stael Fernanda Rodrigues Janene -, que a polícia, os auditores da Receita Federal e o Ministério Público Federal relacionavam com as verbas distribuídas
por Marcos Valério no Mensalão.
Tal investigação gerou um debate jurídico em torno da competência do Foro de Curitiba na Lava Jato. Advogados de defesa consideram que Moro usurpou o poder do Supremo Tribunal, uma vez que, ainda que sem admiti-lo, no fundo investigava Janene, à época, deputado, portanto, com direito a foro especial.
No inquérito que se transformou na Ação Penal nº 5047229-77.2014.404.7000, na qual os doleiros como Youssef e Carlos Habib Chater foram condenados, surgiu a informação de que parte do capital que Janene usou para se tornar sócio de Magnus, na Dunel Indústria e Comércio Ltda., provinha de uma conta da Brasília Torre Comércio de Alimento Ltda.
A Brasília Torre era uma das empresas de propriedade do doleiro Chater. O mesmo dono do Posto da Torre, onde além de combustível, operava com câmbio. Ali também funciona uma lavanderia de roupas que justificou o nome da Operação Lava Jato.
Era o fio da meada que, anos depois, desfiaria o novelo que levou às ações da Força Tarefa de Curitiba (…)
Curta nossa página no Facebook e acompanhe as principais notícias do dia











