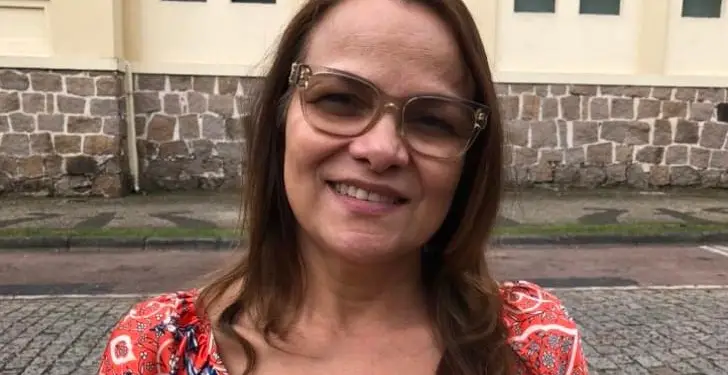Pandemia serviu de pretexto para governos aumentarem as compras de ultraprocessados e enfraquecer culturas alimentares tradicionais
Por Leonardo Fuhrmann, compartilhado do site O Joio do Trigo
A falta de resposta emergencial a uma pandemia, obviamente, é sinônimo de agravamento da insegurança alimentar. Especialmente no Brasil, país que historicamente flerta com a fome e que só piora com Jair Bolsonaro na presidência da República. Entre as comunidades afetadas, a situação mais séria é a de povos indígenas e quilombolas. Mapas e números mostram que esses grupos têm uma taxa de mortalidade maior do que o restante dos brasileiros.
Um retrato nítido dessa gravidade está na tentativa de flexibilização da preferência para indígenas e quilombolas na aquisição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), além da imposição de alguns produtos, casos do leite e da carne suína, como obrigatórios entre as compras feitas pelo programa. Isso, mesmo em regiões e para povos que não têm o costume de consumi-los.
Medidas em tramitação no Congresso Nacional também tentam dificultar o mínimo de 30% de aquisições da agricultura familiar, elencando novas obrigações nas compras do Pnae.
A essas tentativas se somam à suspensão das compras, medida de muitos prefeitos logo no início da pandemia, o que amplia os riscos aos elos mais importantes – e vulneráveis – que deveriam ser contemplados pelo Pnae: os pequenos produtores da agricultura familiar, já que muitos tiram a sobrevivência dos recursos do programa, e os alunos mais pobres, que têm na merenda escolar a principal refeição do dia.
Os quilombolas, por exemplo, já tinham pouco acesso a políticas públicas. Com o governo Bolsonaro e a pandemia, o cenário degringolou. Projetos de lei com temas da agricultura familiar foram vetados pelo presidente, o que atingiu em cheio a soberania alimentar e a renda dessas comunidades. Várias famílias enfrentam condições de vulnerabilidade extrema, já que a principal fonte de renda está nos alimentos plantados nas terras onde vivem.
Do Tocantins, a líder do Movimento Quebradeiras de Coco Babaçu, Maria do Socorro Teixeira Lima, resume uma situação que se aplica a pequenos agricultores que são a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes.
Ela diz que o percentual do Pnae para a agricultura familiar muitas vezes não é destinado aos pequenos produtores e, como é “verba carimbada”, acaba retornando aos cofres federais. “Aqui, em Praia Norte, onde moro, não existe nenhum produtor que acessa esses recursos [Pnae e PAA] para a agricultura familiar”, afirma a liderança do coletivo, que têm mulheres quilombolas entre as integrantes.
Maria aponta a falta de interesse do poder público de se aproximar dos agricultores e encontrar soluções conjuntas. “Temos produção de farinha, feijão e tapioca que poderiam entrar [no Pnae], por exemplo, mas nunca dá certo. O dinheiro bate e volta”, ressalta.
A liderança das quebradeiras de coco garante que em São Miguel do Tocantins, município próximo, alguns produtores conseguem acessar o PAA, mas não o Pnae. “Em Sítio Novo, ainda conseguiram um pouco [do PAA], mas ainda é bem controlado”, revela.
Sobre o agravamento da vulnerabilidade social e econômica, os integrantes da Cooperativa Central dos Produtores Rurais e da Agricultura Familiar do Vale do Ribeira (CooperCetral VR), em São Paulo, também têm muito a contar. Ali, há outro caso emblemático de como a agricultura familiar tem dificuldades de acessar recursos públicos.
A organização reúne 12 cooperativas da região. Três delas, de quilombolas. Segundo Isnaldo Lima da Costa Junior, diretor-tesoureiro da entidade, as vendas institucionais são 100% do negócio das cooperativas associadas. “No dia 23 de março do ano passado, parou tudo. Algumas das associadas passaram a sobreviver de reservas que tinham e outras precisaram de apoio de organizações parceiras, como o Instituto Socioambiental [ISA]”, comenta.
Para Isnaldo, a venda para as prefeituras passa por um trabalho de convencimento dos gestores públicos, mas não só. As organizações da agricultura familiar precisam de condições para ocupar espaços. “Existem vários assentamentos que ainda não acessam a política pública [o Pnae]”, avisa.
A especialidade dos cooperados é a banana, mas Isnaldo avalia que é importante que outras associações se organizem para oferecer produtos variados, deixando o “pacote” mais atrativo para as prefeituras.
No âmbito da cooperativa, já se trabalha para que as associadas possam aumentar o acesso ao programa. “A central acaba tendo, ainda, um papel de uniformizar os procedimentos para ajudar as cooperativas a participar de chamadas públicas e apresentar projetos”, explica.

Alternativa no Amazonas
Para vencer o tipo de barreira enfrentada em Tocantins e no Vale do Ribeira, um projeto no Amazonas apoia o acesso dos povos indígenas e tradicionais aos recursos. A Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas (Catrapoa) foi uma iniciativa do procurador da República Fernando Merloto Soave.
“Em 2016, ele visitou uma aldeia Yanomami e viu que faltava merenda, mas os estudantes estavam comendo produtos da própria aldeia, como açaí, caldeirada e peixe frito. E passou a pensar como seria possível remunerar os moradores para o fornecimento de alimentos para a escola da comunidade”, conta Márcio Menezes, assessor técnico da Catrapoa, que faz parte do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal do Amazonas (Cecane/Ufam/AM), um braço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no estado. Ele passou a atuar ao lado do procurador no projeto.
Um dos bloqueios para que vendas assim fossem efetivadas era a falta de documentos exigidos pela vigilância sanitária, de acordo com o assessor da Catrapoa. A solução foi uma nota técnica de recomendação (emitida pelo Ministério Público Federal no Amazonas em 2017) que autorizava a aquisição desses produtos se fossem para autoconsumo, ou seja, para a própria comunidade tradicional ou originária em que foram produzidos. “É um respeito à cultura local. Além disso, ao entrarem no Pnae, as comunidades passam a ter a possibilidade de preencher os requisitos necessários para se tornarem fornecedores para escolas de fora da comunidade, para as quais não vale o conceito do autoconsumo”, diz Márcio.
A iniciativa foi desenvolvida em uma parceria de órgãos federais, estaduais e municipais com líderes das comunidades e outras organizações. E a Catrapoa recebeu, neste ano, o Prêmio Innovare de boas práticas no Judiciário, na categoria Ministério Público, e se tornando modelo para outros estados das cinco regiões do país.
Pará e Roraima já instalaram comissões inspiradas na iniciativa e outros dez estados estão em processo de cria-las. A ideia também pode se tornar lei. O senador Jaques Wagner (PT-BA) apresentou, em março deste ano, o PLS-880/2021, que institui a Política Nacional de Promoção da Alimentação e dos Produtos da Sociobiodiversidade de Povos e Comunidades Tradicionais, que trata, entre outros temas, da compra desses alimentos pelo Pnae.
Bolsonarismo ultraprocessado
Em outubro do ano passado, uma construção coletiva reuniu advogados quilombolas e de diferentes organizações de direitos humanos em uma ação que provocou o Supremo Tribunal Federal (STF) a obrigar o governo federal a desenvolver políticas específicas às populações indígenas e quilombolas.
Pressionado, Bolsonaro e companhia não fizeram mais do que se esperava deles: ações improvisadas que beneficiaram as empresas do agronegócio e as grandes fabricantes de ultraprocessados.
Cestas básicas foram distribuídas para essas comunidades sem levar em conta a cultura alimentar dos povos e a alimentação saudável. De outro lado, o presidente já havia vetado a inclusão de agricultores familiares não inscritos no Cadastro Único, mesmo que se enquadrassem nos requisitos, bem como assentados da reforma agrária, extrativistas e pescadores artesanais no auxílio emergencial.
Membro da Comissão Nacional de Soberania e Segurança Alimentar dos Agentes da Pastoral Negros do Brasil e da Rede Josué de Castro do Nordeste, o pesquisador Edgard Aparecido Moura destaca que as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), já indicavam, em setembro do ano passado, um crescimento na insegurança alimentar, principalmente entre as mulheres negras e indígenas.
“O impacto da merenda escolar é muito grande no Brasil, são mais de 41 milhões de estudantes na rede pública. Se levarmos em conta, também, o Mova, de alfabetização de adolescentes e adultos, o número chega próximo a 47 milhões”, afirma Edgard. “Muitos desses alunos têm a alimentação escolar como principal refeição do dia”, diz o pesquisador, que integrou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), extinto por Jair Bolsonaro no primeiro dia de mandato.
Com a suspensão das aulas, inúmeras escolas interromperam o fornecimento da alimentação escolar Brasil afora e as prefeituras suspenderam a compra dos produtos sob a alegação de insegurança jurídica. A interpretação era de que, sem aulas, não haveria motivo para manter as aquisições.
O FNDE editou uma resolução para que as compras continuassem, inclusive com os 30% para a agricultura familiar. “Qualquer interrupção já significou um prejuízo grande para os produtores, porque os produtos in natura e com baixa industrialização têm um prazo de validade menor, sem falar na dificuldade que eles têm de vender para outros mercados”, explica Edgard Moura.
Uma solução comum entre as prefeituras foi passar a fornecer kits de alimentação para os alunos. O cartão de supermercado, alternativa usada, acabou fazendo com que as pessoas optassem por ultraprocessados, até por uma questão de preço mais baixo.
Porém, a opção pelos kits não foi suficiente para garantir que as prefeituras mantivessem frutas e verduras na alimentação dos alunos. “As famílias estavam com menos recursos pela pandemia e tinham de usar o kit para a alimentação de todos. Era importante, inclusive, um complemento para dar conta dessa situação, argumenta Edgard.
Sem planejamento, a opção recaiu sobre cestas básicas prontas, com alimentos de mais fácil manipulação e conservação, como os ultraprocessados.

Coordenadora do projeto Crescer e Aprender com Comida de Verdade, da Fian Brasil (Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas), Vanessa Manfre, diz que a produção dos kits reforçou desafios que já estavam presentes no Pnae antes, como a necessidade de integração de políticas da educação com as secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e órgãos técnicos de auxílio à agricultura familiar.
“O nutricionista precisa conhecer os hábitos alimentares da região em que atua e elaborar um planejamento que leve em conta o mapeamento da produção agrícola e a sazonalidade de cada cultura”, argumenta Vanessa, que é nutricionista, mestre em Nutrição em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).
Essa ação passa, também, pelo convencimento de diretores, de conselhos de pais e da coordenação pedagógica nas regiões onde a compra de perecíveis é feita diretamente pelas escolas. “A gente sabe que é mais difícil trabalhar com produtos menos processados, exige mais cuidados com a manipulação e a estocagem, além de um acompanhamento para a fiscalização dos produtos no momento da chegada, para ver se eles estão em conformidade. É preciso ficar evidente para todos os agentes envolvidos a vantagem desse investimento em uma alimentação mais saudável”, pondera a nutricionista.
Ela destaca ainda a importância da compra de produtos da agricultura familiar, ainda mais em tempos de crise, para a segurança alimentar dos próprios produtores. “A gente está falando do direito dos alunos à saúde e à alimentação saudável, mas, também, de garantir a segurança alimentar das famílias no meio rural e ter mais um instrumento para o fortalecimento da economia local”, conclui.