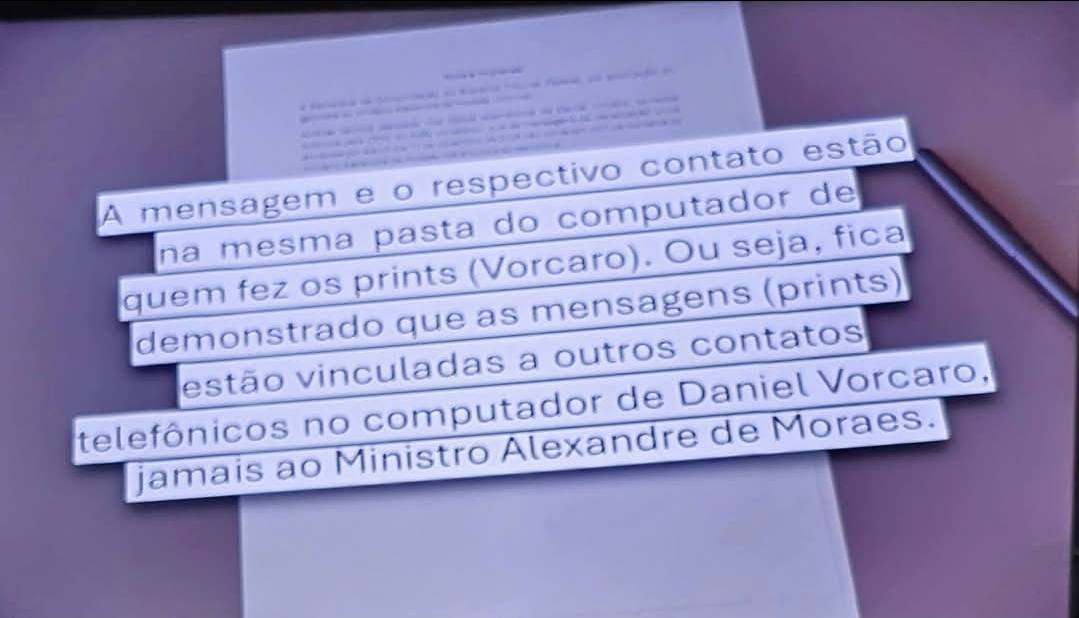Por Ricardo Queiroz
Nós tínhamos uma TV Invictus comprada em meados da década de 60. Tarde de domingo, 14 de dezembro de 1975. Beira-Rio, Internacional x Cruzeiro. Falta na intermediária. Nelinho se posiciona. Um dos chutes mais potentes e exatos do futebol brasileiro. Solta uma bomba. A bola faz uma curva seca, do meio para o canto direito.
No gol, Hailton Corrêa de Arruda, então goleiro do Internacional, elegante, já com luvas, no passado não usava, se estica inteiro. Vai buscar no ângulo. Espetacular. Mais uma conquista de Manga. Uma das defesas mais bonitas que esse país já viu. Eu tinha oito anos. E depois daquilo e de meia duzia de lances vividos, entendi que o futebol carregava algo que ainda me escapava. Alguma coisa parecida com poesia.
O futebol era com o pai, raramente com o irmão que pouco ficava em casa e com a imaginação. Tinha os jogadores heróis, os vilões e os jogadores que traziam alegria. Era bom ouvir futebol ao vivo no rádio e, as vezes , como naquela tarde, na televisão.
Manga, o goleiro da defesa mágica, morreu hoje. Aos 87 anos. O noticiário foi seco, econômico. Como se avisasse o fim de uma era sem se comprometer com o luto. Foi assim que ele viveu: discreto no que era íntimo, gigante no que importava.
Quem viu, não esquece. Manga era corpo. Mãos enormes, negras, dedos tortos. O uniforme preto contrastando com a grama. Um silêncio antes do chute, uma explosão depois da defesa. Jogava sério, sóbrio, concentrado. O goleiro carrega sempre o peso da dúvida.
Veio do Recife. Começou no Sport. Brilhou no Botafogo de Garrincha e Nilton Santos. Foi à Copa de 66, viu o vexame de perto. Mas seguiu. Foi reinar no Nacional do Uruguai, conquistar Libertadores, Intercontinental. Depois veio o Inter. E a defesa contra Nelinho, com dois dedos quebrados, virou crônica, virou arquivo de memória. Jogou até os 45. Passou por Coritiba, Grêmio, Equador. Parecia que não tinha fim.
Não era simpático. Não sorria pra câmera. Não fazia cena. Era desses que olham o jogo de frente, de costas para a torcida, carregando o peso de ser o último. O último a errar. O último a salvar. O primeiro a cair quando tudo dá errado. O goleiro.
E mesmo assim, seguia. Sem firula, sem dengo. Era duro. De uma dureza que não é pose — é cicatriz. Não usava luvas. Não por vaidade. Por confiança. Confiava nas mãos. Nas próprias.
Dizem que morreu longe dos holofotes. Verdade e mentira. Porque tem gente que não morre direito. Fica em algum canto do campo, num lance em preto e branco, numa conversa atravessada no boteco, num domingo de várzea em que o pai aponta pro goleiro e diz: “esse aí jogava como o Manga”.
Manga foi o que sobra quando tiram o exagero, o truque, o brilho falso. Ficam só tipos como ele, inteiros e íntegros. Um goleiro de verdade. Um homem atravessado de jogos. E agora, com sua morte, o gol ficou mais exposto. Eu fico aqui com a lembrança da bola em curva e o guarda valas indo ao seu encontro. Tão bonito.
Boa viagem, camarada.