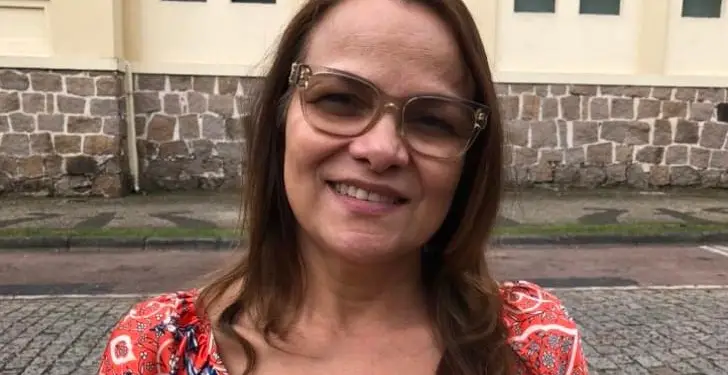Tri da Argentina no Catar gera provocações ao Brasil – mas na disputa dos países, dá empate entre pendores e mazelas
Por Aydano André Motta, compartilhado de Projeto Colabora
A bandeira do Brasil arde em chamas inconsequentes, despropósito no meio da festa delirante que toma a “avenida más ancha del mundo”, grandiloquente rótulo da 9 de Julio. Milhões de bípedes enlouquecidos se espremem em torno do obelisco icônico para saudar os campeões, Messi mais do que os outros. A ensolarada Buenos Aires e a Argentina toda mergulham numa folia incomum ao povo mais afeito à melancolia dos dilemas de identidade, dramas políticos e tragédias econômicas. Ficou parecendo o Brasil, com sua alegria endêmica.
Do lado de cá da fronteira, não devemos nos ocupar do ato xenófobo, tosco – ainda mais numa jornada de euforia pelo tri da Copa do Mundo, após 36 anos de seca. A rivalidade não anula a boa convivência entre povos vizinhos e periféricos, igualmente metidos na luta eterna por dar cabo de agendas historicamente por realizar. Eles têm muito a nos ensinar – e precisam aprender bastante também.
Do futebol para o resto – “ah, mas os argentinos se dedicam mais à seleção, não pintam o cabelo nem se preocupam com dancinhas, pipipi popopó”. Quanta bobagem. Lá, como cá, os jogadores vão embora adolescentes para a Europa, enriquecer no epicentro da bola. Até outro dia, o maior deles, Messi, sofria com a acusação de ser “pouco argentino”, por ter se mudado ainda menino para a Catalunha.

O campeonato nacional é uma esculhambação surrealista, há uma teimosa e aterrorizante violência das torcidas, o racismo grassa pelos estádios e os clubes jazem numa aguda decadência. Desde 2019, os times do país ficam pelo caminho na Libertadores – e quando os rivais Boca Juniors e River Plate chegaram à final do torneio, em 2018, o jogo precisou ser realizado em Madrid, devido a pesados distúrbios entre os torcedores. A barbeiragem argentina levou o desfecho de uma competição chamada Libertadores para a capital dos colonizadores.
O futebol brasileiro é incomparavelmente mais organizado, economicamente mais robusto e produz talentos mais consistentes. Nos últimos anos, quando a bola rola, os argentinos se reduzem a fregueses indefesos.
Mas em outros aspectos da vida, nossos vizinhos têm muito a ensinar. Para começar, uma goleada em quesito essencial: a valorização da democracia. A sociedade argentina não negocia a liberdade e o estado de direito, por lá inexistem crimes como faixas clamando por “intervenção militar” ou fechamento da Suprema Corte. Ditadores são julgados, presos e, sobretudo, banidos da vida pública, sem choro nem vela.
Já passou aqui pela coluna, mas nunca será demais a repetir a cena da retirada dos retratos dos generais-ditadores da galeria de presidentes, determinada, em cerimônia pública, pelo presidente Néstor Kirchner. No Brasil, militares que usurparam a democracia e foram mandantes ou cúmplices de arbítrios e violências – a tortura, entre elas – são bajulados por grande parte da sociedade, incluindo grifes importantes da mídia.
Assim, um deputado inimigo do trabalho exaltou um torturador em pleno Congresso. Não apenas escapou de qualquer retaliação, como acabou presidente. Aqui, materializamos o vexame planetário de eleger Bolsonaro. Lá, o escolhido foi o esquerdista Alberto Fernandez.
Dos dois lados da fronteira, há intensa polarização política. No Brasil, o embate se dá entre os tresloucados bolsominions e os defensores da civilidade, conflito que tragou a camisa da seleção, transformada em farda dos intolerantes. Na Argentina, peronistas e antiperonistas se dividem em querelas eternas – e o uniforme albiceleste, ao menos, mantém-se longe da briga.
Mas a luta antirracista deste lado da fronteira, apesar de muito por fazer, está mais adiantada. Enquanto os negros aqui somam mais da metade da população, lá não chegam a 3%, resultado de um tenaz processo genocida e do apagamento da história dos africanos da diáspora e seus descendentes. Jamais por acaso (e de volta ao futebol) banalizam-se cânticos racistas de torcedores do país em duelos contra brasileiros.
Na economia, é pior do que o 7 a 1. O Brasil humilha, com um PIB de US$ 1,6 trilhão, o maior da América Latina e nono do mundo – a riqueza produzida na terra de Messi estaciona em US$ 491 bilhões. Trágica mesmo é a inflação que se aproxima de apocalípticos 100% anuais; no Brasil, fechará o ano abaixo dos 6%. Os argentinos sequer acreditam na sua moeda, o peso; os que podem acumulam dólares embaixo do colchão ou abrem contas no exterior.
(A descrença se alimenta também de um conflito de identidade. Espalha-se, por lá, a ilusão de serem “os europeus da América Latina”, mas um ditado difundido no país zomba dos nativos como “italianos que falam espanhol e acham que são ingleses”.)
Adoramos o vinho Malbec, o bife de chorizo e as empanadas, imitadas aqui por todo lado. Eles admiram a grandeza dos vizinhos que falam português, amam Búzios, Pipa e outros balneários (fazem muito bem) e cultuam nossa vocação festeira, especialmente pelo Carnaval. O cinema de lá é muito melhor do que o nosso, como provam os dois Oscars, contra nenhum aqui. No Prêmio Nobel, está pior ainda: 5 a 0.
Somos, dos dois lados da fronteira, periferia do mundo, com dramáticas urgências sociais e ambientais. Quanto mais unidos Brasil e Argentina estiverem, melhor será. Bandeiras queimadas servem para nada.
E muita gente por aqui gosta mais de Messi do que Neymar. Com razão.