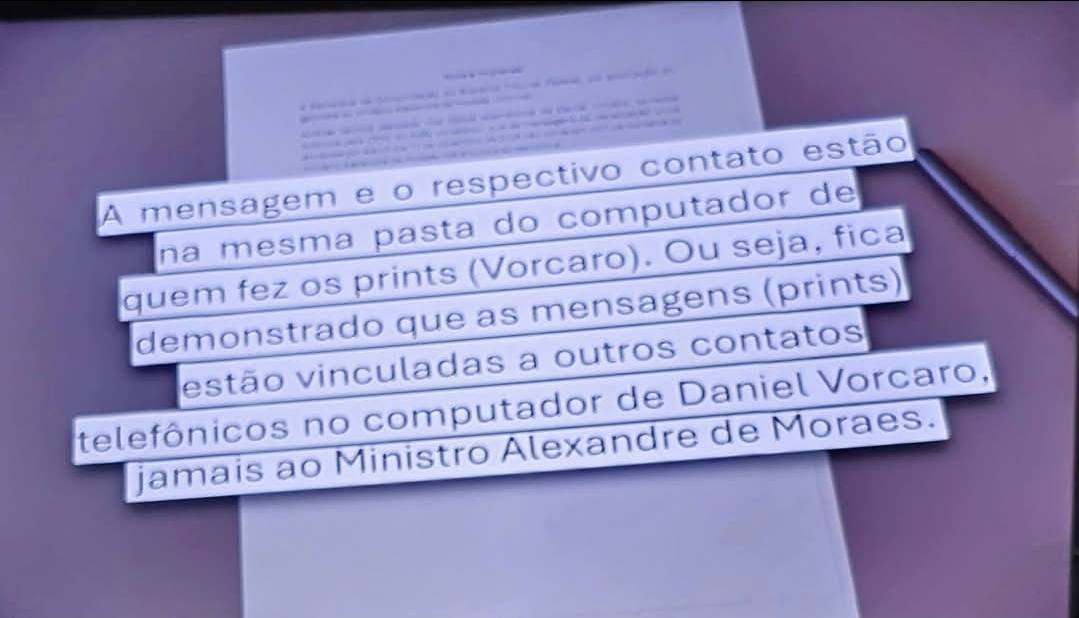Por Mário Magalhães, publicado em The Intercept –
CERTOS TIPOS TIDOS como videntes políticos exercitam um truque manjado. Enquanto os incautos supõem que o futuro se descortina aos aparentes profetas, o que estes dominam é o passado. Conhecem seus segredos e escrutinam seus mistérios. Miram o espelho retrovisor para aprender com a História e especular sobre o porvir, embora pareçam buscar vaticínios em bolas de cristal.
Qualquer mortal pode mimetizar os falsos adivinhões e, prescindindo de afetações charlatãs, não se surpreender com os caminhos da recém-iniciada intervenção federal-militar no Estado do Rio de Janeiro. Basta olhar para trás e observar a Operação Rio, desenvolvida nos dois derradeiros meses de 1994. Governos, circunstâncias e protocolos mudaram, mas não discursos, métodos e encenações.
“General limpará as polícias”, titulou o jornal “O Dia”, em 4 de novembro de 1994. Dali a uma semana, atualizaram tempo verbal e ufanismo: “Exército passa o rodo na polícia”. Em 2 de novembro, “O Globo” antecipara: “Exército anuncia operação de faxina na polícia do Rio”.

No que deu tanta promessa? Em mais promessas das autoridades, 24 anos mais tarde. No domingo 18 de fevereiro de 2018, “O Globo” manchetou: “Combate à corrupção policial será prioridade da intervenção”.
Acossará agentes públicos corruptos uma intervenção urdida por Michel Temer e Moreira Franco, correligionários dos presidiários Sérgio Cabral e Geddel Vieira Lima?

Se o significado de “normas” for o mesmo de “leis”, danou-se o Estado de Direito.
A Operação Rio, no século 20, foi um convênio entre União e Estado que entregou ao Comando Militar do Leste o controle da Segurança Pública do Rio. Considerou “a situação da criminalidade no Estado, com a atuação de grupos de delinquentes, estruturados em torno de tráfico local de drogas e fortemente armados”. Pretextou fatos que “ameaçam gravemente a ordem pública”.
A intervenção do século 21 alega “o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”. Limita-se “à área de segurança pública”, contudo o interventor, subordinado ao presidente da República, “não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”.
Se o significado de “normas” for o mesmo de “leis”, danou-se o Estado de Direito.
O decreto assinado na sexta-feira esclarece que “o cargo de interventor é de natureza militar”. Seu ocupante é o chefe do Comando Militar do Leste, general-de-exército Walter Souza Braga Netto. Em agosto, o oficial de Cavalaria manifestou “reservas” em relação ao emprego das Forças Armadas em conflitos internos. Não se tratava, tudo indica, de contrainformação.
O Tico e o Teco não precisaram nem tabelar. Bastou um só neurônio para se dar conta do caráter de manobra política do que da boca para fora se apregoa como ação contra o crime. Com a intervenção e a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Temer tenta se cacifar num jogo em que carece de fichas (o Datafolha cravou em janeiro humilhante 1% de intenção de voto nele para o Planalto).
A intervenção prosseguirá até dezembro. A eleição presidencial está marcada para outubro. A hipótese de Temer vencê-la é igual à de o Botafogo conquistar neste ano a Copa Libertadores da América, competição que o clube nem disputa. Mas o velho companheiro de Eduardo Cunha pretende influenciar a campanha. Se a criminalidade mais explícita hibernar até outubro, o governo e seus arautos venderão a intervenção como um sucesso.
Operação Rio
Em 1994, a Operação Rio foi deflagrada entre o primeiro e o segundo turnos da eleição para o governo fluminense. Em 3 de outubro, com apoio do presidente Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso se elegera para sucedê-lo. No Rio, classificaram-se ao mata-mata decisivo Marcello Alencar, do mesmo PSDB de FHC (e do então deputado Sérgio Cabral), e Anthony Garotinho, ainda no PDT do ex-governador Leonel Brizola. O governador Nilo Batista fechava com Garotinho.
“O Globo” veiculou opiniões opostas. De um lado, “FH defende intervenção na polícia do Rio”, “FH apoia intervenção e diz que ‘o Rio está se desmilinguindo’” e “FH anuncia esforço para salvar o Rio”. De outro, “Governador denuncia ação política”. Pressionado, Nilo firmou o convênio.
Um dia antes, publicou a “Folha de S. Paulo”, Brizola se queixara ao Tribunal Superior Eleitoral de “ações perturbadoras para a normalidade das eleições”. Noutras palavras, a iminente Operação Rio. Condenou “operações militares espetaculosas”. Apontou “condenáveis expedientes com o propósito ilícito de desestabilizar o governo do Rio” e “criar dificuldades” para Garotinho.
Em 15 de novembro, Marcello, afamado como “Velho Barreiro”, bebeu 56% dos votos válidos. Garotinho, na época um político em ascensão, 44%.
É difícil estimar a consequência, nas urnas, da Operação Rio (seu “legado” como exemplo de luta contra o crime é nulo). Como será com a intervenção militar de 2018? Em comum, o calendário maroto, coincidente nas duas iniciativas: as tropas atuam até as eleições e partem semanas depois.
Braga Netto, indagado sobre a gravidade da situação no Rio, alfinetou: “Muita mídia”. Se o general de quatro estrelas insinuou que a crise é ficção encapada como informação, enganou-se. No entanto, as estatísticas o amparam, caso tenha pensado em Estados onde a violência castiga ainda mais, sem merecer a devida atenção do jornalismo.
A tragédia é a mesma, porém é cantada com estridências distintas de acordo com o palco.
Reportagem de Henrique Araújo na revista “Piauí” contou que no Ceará, de 2016 para 2017, os homicídios aumentaram 50%. O índice de assassinatos de mulheres cresceu 73%, acelerando no fim do ano. O “Anuário Brasileiro de Segurança Pública”, com base em números do ano retrasado, antes da deterioração de 2017, situava o Ceará como o décimo estado brasileiro com mais mortes violentas intencionais (taxa sobre 100 mil habitantes).
O Rio ficou em 11º. Por que Temer interveio no Rio, e não nos líderes do ranking de mortandade, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas?
O presente reprisa o passado. A intervenção federal-militar foi precedida por episódios de violência e crueldade de vasta exibição. São fatos trágicos do cotidiano do Rio que só costumam tornar-se escândalo quando acontecem em bairros de classe média para cima. A tragédia é a mesma, porém é cantada com estridências distintas de acordo com o palco.
Em 1994, foi semelhante. Noticiava-se a “escalada da violência”, com “guerra ao tráfico”, “guerra entre torcidas”, “a guerra que mancha o Rio de sangue”. Em 18 de outubro, policiais civis mataram 13 pessoas, algumas em execuções sumárias, numa chacina na favela Nova Brasília. “O Globo” interpretou: “Polícia invade duas favelas e mata 13 bandidos”.
A Operação Rio foi recebida com esperança por amplos segmentos da população. Mas logo se evidenciou um contraste: no asfalto, apoio maciço; nos morros e noutras comunidades pobres, antipatia e temores crescentes. Em novembro de 1994, um editorial da “Folha” deu pistas sobre o motivo: “Poucos resultados efetivos e muito abuso de autoridade. É assim que se pode definir a primeira intervenção mais direta do Exército no combate à criminalidade no Rio”.
Que magistrado bancará ordem para invadir na marra todos os prédios e apartamentos da orla de Ipanema e Leblon?
As vítimas de abuso de autoridade, como prisão sem flagrante ou ordem judicial, não eram os cariocas mais abonados. Se vingar o plano de Temer, com aberrantes mandados de busca e apreensão coletivos, as ameaças aos direitos dos cidadãos serão maiores.
Que magistrado bancará ordem para invadir na marra todos os prédios e apartamentos da orla de Ipanema e Leblon? A favela, suas famílias e suas crianças, serão ainda mais vulneráveis à arbitrariedade. O vampiro da Sapucaí, com ou sem a sumida faixa presidencial, tem sede de sangue.
O comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, reivindica para os militares “garantia para agir sem o risco de uma nova Comissão da Verdade”. A comissão investigou crimes contra os direitos humanos. O general sugeriu que vêm aí novas violações?
A intervenção de 2018 se desenha como a Operação Rio radicalizada.
Se o roteiro de duas décadas e meia atrás prevalecer, o tom triunfalista nos meses vindouros tende a equiparar confrontos com traficantes a façanhas de guerra. “O Dia” trombeteou, pouco antes e durante a Operação Rio: “Chegou o general”; “General vai à luta e escapa da morte”; “Que venham os traficantes!”; “Front de guerra: parecia que estava no Vietnã”; “Rio vai vencer a guerra”; “Linha dura contra o tráfico”.
A intervenção em vigor sobrevém à ruína do projeto de Unidades de Polícia Pacificadora. O principal motivo do malogro foi abordar violência e segurança pública exclusivamente como questões policiais, e não, sobretudo, sociais. As promessas se cobrem de mofo: “Exército começa a invasão social”, deu “O Dia” em dezembro de 1994.
A tal invasão deve ter se inspirado na Batalha de Itararé de 1930, aquela que não houve.
O governador Pezão é herdeiro de Sérgio Cabral. O consórcio peemedebista que destruiu o Estado teve muitos sócios, incluindo oponentes de hoje, como PT e PC do B, partidos que participaram das administrações Cabral e, na Prefeitura do Rio, Eduardo Paes. O prefeito Marcelo Crivella, em seus viajantes vídeos recentes, não parecia na Alemanha, na Áustria e na Suécia, e sim em Amsterdam.
Em 13 de dezembro de 1994, em plena Operação Rio, “O Dia” saiu com uma primeira página da melhor antologia jornalística nacional. No alto, a manchete: “Elle escapou: 5 a 3”. Por maioria, acolhendo a tese de falta de provas, o Supremo Tribunal Federal absolvera Fernando Collor de Mello e seu tesoureiro PC Farias da acusação de corrupção passiva. Abaixo da boa nova para o ex-presidente, o jornal imprimiu a foto de um brasileiro atrás das grades, com a chamada: “Ladrão de galinha na cadeia”.
Nas próximas semanas, não faltarão ladrões de galinha em cana. Não será surpresa os capitalistas do narcotráfico e os capi das milícias serem preservados.
Cazuza cantou que “o tempo não para”.
Às vezes, eu acho que o tempo não passa — ou tudo se repete demais.
Esclarecimento: esta coluna cita somente títulos de “O Globo” e “O Dia” porque foram estes os jornais analisados na fonte em que eu bebi, a dissertação de mestrado “Operação Rio: O ritual da guerra no jornalismo”. A autora, Fernanda da Escóssia, apresentou-a à Escola de Comunicação da UFRJ. Defendeu-a em 1996 e foi aprovada com louvor. Seu trabalho é um instrumento valioso para entender, em qualquer época, os discursos e imaginários sobre violência e segurança pública. No Brasil de indigências também intelectuais, a dissertação ainda não foi editada em livro. Transparência: a autora da dissertação e eu somos casados.
Foto em destaque: Soldados revistam passageiros de ônibus em Acari, em 12 de dezembro de 1994.