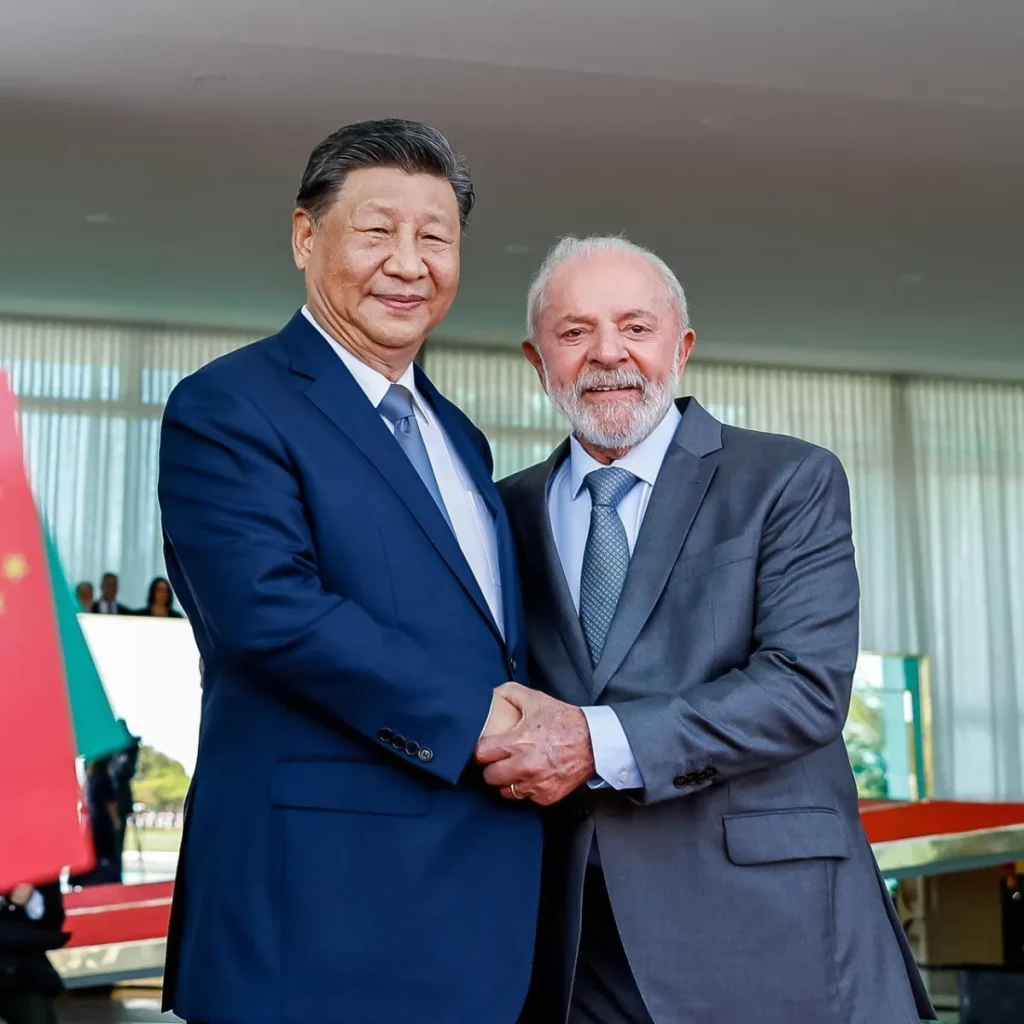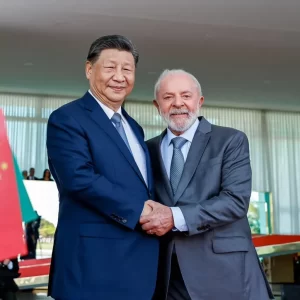Por Juan I. Irigoyen, publicado em El País –
Visita a uma das favelas do Rio onde o esporte é uma opção para escapar da tentação do tráfico
“Karen!, Karen!, Karen!.”
O grito é agudo, brincalhão e insistente, ignorado por todos que conversam na pequena sala de uma casa qualquer no Morro do Salgueiro. O cachorro late, as gaiolas dos canários rangem e Karen, de 11 anos, salta num impulso do sofá. Ouve-se o estalar dos chinelos no chão quando ela corre por ruelas que parecem labirintos. “Vieram buscá-la porque é a melhor”, diz o avô da menina. É a primeira vez que ele abre a boca, talvez a única. Quem domina a conversa é sua mulher. Primeiro mostra a casa, depois as vistas do Morro, também se refere aos pássaros e, acima de tudo, se gaba da neta. Boa aluna, campeã de jiu jitsu na escola da polícia, apaixonada por futebol. “Neymar?”. E responde: “Não eu gosto da Marta.”

Karen desliza pelas ruas íngremes e serpenteadas, uma subida dura para um forasteiro, não para ela, muito menos em um sábado pela manhã, quando chega a hora de jogar bola na escola de futebol do Salgueiro. No morro vivem cerca de 7.000 pessoas. É uma das 767 favelas do Rio de Janeiro. No total, 20,63% dos habitantes da cidade vivem em assentamentos informais. “Eu digo: ‘tome pelo menos um copo d’água. Você não pode praticar esportes sem beber água. Pode fazer mal”, reclama a avó de Karen, aposentada; seu marido trabalha como pintor, sua filha vende café e seu genro é motoboy.
Karen não está sozinha no campinho. É uma das 100 meninas e meninos que integram a escola, um projeto do ativista social Marcos Lelello. Às nove horas o portão é aberto e aparecem os pequenos de oito a 12 anos. “Bom dia”, todos dizem. Alguns fecham as mãos e batem os punhos. Estão vestidos com camisas brancas e calças azuis, mas poucos têm tênis. “iniciei este projeto há quase 20 anos para meus filhos, meus sobrinhos e alguns amigos deles. A ideia sempre foi a mesma: afastar, pelo menos por um tempo, as crianças das ruas”, conta Lelello. Maria observa como seu filho Gabriel Couto, mais entusiasmado do que talentoso, correr atrás da bola. Ela é a única mãe. “Hoje, por sorte tive um dia de folga e pude vir.” “O melhor do projeto”, diz Maria, “é que os garotos ficam longe dos bandidos.” E acrescenta, com alegria: “E olha quantas meninas! Meu pai não me deixava jogar futebol.”

Já faz uma hora que as crianças entraram em campo quando, de repente, aparece Jeseil, com passo lento e cara de sono. Todos o aplaudem e Lelello o filma com seu celular. Espera num canto até que os colegas terminem o exercício. “Eu não sou professor, sou um integrador. Aqui as crianças sabem que precisam cumprir horários, respeitar os colegas e não falar palavrões”, explica Lelello.

“Gosto de vir aqui porque não há brigas. Ninguém bate em mim ou grita comigo. Não é como no campo de cima”, diz Joan, que fala para dentro e explica que não gosta de Neymar porque cai muito. “Ali acontecem outras coisas”, intervém Rafael. O campo acima fica muito no alto. A poucos metros do topo do morro, de onde se vê o Maracanã, há um outro campo. Definitivamente não há nada a invejar de alguém de um bairro de luxo no Rio. O gramado artificial é impecável e até tem uma espécie de arquibancada. “Nada de fotos”, avisa Lellelo. Dois segundos depois se entende o porquê. Um homem com cara de quem já encarou as piores misérias da vida protege a casa ao lado do campo com uma metralhadora presa ao corpo. “Aqui jogam com pistolas na cintura. Não é fácil vencer “, diz Rafael.
O jogo termina. E chega a hora de comer. Para alguns, a mais esperada. Enfileirados em cadeiras de frente um para o outro, abrem espaço para que Lelello distribua sanduíches e Rafael encha os copos com Fanta. “Para muitos, é a única refeição do dia”, explica o organizador do projeto. Quem financia? “O Governo ajuda na época das eleições, a polícia entra a tiros. Aqui ajudamos uns aos outros. Gente amiga que colabora”, diz. Como Pablo Dyego, jogador do Fluminense, criado sob as asas de Lelello. “Amigos, a gente só tem que confiar nos amigos. Não quero dinheiro, depois tenho de prestar contas.” Lelello está coletando livros para montar uma biblioteca e a única coisa que pede é colaboração com material esportivo. Tudo para suas crianças. “Veja como estão contentes.”
Peitilho azul na camisa, Karen marca um gol. E seu grito é silencioso, com o punho fechado. Está descalça. “Estragaram. Tudo bem”, diz Karen, em quem o Fluminense já está de olho. “Muitas coisas vão faltar pra nossa menina, mas não lhe faltarão sonhos”, diz sua avó. E Karen deixa a imaginação voar. Espera que algum dia a torcida do Fluminense grite seu nome. Ou a do Brasil, por que não, como Marta. O desejo de Lelello é mais simples. “Que a polícia nunca grite o nome dela.”