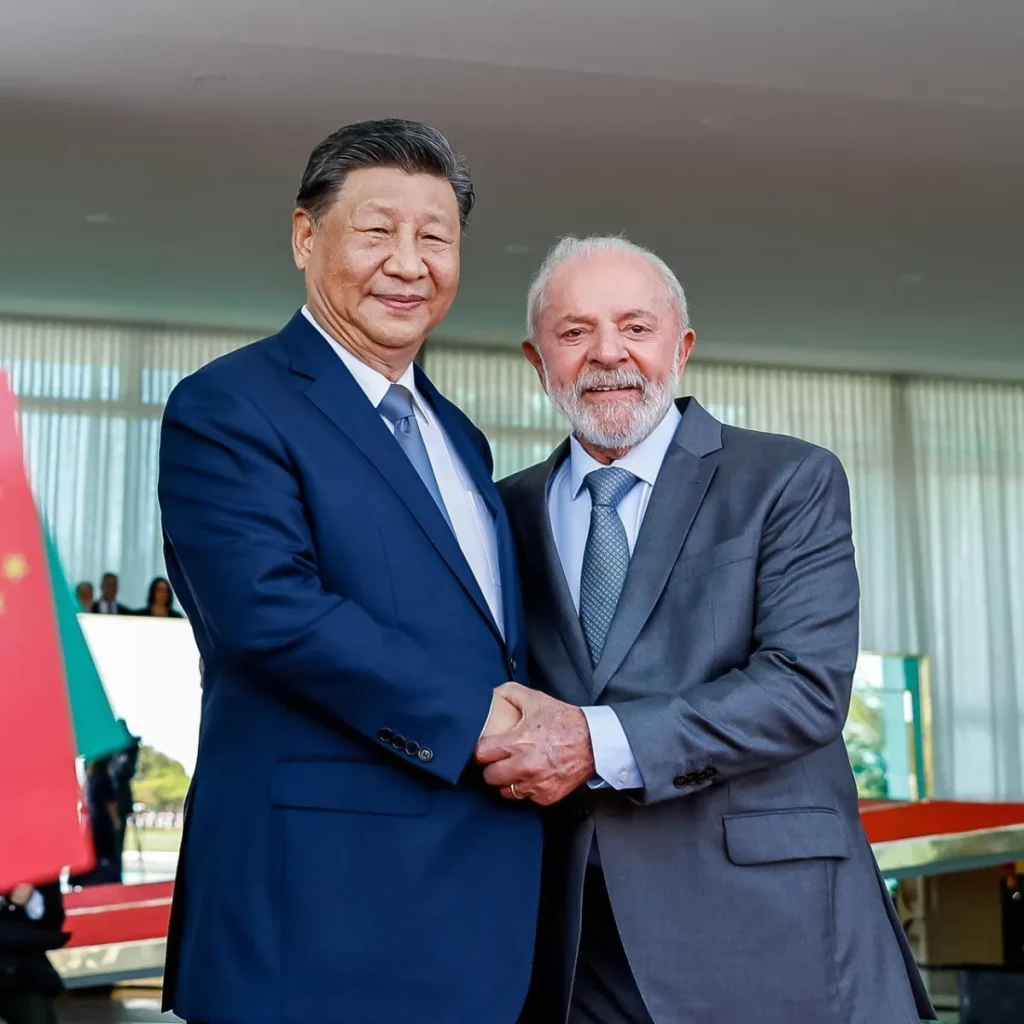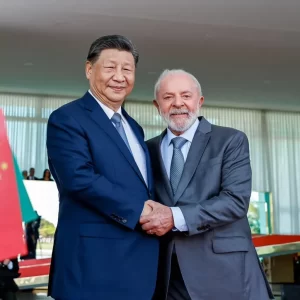Ora ameaça, ora apenas ferramenta, é ilusório ver a IA como externa a nós. Ela é fruto do mesmo aparato que reduz nossa subjetividade a um fluxo previsível. É hora de desertar da timeline e reaver o tempo múltiplo – onde podemos ter voz própria
Por Veridiana Zurita, compartilhado de Outras Palavras

Desde o lançamento do ChatGPT1 em novembro de 2022, o debate sobre Inteligência Artificial (IA) reacendeu nas redes. Falar sobre IA está na ordem do dia. Debatemos sobre suas potências e limites, nossos deslumbramentos e medos frente a um sistema, supostamente, inteligente. As análises sobre o tema variam entre a ameaça de sermos dominados por “Alexas” e “Siris” e a impossibilidade de tal domínio, afinal nossa inteligência humana seria única, insuperável. De toda forma, o tom do debate coloca nós (humanos) versus ela (inteligência artificial). Dominados ou superiores, debatemos a IA inebriados por tal dualidade – aliás, característica de uma certa “inteligência humana”.
De um lado a IA é percebida como entidade tecnológica, uma aparição-mágico-maquínica que no futuro próximo dominaria o humano, superando sua inteligência e causando a temida extinção. Do outro, a IA é analisada como “não-inteligência”, como artificialidade-maquínica, que prevê comportamentos a partir de cálculos que jamais poderiam sistematizar aquilo que conhecemos como afetos, amor, ética e moral humana. Poderíamos dizer que as duas versões são e não são possíveis. O famoso é e não é dialético.
Apesar de supostamente antagônicas, ambas versões brindam doses de fetiche. Entre a ameaça de dominação total e a garantia de insuperabilidade humana, tais análises tendem a colocar a IA como se descolada de nós, como se diante de nós, como se fora de nós, passível de uma análise enquanto objeto. Há bastante neblina entre humanos e a IA (às vezes invisível de tão opaca) é preciso atravessar até chegarmos em algo como um espelho. Afinal, a inteligência artificial somos nós.
A IA não surge como mágica da ordem do transcendente, mas é produzida a partir e através de uma certa inteligência humana, historicamente organizada para que nos comportemos como tais, subordinados à lógica de acumulação do capital. A IA só existe porque nós (devidamente humanos) existimos a partir de um modelo econômico, modelador da realidade material e subjetiva. A IA não foi somente criada por humanos, mas é alimentada e treinada através de cada respiro da cotidianidade digital dos mesmos. A IA é criada e produzida ao mesmo tempo que nós. A racionalidade neoliberal que internalizamos é o combustível que nos faz produzir dados e alimentar a IA. Alimentamos a IA como alimentamos um pet, cotidianamente, acreditando que a domesticação é unilateral mas que Donna Haraway (2008) já nos contou que é uma via de mão dupla.
O ChatGPT não seria uma ameaça para a educação porque surge agora, mediocrizando o processo de elaboração de estudantes e tornando obsoleta a atuação de professores. O ChatGPT representa uma ameaça porque é lançado sob solo de mercantilização da educação, sucateamento e precarização do sistema educacional público. O temível ChatGPT encontra eco em um tipo de sociedade automatizada por uma racionalidade de ranqueamento e performance, onde discentes e docentes se arrastam à exaustão para corresponder às impossíveis metas de produtividade, que prescrevem e determinam processos de ensino e aprendizagem. A ameaça não se anuncia com o ChatGPT, mas já está. O ChatGPT não formula textos complexos que nos surpreendem. Nós humanos é que mediocrizamos nossa elaboração reflexiva para caber e viralizar na lógica das redes, afinal qualquer profissão precisa de um perfil que influencie e tenha seguidores. A IA não vai nos dominar porque nos pegará pelo pescoço e nos obrigará a fazer coisas que não queremos. A IA já nos domina porque caminhamos curvados na tela, desejantes pelo vício infantilizado e instantâneo do like, ocupados e apáticos pelo dado que desliza na timeline (essa linha do tempo digital que nos mostra de tudo e nos deixa com nada), continuamente disponíveis às solicitações que vibram nos “telefones inteligentes” – nossas chupetas falantes. A IA depende de um tipo de comportamento, de um tipo de atenção, internalizados como racionalidade, assim como nós humanos passamos a depender daquilo que a IA tem a oferecer. É um ouroboros, uma relação quase metabólica entre IA e humanos.
Nosso comportamento já está maquinizado, faz tempo. Nossos desejos já estão prescritos pela performance compulsiva nas redes, entre posts de gatos ou banana gourmet. Não importa, qualquer coisa vale, desde que narremos cada respiro, desde que produzamos informações sistematizáveis. A narração contínua de nossas vidas nas redes é agenciamento lucrativo entre liberdade e obediência. As redes viram uma câmara de eco2 de autoajuda empreendedora onde “falar de si” torna-se uma espécie de capital social de circulação nas redes. Falar de si é compulsório. Mas não é falar sobre qualquer coisa, há um roteiro daquilo que viraliza: a suposta autenticidade e espontaneidade da vida privada compartilhada em público como publicidade do eu. A narrativa do eu nas redes acolhe uma carência latente de sociabilidade através da mercantilização da fala. Mercantilização que encena as “redes sociais” como espaço de terapia coletiva mas que esvazia o “poder da palavra” que dá origem à psicanálise.
Usar as redes como contexto de comparação com a psicanálise é risível mas um exercício (mais intuitivo aqui) que tenta sinalizar por onde anda “nossa” fala como ferramenta de sociabilidade. Em O poder da palavra e a origem do pensamento Freudiano, Daniel Kuppermann elabora sobre a “tripla problemática” que, segundo ele, “encerra tudo o que importa na constituição do campo psicanalítico”. “Quem fala (…) do que ou de quem se fala; e a quem se fala”. Pois, se as redes sociais são um contexto que caracteriza nossa sociabilidade contemporânea (especialmente no pós-pandemia da Covid-19) me aventuro no exercício de perguntar: quem fala, do que ou de quem falamos e a quem falamos nas redes? Talvez, mais importante para esse exercício (que tenta compreender o desejo em circulação nas redes, o estímulo de “falas” ininterruptas, produtoras de dados que alimentem a IA) seja a pergunta: a que nossa fala está subordinada nas redes? Pergunta que leva a outras. Por onde e através de quais canais de acesso somos estimulados (para não dizer constrangidos) a manter pulsante um “desejo de performance” nas redes? É a IA que nos serve ou nós (insuperáveis humanos) que a servimos? O que é a escuta de nossas falas nas redes? Quem as escuta? É a IA nossa escuta maquínica? Seria a escuta nas redes um sistema de cálculos algorítmicos, que deglute nossos dados e com eles aprende. E aprende o quê? Previsões de comportamento catapultados para nós via anúncios ultrapersonalizados, ou ainda “premonições digitais”? Que tipo de arquivo nossos dados compõem?
Na produção contínua de imagens e textos online, o acúmulo de dados se acelera como lógica de acumulação do capital. O Big-Data aparece como arquivo ilimitado de nossas narrativas autorreferenciadas e que se repetem entre si, criando o eco no espaço oco. A IA aprende o que aprende a partir desse arquivo, organizado enquanto um certo tipo de memória. Linear e constituída pela lógica do ranqueamento daquilo que mais viraliza, trata-se de uma memória categorizada por todos os preconceitos performados por um certo tipo de humanidade. A memória da acumulação, do excesso, da compulsão, da repetição, do descartável, do cancelável. Talvez, de fato, a memória seja o limite máximo da capacidade tentacular de cooptação do capital, que intensifica o transbordamento do modelo econômico para além do domínio do material, inundando os entranhamentos daquilo que há de mais inconsciente na memória. Se esse é o limite máximo que o capitalismo precisa alcançar para ser irreversível é também o limite máximo que assinala um horizonte de resistência.
Não seremos dominados pela IA assim como já não podemos mais observá-la como se fora de nós. Se seu sistema de cálculo algorítmico se sustenta por uma memória como arquivo é porque nós, usuários, estamos investidos na timeline das redes sociais. Essa linha do tempo que tanto se assemelha ao que a psicanalista Silvia Leonor Alonso nos lembra com o texto “O tempo que passa e o tempo que não passa”. Nele, ela nos lembra “ser comum (meu itálico) pensar no tempo como tempo sequencial, como categoria ordenadora que organiza os momentos vividos como passado, presente, futuro, um tempo irreversível, a flecha do tempo, um tempo que passa”, assim como estarmos “acostumados (meu itálico) a pensar na memória como arquivo, que guarda um número significativo de lembranças, semelhante a um sótão que aloca uma quantidade de objetos de outros momentos da vida, que lá ficam quietos, guardados, disponíveis para os momentos que precisamos deles e queremos reencontrá-los”. Alonso descreve esse modelo de memória como distante da forma como a psicanálise pensa “tanto o tempo como a memória” como somente possíveis “no plural”. “Há temporalidades diferentes, funcionando nas instâncias psíquicas, e a memória não existe de forma simples: é múltipla, registrada em diferentes formas de símbolos”. Se a imagem da memória como arquivo “disponível no sótão” já revela enorme distância da memória múltipla, atravessada por temporalidades inconscientes e conscientes que dançam (várias danças) no aparelho psíquico, imagine a memória disponível no Big-Data que retorna a nós mesmos por contra própria. Seja pelo famoso TBT (Throwback Thursday ou Quinta-Feira da Nostalgia) que estimula (ou impõe) aos usuários postagens sobre o passado semanal na garantia de views e likes ou quando o seu próprio smartphone te surpreende com aquela seleção de fotos, devidamente editadas e musicadas ou, ainda, quando a rede social te lembra o que aconteceu há um ano atrás e que sua regularidade de postagens está baixa. Pois, nosso “sótão digital” fala por nós, nem mais é preciso subir e abrir o baú.
Mas há ainda algo mais intrigante sobre a passagem do tempo nas redes e a preparação contínua de uma subjetividade que a acompanhe. Ainda em Alonso, já que seu curto e belíssimo texto abre acessos sensíveis sobre a noção de temporalidade na psicanálise, a autora nos convida à percepção de “um tempo que passa, marcando com a sua passagem a caducidade dos objetos e a finitude da vida”. É a partir do texto “A transitoriedade” (Freud, 1915) que Alonso nos lembra sobre a importância do luto como reconhecimento da “passagem do tempo” e da “transitoriedade da vida” na psicanálise. Mas o que dizer sobre a construção da timeline, ou linha do tempo das redes sociais, pautada pela representação da felicidade compulsória? Felicidade viraliza, luto não. Não há tempo de luto porque luto leva tempo. Vários tipos de tempos. Mas o tempo das redes é programado e nos programa, sabemos o que viraliza e o que não, o que é alavancado pelo algoritmo e o que não, o que aparece no topo do ranking de buscas e o que não, o que permanece no tempo da timeline e o que não. Por detrás da narrativa ideológica da autenticidade e espontaneidade, da intimidade compartilhada com seguidores, há uma encenação, organizada para a captura da selfie. E essa captura privilegiará o gozo, o consumo, a felicidade, o sucesso e, mesmo que falas de tristeza ou desamparo apareçam na timelime elas serão acompanhadas da superação imediata daquilo pode significar sinais de luto ou interrupção de prazer. Nossa IA é alimentada por essa coleção de imagens e falas, nossa IA aprende a ser o objeto no qual agarramos para não precisarmos lidar com o “reconhecimento da própria finitude”, da passagem do tempo online. Nesse lugar, que parece abismo, soltemos a mão da IA (ou pela menos dessa) e agarremos no inconsciente que nos atravessa pela memória da “mistura dos tempos”.
Notas
1. Generative Pre-trained Transformer (Transformador Pré-treinado Generativo, em tradução livre)
2. Nos meios de comunicação, o termo câmara de eco é análogo a uma câmara de eco acústica, onde os sons reverberam em um invólucro oco. Uma câmara de eco, também conhecido como câmara de eco ideológica, é uma descrição metafórica de uma situação em que informações, ideias ou crenças são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição dentro de um sistema definido.
Referências
Alonso, Silvia Leonor . O tempo que passa e o tempo que não passa. Revista Cult!, n.101. Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/101_tempopassa.htm
Haraway, Donna J. When Species Meet. Minnesota: Univ. os Minnesota Press, 2008.
Kupermann , Daniel. O poder da palavra e a origem do pensamento freudiano. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Freud, Sigmund. A Transitoriedade. Obras Completas Vol. 1. São Paulo Companhia das Letras, 2014.