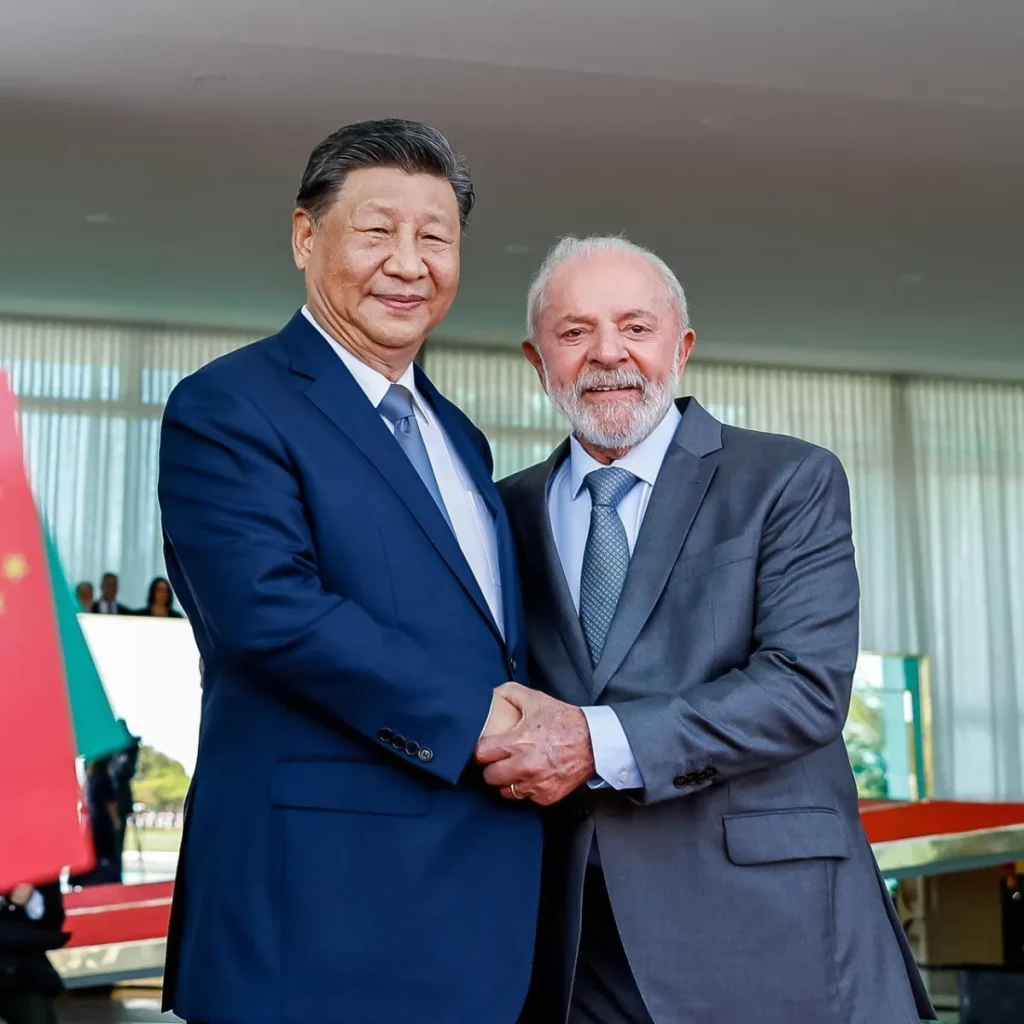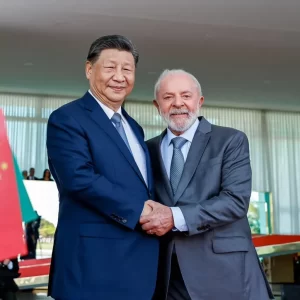Por Ligia Guimarães & Claire Press, compartilhado de BBC News –
João Pedro, 14 anos, levou um tiro de fuzil nas costas enquanto brincava dentro de casa com os primos. Guilherme Guedes, de 15 anos, desapareceu em frente à casa da avó e foi encontrado morto no dia seguinte, com sinais de tortura e dois tiros no rosto. E Igor Rocha Ramos, de 16 anos, foi morto enquanto comprava pão na padaria para sua mãe, que se recuperava em casa do coronavírus.
O que conecta as mortes desses três adolescentes?
Em crimes nos quais os principais suspeitos são policiais, os três foram mortos em 2020 – ano em que, para suas mães, a maior preocupação era protegê-los do novo coronavírus, que começava a assombrar o mundo. Mais de 6 meses depois, as três famílias ainda não sabem se conseguirão justiça para seus filhos.
Caso um: Igor Rocha Ramos, morto aos 16 anos, 2 de abril de 2020
“O tanto de sangue que ele tinha perdido, correu a viela toda. Foi de lá, do ponto onde ele estava, até lá embaixo, na viela”, relembra a cobradora de ônibus Ana Paula Rocha, mãe de Igor, sobre aquele 2 de abril em que o filho morreu.

CRÉDITO,FAMÍLIA ROCHA
Trabalhando para sustentar a família, Ana Paula criou sozinha seus quatro filhos, Bruna, Bárbara, Beatriz e Igor, com um salário mensal de R$ 1,5 mil. Eles dividiam a casa no Jardim São Savério, na periferia da Zona Sul de São Paulo, região que é parte da rota da linha de ônibus em que Ana Paula trabalha. Desde o dia do crime, ela desvia o olhar sempre que o ônibus passa perto da viela. “Não consigo”.
No dia em que Igor foi baleado, Ana Paula estava há 11 dias isolada em seu quarto em casa, saindo apenas para receber atendimento médico, com febre alta e muita falta de ar, sintomas fortes de coronavírus. “Eu vivia mais no hospital do que em casa, os médicos chegaram a querer me intubar”, lembra.
Naquele 2 de abril, Igor acordou tarde e quis ir à padaria comprar pão e batata palha, para almoçar as sobras de cachorro-quente da noite anterior. A mãe pediu que ele trouxesse também um pacote de cigarros. Saiu de casa por volta das 13h15; apenas dez minutos depois, Ana Paula ouviu os gritos no portão.
“Mataram um menino. Mataram um menino e parece que é o Igor.”
Aterrorizada, ela lembra de descer correndo as escadas do sobrado e sair pela porta da frente, subindo a rua com dificuldades para respirar, em cenas registradas em vídeos amadores que circulam pela internet. Lembra de ter tirado a máscara antes de enxergar o filho, caído.
“Eu vi de longe o tênis que ele estava usando, reconheci que era ele”. Ela se recorda também do choro desesperado da filha, Bruna. “Foi na cabeça mãe! O tiro foi na cabeça”.
Nessa hora, a mãe entrou em pânico. Filmadas pelos celulares de várias testemunhas, imagens bem gráficas mostram Bruna e Ana Paula sendo violentamente contidas enquanto tentam passar pelo número cada vez maior de policiais em torno do corpo de Igor.
“Doeu muito vê-lo daquele jeito. É uma cena que eu não desejo para ninguém”, diz ela, emocionada, em entrevista concedida à BBC News Brasil no pátio da escola em que Igor estudava.
“Os policiais o colocaram na maca e o embrulharam como se ele estivesse vivo, com o rosto para fora. Não me deixaram chegar perto, ficaram me segurando. Aí, levaram ele pro hospital. Não me deixaram ir na ambulância”.
O atestado de óbito emitido no hospital confirmou que Igor morreu na hora, com um único tiro na nuca. Imagens e relatos de testemunhas mostram que ele caiu perto da padaria, de bruços, no chão.
Dez meses depois, ninguém foi preso pelo assassinato de Igor, mas a Polícia Militar de São Paulo diz que o caso ainda está sob investigação. Informaram também que o policial suspeito pela morte de Igor não foi afastado do atendimento ao público e continua trabalhando normalmente.
A mãe diz que, ainda no local, um dos policiais disse a ela que o menino foi baleado em uma troca de tiros, dando a entender que Igor estava armado. “Eu, nervosa, comecei a gritar, ‘mentira! Meu filho acabou de sair de casa. Eu tô com covid, meu filho não estava saindo de dentro de casa. Todos esses dias’.”

Testemunhas também disseram à BBC que não viram Igor com uma arma. A polícia de São Paulo afirma que ainda não concluiu a investigação sobre a versão dos policiais.
Ana Paula diz que a vida, a partir de agora, é lutar por justiça para Igor. Mas teme que a reação do sistema judiciário reflita o preconceito contra quem mora nos bairros mais pobres da cidade. “Se meu filho fosse filho de rico, o policial já estaria na prisão. Já estaria preso”.
Um isolamento com recorde de mortes
Nos primeiros seis meses de 2020, justamente quando muitas pessoas deixaram de circular pelas ruas para se protegerem do vírus, 3.148 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil, em intervenções policiais. Em média, 17 pessoas morreram por dia.
No Rio de Janeiro, Estado com 16 milhões de habitantes, o número absoluto de pessoas mortas pela polícia nos seis primeiros meses do ano foi maior que o registrado em todos os Estados Unidos. Em São Paulo, o número de mortos pela polícia no semestre foi recorde para o período desde 2001, início da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade que há décadas reúne e analisa dados de violência em todos os Estados do país.
Mas no Brasil, embora a visibilidade dos casos tenha crescido e ganhado mais adesão e espaço na agenda pública com o crescimento das redes sociais, a violência policial raramente gera protestos em massa, na escala daqueles que levaram milhares de pessoas às ruas nos EUA e na Nigéria contra a brutalidade policial no ano passado. A reação nas ruas, no exemplo dos casos relatados nesta reportagem, se concentrou mais a protestos localizados nos bairros das vítimas, ou a grandes campanhas nas redes sociais.
Em São Paulo, as famílias têm encontrado apoio e orientação na busca por resistência por meio de um movimento social, a Rede de Proteção e Resistência contra Genocídio, que atua em cada bairro onde há vítimas, organizando ações de protesto e resistência. No caso de Igor, por exemplo, foram eles que ajudaram Ana Paula a organizar uma série de protestos que, embora localizados na região do crime, marcaram a revolta dos amigos e família. “A mobilização das famílias é resultado de um imenso trabalho de resistência”, diz Marisa Feffermann. “Com a pandemia, a violência policial nas periferias tem se escondido. Por isso, queremos usar esse espaço para denunciar esses casos.”

Para analisar quais vidas estiveram mais ameaçadas durante o primeiro semestre da pandemia, a BBC, em colaboração com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisou os perfis de mais de mil pessoas mortas pela polícia no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro nos primeiros seis meses de 2020.
Os dados confirmam uma tendência antiga: em São Paulo, mais rico Estado do Brasil e onde a grande maioria das pessoas se declara branca, quase 60% de todos os mortos pela polícia eram brasileiros negros. Mais de 99% de todos os mortos eram do sexo masculino e quase 30% tinham menos de 24 anos.
No Rio, o Estado mais letal do Brasil em termos de brutalidade policial, a proporção é ainda maior: 75% de todos os mortos pela polícia eram negros. O que comprova que um jovem, negro e do sexo masculino, no semestre em que a pandemia chegou ao Brasil em 2020, tinha cinco vezes mais chances de ser morto pela polícia do que um jovem branco.
Ponto importante: nos números analisados pela BBC, todas as estatísticas sobre pessoas vivas referem-se a categorias raciais autodeclaradas. Para os mortos, a filiação racial foi registrada conforme consta nos registros policiais.
No Brasil, a descrição racial da vítima de homicídio é feita pelo médico legista ou pelo policial investigador, utilizando as amplas categorias de preto, branco, outro ou desconhecido. Os negros, neste caso, geralmente incluem indivíduos negros e pardos, mestiços.

CRÉDITO,FAMÍLIA ROCHA
Caso dois: Guilherme Guedes, sequestrado e morto aos 15 anos, 14 de junho de 2020
Uma das mortes mais violentas de 2020 no Brasil foi a de Guilherme Guedes, que desapareceu em frente à casa da avó, na Vila Clara, Zona Sul de São Paulo. Foi encontrado em Diadema (SP), no dia seguinte, morto a tiros e com sinais de tortura.
“Eu preferia, hoje, que meu filho tivesse pegado covid-19, né? Do que ter morrido da forma que ele morreu. Muitos falam assim pra mim, “é plano de Deus”. Não, pra mim não é plano de Deus. Deus vai planejar uma pessoa morrer com dois tiros na cabeça?”, questiona Joyce da Silva dos Santos, mãe de Guilherme.

CRÉDITO,FAMÍLIA SANTOS
A última vez que Joyce viu o filho foi em um churrasco em família, para inaugurar a casa nova que Guilherme havia ajudado a limpar e organizar após a mudança. Descrito pela mãe como seu melhor amigo e “homem da casa”, ajudando em tudo, Guilherme se ofereceu para acompanhar a avó até sua casa, porque era tarde da noite. No caminho, ele parou para comprar coxinhas, lanche preferido de Gui, conta Joyce.
Depois de se despedir da avó, Guilherme passou pelo quintal da casa; avistou outro menino da sua idade e atravessou a rua para encontrá-lo. Os depoimentos indicam que o menino avisou Guilherme para tomar cuidado, porque dois policiais à paisana vinham em sua direção.
“Mas o Gui disse: Não. Não vou embora, não devo nada “, diz Joyce.” Então ele ficou. E é quando os dois chegam”, conta Joyce.
Os suspeitos aparecem claramente nas imagens de câmeras de segurança em frente à casa da avó de Guilherme, que mostram dois homens cercando Guilherme na rua. Pouco depois, Guilherme não aparece mais.
Seu corpo foi descoberto seis horas depois, abandonado a quilômetros dali.
A autópsia mostrou que, além de sinais de tortura, ele levou dois tiros: um no lábio e outro na nuca.

“No dia seguinte minha irmã foi ao Instituto Médico Legal (IML). Perguntaram se ele tinha uma tatuagem e que confirmasse onde estava. Foi quando disseram a ela: ‘É ele’.
Sete meses depois, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que as investigações já terminaram e os dois suspeitos do vídeo foram identificados. Atualmente na prisão e aguardando julgamento, o sargento Adriano Fernandes de Campos nega todas as acusações. A polícia continua procurando o segundo suspeito, o ex-policial Gilberto Eric Rodrigues.
Desde a infância, Joyce conta que Guilherme sempre teve medo da polícia, mas que ela sempre lhe disse que não havia motivo, porque os policiais existem para proteger as pessoas. “Eu tirei o medo dele”, diz Joyce. “Mas hoje, prefiro que meus outros filhos tenham medo da polícia.”
“Acho que para eles todo mundo que mora na periferia é criminoso. Acham que um menino de 15, 16, 17 anos não pode ter tênis de marca nos pés”.
Entre a violência e o vírus
No ano passado, o Rio de Janeiro foi de longe o Estado mais mortal do Brasil em termos de violência policial letal, respondendo por um quarto de todas as mortes por policiais em todo o país.
Por que o Rio é tão mortal? A resposta envolve a estratégia das operações policiais antidrogas, ações em que dezenas de policiais entram nas favelas, muitas vezes apoiados por helicópteros e veículos blindados, em busca de traficantes e chefes do crime organizado.

Como jornalista que mora e trabalha nas favelas, Bruno Itan costuma ser o primeiro a chegar em muitos dos confrontos entre a polícia e o tráfico. Mas no ano passado, em meio à crescente pandemia de coronavírus, Bruno descreve uma operação policial em que a violência foi ainda mais chocante.
“Assim que cheguei, vi muitos corpos espalhados pelas ruas. Foi tão horrível que acho que por um momento, as pessoas se esqueceram do vírus. Foi uma cena de guerra, com sangue por toda parte e buracos de arma de fogo.”
Era meio-dia de sexta-feira quando mais de uma dezena de policiais entraram no Complexo do Alemão perseguindo traficantes. Duas horas depois, os moradores locais dizem que pelo menos 12 pessoas foram mortas e cinco corpos deixados para trás pela polícia, no meio da rua.
Presos entre a violência e o vírus, muitos moradores foram forçados a interromper o isolamento e deixar suas casas para limpar os corpos sob o sol escaldante do verão no Rio.
“Todo mundo estava ajudando. Algumas pessoas estavam limpando o sangue, outras distribuindo lençóis, outra pessoa emprestava o carro, enquanto outras ajudavam a carregar os corpos”, diz Itan, que viu ali uma cena de solidariedade em meio ao caos.

CRÉDITO,JOÃO WAINER
“Eles precisavam ajudar uns aos outros. A mãe não ia conseguir carregar o corpo do filho sozinha “.
Crescendo nas favelas, Bruno diz que aprendeu a conviver com a violência; sabe o que fazer quando o grupo de WhatsApp da comunidade o alerta sobre uma operação policial. A regra é buscar abrigo no chão do banheiro ou atrás de uma porta, mas sempre longe de quaisquer vidros ou janelas.
Mas para Bruno, apesar de ter vivido centenas de operações, a escalada da violência policial no ano passado, combinada com a pandemia, representou uma subida de tom.
“A violência sempre vem, mas nunca 12 pessoas mortas em uma manhã. Talvez uma ou duas. Uma ou duas morrendo, você pode achar estranho, mas infelizmente para nós, isso se tornou normal. Mas 12?”
Uma história de violência
Por que a polícia em alguns Estados do Brasil é tão agressiva? Parte da resposta está no passado. Saindo de uma ditadura militar de 21 anos, na qual milhares foram torturados e centenas mortos, o Brasil tem duas forças policiais: a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Grande parte do treinamento da Polícia Militar, até hoje, utiliza táticas e ideologia similares ao de um exército, apesar de serem os principais responsáveis pelo policiamento diário das ruas. Já a Polícia Civil assume mais funções judiciais, de inteligência e administrativas.

CRÉDITO,GETTY IMAGES
Como ex-chefe da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues da Silva diz que a pressão sobre os policiais no Brasil não pode ser subestimada. Com uma das maiores taxas de criminalidade do mundo, ele argumenta que a polícia no Brasil é mal paga e com apoio insuficiente. Com o tempo, a imprevisibilidade e a volatilidade do trabalho comprovadamente tendem a causar “danos psicológicos significativos” a muitos policiais.
“A suposição geral de qualquer policial é que muito provavelmente alguém estará armado.” diz Robson, especialmente em áreas dominadas por traficantes. “Porque a quantidade de armas de fogo disponíveis nessas áreas reflete o quão ineficiente o sistema é para evitar que tais armas cheguem facilmente às mãos dos criminosos. Isso gera tensão e medo, e quando isso se manifesta em um policial, ele é muito mais provavelmente reagirá mal a uma situação. “
Mas para Robson, como ex-policial no Rio de Janeiro, nenhum lugar é mais perigoso para ser policial do que nas favelas da cidade do Rio de Janeiro.
O Brasil se importa com as vidas negras?
Como o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, o Brasil continua profundamente desigual, com negros e pardos brasileiros vivendo, historicamente, em situações de maior vulnerabilidade social em diversos indicadores não só de segurança pública, mas de saúde, educação e oportunidades.
Nas estatísticas de violência, a letalidade policial não é a única modalidade em que os negros são a maioria das vítimas. De acordo com dados mais recentes, de 2019, os negros representam 74,5% das vítimas de homicídio doloso, 68,3% das vítimas de lesão corporal seguida de morte e 65,1% dos policiais assassinados.
Em dez anos, enquanto o assassinato de não-negros diminuiu 12% entre 2008 e 2018, o homicídio de pessoas negras cresceu 11,5% no mesmo período.

“Diferentemente daquela visão de que a sociedade brasileira é uma sociedade pacífica, a realidade nos mostra que é diferente. Você tem violência no trânsito, altas taxas de homicídio, violência de torcida nos jogos de futebol, linchamento. A violência está entranhada nas estruturas sociais”, diz o antropólogo Robson Rodrigues da Silva. Ele tem conhecimento de causa: coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), comandou em 2010 a coordenação geral das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPS), tentativa do Estado de criar um policiamento comunitário nas favelas, retomando espaços dominados pelo tráfico. Vê nas estatísticas, além do efeito de políticas equivocadas de guerra às drogas, os reflexos do racismo que dita as relações sociais no país.
“Por mais que se negue o racismo estrutural existe, e os efeitos são perversos. Como o país que manteve a escravidão por mais tempo a gente ainda não conseguiu achar um caminho para que isso melhorasse”, diz.
Caso três: João Pedro Matos Pinto, 18 de maio de 2020
Nos primeiros meses do ano passado, um aumento nas mortes cometidas por policiais no Rio de Janeiro fez com que 2020 se colocasse no caminho dos recordes de brutalidade policial em décadas. De janeiro a maio, o número de mortos em intervenções policiais no Estado foi o maior para o período desde 2003: 744 pessoas.
A curva da letalidade policial só passou a cair depois da morte de um adolescente, em maio, que paralisou todas as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. João Pedro Matos Pinto, morto dentro da casa dos primos em uma operação sem mandato judicial.

CRÉDITO,FAMÍLIA MATOS
Depois de disparar mais de 70 tiros dentro de casa, João Pedro foi morto por uma bala de fuzil nas costas.
“João era uma criança muito caseira. Onde quer que fosse, estava sempre com os pais. A rotina dele era escola, casa, igreja”, conta Rafaela Coutinho Matos, professora de 36 anos, diz que revive diariamente cada momento daquela segunda-feira, quando, preocupada em garantir que a pandemia do coronavírus passasse bem longe de sua família, ela ouviu a voz do filho de 14 anos pela última vez.
No dia em que seu filho foi morto, Rafaela estava em sua casa em São Gonçalo, na periferia do Rio. João tinha ido brincar na casa do primo a 15 minutos dali, na região da Praia da Luz, em Itaoca. Por volta das 14h30, ela ouviu o helicóptero da polícia.
“Liguei para o João e falei: ‘Filho, estou muito preocupada porque o helicóptero está dando tiro. Mas ele disse:’ Mãe, fica tranquila, a gente tá dentro de casa’.”
Foi a última vez que Rafaela falou com o filho.
As investigações da polícia e relatos de testemunhas apontam que, após o lançamento de duas granadas, a polícia entrou na casa atirando. As autoridades, à época, chegaram a alegar que seus policiais estavam perseguindo vários traficantes de drogas armados, que teriam pulado o muro e entrado na propriedade.
A mãe e diversos depoimentos afirmam que, assim que os policiais entraram na casa, os adolescentes correram em direções diferentes para se esconderem dos tiros pelos quartos. Deitados de bruços no chão, as crianças colocaram os braços sobre a cabeça para se proteger. Paralisados pelo medo, só mais tarde perceberam que João havia levado uma bala pelas costas.
“Quando eles falaram que havia sido um tiro (perto da barriga), eu imaginei que tivesse sido um tiro de raspão, alguma coisa assim. Eu não imaginava que tinha sido um tiro de fuzil”, diz Rafaela, aos prantos.
João, de acordo com os depoimentos das testemunhas, foi levado ao helicóptero da polícia. As autoridades afirmam que ainda estão investigando como seu corpo foi removido. Mas seus amigos e primos dizem que um dos jovens foi obrigado a carregar o corpo até o próprio carro e transportá-lo até o helicóptero.
Por 17 horas, Rafaela não sabia para onde seu filho havia sido levado. A família passou a noite toda visitando hospitais locais e fazendo campanha nas redes sociais com a hashtag #procurase João Pedro, até que descobrissem o corpo em um necrotério.

Apesar de ganhar grande destaque na mídia brasileira, Rafaela teme que ninguém seja preso ou punido pelo assassinato de seu filho. Porque ela diz que João não é o primeiro filho perdido para a violência policial, tampouco será o último.
Racismo e preconceito
“Olha, eu nunca conversei com João a respeito do racismo. Nunca parei para pensar a respeito até mesmo porque eu nunca imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas eu acho que foi preconceito, sim. Porque os policiais acham que toda pessoa que mora na favela é bandido. Nem todo mundo que mora na favela é bandido. E geralmente esses assassinatos acontecem sim com pessoas negras”, diz Rafaela. “Se fosse na Zona Sul ou em qualquer outro lugar, eles não entrariam atirando”.
O governador (afastado) do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, declarou publicamente à época que João era inocente e que seu assassinato seria totalmente investigado. Mas, 8 meses depois, ninguém foi preso.
O caso de João Pedro gerou comoção nacional tão grande que motivou uma decisão sem precedentes do Supremo Tribunal Federal. Todas as batidas policiais foram suspensas temporariamente, durante a pandemia.
A análise dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança pública aponta que, antes que as operações policiais parassem, em média 150 pessoas eram mortas por mês.

Mas em junho de 2020, depois que as operações policiais foram suspensas, 34 pessoas foram mortas, 80% menos do que em junho de 2019. O que indica que, ao impedir as operações, centenas de vidas foram salvas.
Questionado pela BBC se as batidas policiais seriam reiniciadas após o fim da quarentena, a segurança do Rio de Janeiro respondeu apenas que “todas as operações são realizadas com base na inteligência e seguem rígidos requisitos legais, sempre priorizando a preservação da vida”.
Para o coronel da reserva Robson Rodrigues da Silva, essa queda no número de mortos não foi inesperada. “Ao interromper esse ciclo vicioso, algo que esperávamos aconteceu; uma redução drástica tanto nas mortes de policiais quanto nas mortes de policiais. Isso mostra que a escolha da guerra como estratégia para enfrentar o inimigo, diga-se de passagem , está tudo errado e precisamos rever nossa estratégia “.
Mas, como Robson aponta, as operações policiais nos moldes das que são adotadas no Rio ameaçam não só civis, mas a própria polícia. Policiais negros, que são mais de 60% dos policiais assassinados no Brasil em 2019, são mais vulneráveis à violência letal do que seus colegas brancos.
“O mesmo problema de garantir a mobilidade social enfrentado pelos negros em nosso país também existe dentro da polícia. Porque apesar de ter muitos policiais negros, eles estão em níveis mais baixos na hierarquia”, diz Robson.
Como coordenador na área de análise de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques rejeita a tese de que o racismo dentro da força policial é simplesmente um produto do racismo na sociedade brasileira.
“Para que a força policial participe da luta contra a violenta desigualdade racial, é necessário construir um debate mais amplo sobre o impacto do racismo na segurança pública e que essa discussão motive os policiais a mudarem seu cotidiano na rua.

CRÉDITO,GETTY IMAGES
“Além disso, é necessário aprofundar a discussão sobre a vitimização policial. Mais policiais morreram fora de serviço e suicídio do que no trabalho. Isso significa abordar a questão das condições de trabalho da polícia é fundamental.”
Examinando o número de policiais mortos nos primeiros seis meses de 2020, a pesquisa de Marques constatou que dos 103 policiais mortos, 70% deles estavam de folga, ou em bicos como segurança como forma de aumentar a renda, insuficiente.
Justiça?
Para as mães de Igor Rochas Ramos , Guilherme Guedes e João Pedro Matos Pinto, o desafio das famílias agora é lugar para que a justiça seja feita. Mas mesmo em casos com mais pressão da opinião pública, como o João Pedro, Daniel Lozoya, defensor público do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos que defende a família de João, diz que há dúvidas sobre se os culpados serão julgados e presos.
“O padrão que essas investigações costumam tomar é que só confirmam as teses da polícia. Eles seguem apenas as versões dos eventos do policial, às vezes se arrastando por anos até serem eventualmente arquivados. “
No Brasil, segundo dados de 2019, 7 em cada 10 homicídios terminam sem punição aos culpados.
Por que nem todos viram símbolo?
“Com tantos casos registrados (em 2019 e 2020), infelizmente algo que nunca deveríamos considerar normal, está acontecendo todos os dias. Na sociedade, isso gera uma insensibilidade, uma anestesia na forma como as pessoas se relacionam com esses casos, apenas os mais extremos acabam gerando atenção”, afirma Lozoya, da Defensoria Pública do Rio.
“De forma que só casos extremos, como a morte de uma criança dentro da própria casa, dentro da escola, ou de pessoas que é muito difícil serem incriminadas, como idosos, trabalhadores e crianças, que acabam gerando uma comoção na sociedade”, diz o defensor da família de João Pedro.

CRÉDITO,BRUNO ITAN
David Marques, do Fórum, diz que a expansão das redes sociais tem aumentado a visibilidade dos casos de violência policial e racismo no país mas, apesar da adesão virtual mais expressiva e do debate mais constante sobre o tema, o movimento negro e movimentos sociais contra o racismo ainda enfrentam muita resistência por parte da sociedade.
Para Marques, o fato de muitas pessoas não acreditarem, por exemplo, que haja racismo no Brasil, dificulta bastante o processo de uma adesão mais ampla a causas como a violência policial contra negros.
“Isso dificulta bastante o processo. A saída que os movimentos têm encontrado para debater esse tema ainda têm encontrado bastante resistência. O problema continua sendo reverter essa indignação em mudanças de política pública”, diz.
Rafaela, mãe de João Pedro, diz que antes da perda do filho nunca teve medo da polícia.
Diz que João era estudioso, alegre e tinha o sonho de ser advogado, sonho compartilhado pelo pai, o comerciante Neilton Matos, que não teve a oportunidade de completar os estudos. Recentemente, a família havia conseguidoo matricular João na escola particular em que Rafaela dá aulas, e ele estava muito feliz.
“Todos os nosso sonhos eram focados no João. Hoje, não sabemos como vamos seguir em frente”, diz Rafaela. “Às vezes as pessoas olham para mim e dizem ‘ah, mas você tem Rebeca'”, referindo-se à filha caçula, de 4 anos. “Mas um filho não substitui o outro”.
“Não contamos a ela o que aconteceu, só falamos que o irmãozinho dela agora está no céu. Mas há um tempo, quando brincava com o primo da mesma idade, o primo perguntou “Onde está o teu irmão João?” e ela disse: “Você não sabe? Eles mataram meu irmão”.