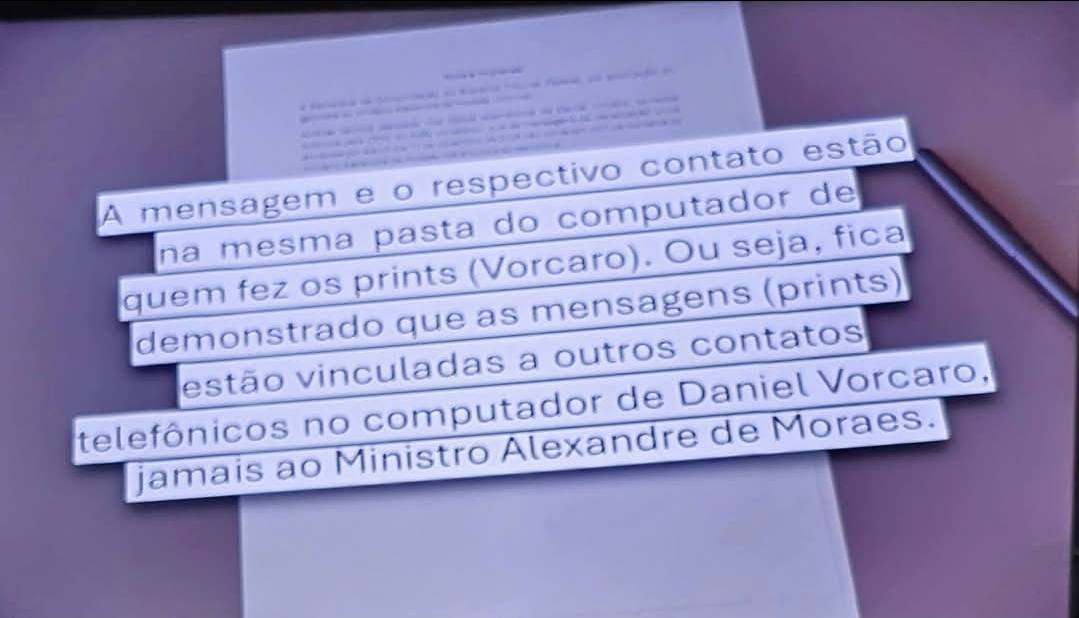Por Ivan Martins, Revista Brasileiros –
A defesa da democracia brasileira terá de ser feita por seus cidadãos e cidadãs. Os 11 do STF têm outra agenda
A um passo de assumir o governo pela porta dos fundos, Michel Temer parece assustado com a possibilidade de ser afastado da sonhada (e imerecida) presidência por uma campanha por eleições diretas.

Explica-se: uma pesquisa feita pelo Ibope mostrou que apenas 8% da população aprova que Temer substitua Dilma Rousseff como presidente, enquanto 62% dos entrevistados desejam novas eleições. Cerca de 25% apoiam a permanência de Dilma no governo.
Temer não tem legitimidade política e não reúne apoio popular para governar, mas conta com amigos importantes. Na terça-feira, segundo a Folha, ele ouviu de seus emissários ao Supremo Tribunal Federal que a convocação de eleições para substituir Dilma seria “inconstitucional”.
Animado por essa interpretação, ele teve a cara de pau de dizer a um grupo de sindicalistas que falar em eleições este ano seria “golpe” . A frase lembrou o romance 1984, de George Orwell, e a sua invenção mais famosa, a novilíngua. Eleição é golpe. Guerra é paz. Amor é ódio.
Esse tipo de sinal sugere que não se deve esperar contribuições do Supremo para a solução da crise política brasileira. O tribunal já deu indicações de que não se oporá à retomada do poder pela oligarquia numa manobra de bastidores, ignorando as aspirações populares por democracia e pelo fim da corrupção. A despeito de quem tenha indicado cada um dos seus 11 membros, a corporação se move por lógica própria, coerente com a história e a vocação conservadora e classista do judiciário brasileiro. Na hora H, se alinha com o velho status quo.
O exemplo mais flagrante disso tem sido dado pela relutância do Supremo em discutir o afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara.
O pedido de afastamento foi feito em dezembro do ano passado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele acusou Cunha de “destruir provas, pressionar testemunhas e intimidar vítimas”, agindo contra a Lava Jato e a dignidade do Parlamento. Isso ocorreu há 135 dias, mas desde então o Supremo lavou as mãos, cruzou os braços, sentou sobre o processo e não discutiu o afastamento.
Livre para agir como presidente da Câmara, Cunha explodiu a pauta do Congresso em prejuízo do governo, conduziu com mão de ferro a instalação do processo de impeachment da presidenta Dilma e preparou, com todo o cuidado, as manobras regimentais (e possíveis ameaças, como denunciou o procurador-geral) que podem livrá-lo do processo de cassação pelos seus pares.
As coisas não teriam acontecido dessa forma se Cunha tivesse sido afastado pelo Supremo.
A mesma cautela exagerada que o Supremo demonstra no trato com Cunha não transparece na relação com a presidenta de República. Na sexta-feira passada, quando Dilma foi à ONU com a intenção de denunciar o golpe de que está sendo vítima, o Supremo fez fogo de barragem contra a presidenta.
O ministro Celso de Mello deu entrevista à televisão explicando que “impeachment não é golpe” e que ao afirmar isso no exterior a presidenta estaria agindo “de forma estranha”. Seu colega Dias Tofolli foi mais longe: acusou Dilma de estar “ofendendo as instituições” e “prejudicando a imagem do país”. Gilmar Mendes também falou em tom ácido contra presidenta. Intimidada, ela recuou.
As entrevistas do Supremo foram uma intervenção direta de um poder sobre o outro, partindo espontaneamente de autoridades que não foram convocadas oficialmente a se manifestar, mas escolheram fazê-lo. Por quê?
Não foi a primeira vez que isso aconteceu.
No dia seguinte à divulgação pelo juiz Sergio Moro dos infames grampos telefônicos da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, o mesmo ministro Mello achou necessário se pronunciar.
Poderia ter criticado o juiz de Curitiba por um comportamento que até estagiários de Direito sabiam ter sido temerário, para dizer o mínimo. Poderia ter defendido a presidenta, cuja persona pública e cujo cargo foram brutalmente atingidos pela gravação e pela divulgação de seu conteúdo. Poderia até ter se calado, mas não.
O decano usou sua voz no Supremo para atacar o ex-presidente Lula (e indiretamente a sua interlocutora) por desabafos privados que jamais poderiam ter vindo à luz daquela forma – como ficou evidente, dias depois, na decisão do ministro Teori Zavaski, que fez admoestações pesadas ao juiz Moro pelo episódio e suspendeu sua jurisdição sobre Lula.
Por que Eduardo Cunha nunca recebeu de Mello e dos demais ministros do Supremo o mesmo tratamento que eles reservam à presidenta? A conclusão disso tudo é que os brasileiros não devem colocar no Supremo as suas esperanças de justiça no caso da presidenta Dilma e de seu vice ambicioso.
Para evitar o impeachment, resta aos brasileiros torcer por uma vitória no Senado – que parece a cada dia mais improvável – ou lutar pela realização de eleições diretas ainda este ano, antes que se consolide o arranjo sombrio que está levando Temer ao poder.
Um plebiscito convocado por um terço da Câmara ou do Senado poderia perguntar à população se ela quer Temer no Planalto ou se prefere escolher um novo presidente nas urnas.
O plebiscito está previsto na Constituição – logo, não pode ser derrubado no Supremo – mas exigiria a renúncia da presidenta Dilma. Seria um gesto de desafio aos que se assanham para tomar o seu lugar sem voto, em clara oposição ao desejo da maioria.
A democracia tem custo pessoal elevado, mas, assim como a luz, expõe conspiradores e esvazia porões.
*Ivan Martins é jornalista, escritor e colunista do site da revista Época