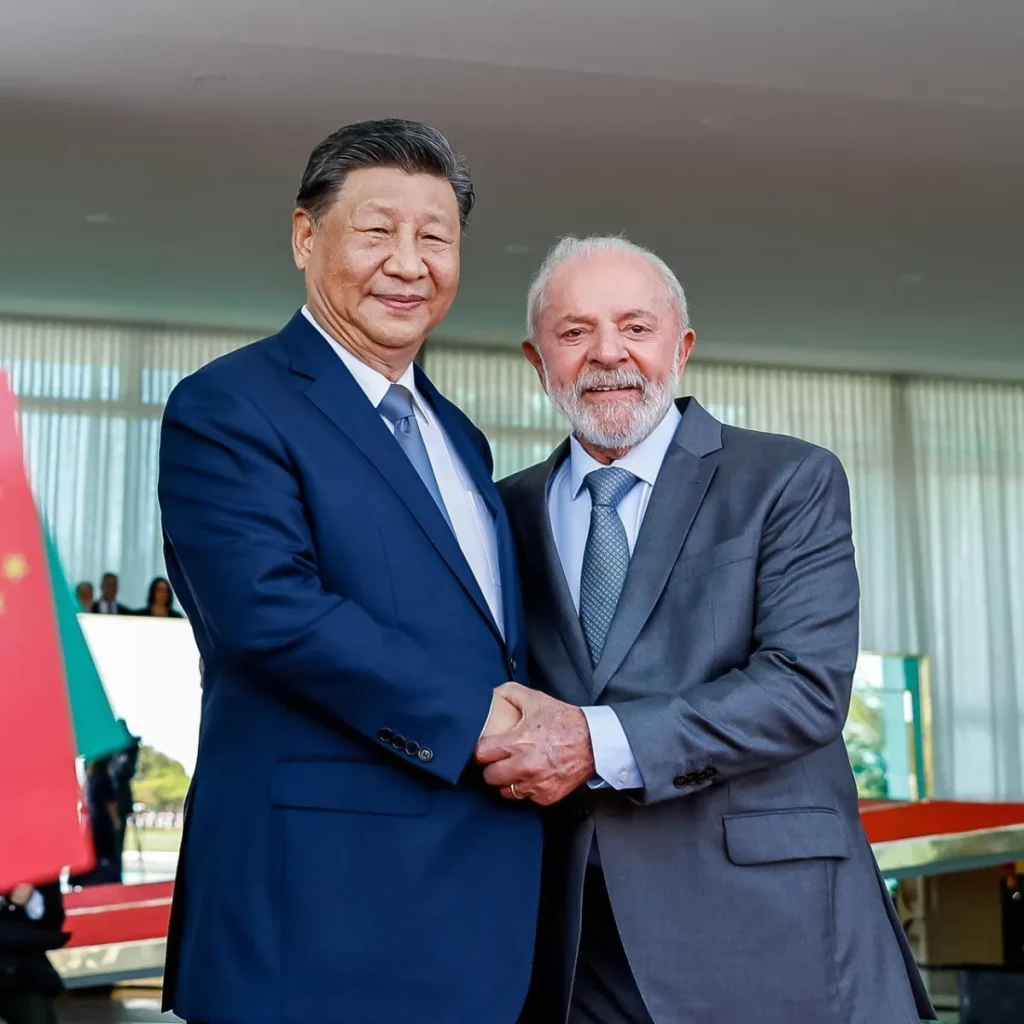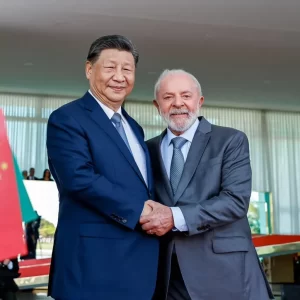Contrarreformas, avanço de planos privados e dependência internacional de insumos fragilizaram a saúde pública. Mas, na pandemia, cresce o apoio popular e da classe média à luta sanitarista — e ela pode ser a chave para reconstruir o país
Por A Terra é Redonda, compartilhado de Outras Palavras

Por Ronaldo Teodoro, em A Terra é Redonda
Ao longo dos 34 anos de luta pela construção do SUS persistem desafios estruturais à sua implementação como o subfinanciamento e a dinâmica de enraizamento do hibridismo público-privado de interesses em várias frentes do sistema. Tal realidade tem como ancora um conjunto de reformas fiscais e administrativas que definiram um regime de Estado liberal resistente a formas mais ousadas de nivelamento social. Nesse complexo percurso, a invenção democrática de uma institucionalidade inédita na história do país fez do incrementalismo o terreno possível de avanços extraordinários na garantia do direito público à saúde. Após o Golpe de 2016, no entanto, esses constrangimentos estruturais alteraram qualitativamente o front da disputa política para o campo sanitarista. Dadas as condições políticas que se formaram após 2016 não é descomedido o entendimento de que se faz necessário construir um segundo grande ciclo de construção do SUS – mais ousado e consistente do que a forma adquirida de 1988 a 2016.
Evidenciam essa necessidade a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, o sentido regressivo das Reformas da Política Nacional da Atenção Básica, em 2017 e 2019, o avanço das Comunidades Terapêuticas sobre a política nacional de álcool e drogas na área da saúde mental, a vulnerabilidade sanitária diante da dependência internacional de insumos tecnológicos e farmoquímicos, o fortalecimento econômico das operadoras e outros segmentos da indústria da saúde que buscam controlar o sistema de regulação pública construído no SUS. Todas essas dimensões constrangem o planejamento estatal do setor. Mais do que transformações de cunho institucional, essas alterações devem ser compreendias como resultado de uma profunda mudança no equilíbrio de forças políticas entre o campo liberal conservador e os segmentos da luta pelo SUS, evidenciando mesmo como a saúde pública está diretamente conectada à recuperação da própria democracia brasileira.
Ante ao aprofundamento dessas adversidades históricas, ganha atualidade a tese gramsciana de que o desafio central das lutas dos segmentos politicamente subalternizados consiste em superar as barreiras de isolamento colocadas pelos grupos hegemônicos. Como desdobramento dessa marginalização, se apresentam os desafios de conservação do programa político e de contraposição à tendência de fragmentação dos movimentos contra hegemônicos. Nesse processo, em que a cultura dominante marginaliza o campo sanitário ao desacreditar a viabilidade do seu programa, se torna necessária a demarcação da fronteira de cisão com a ideologia que atua dissolvendo a identidade política das forças de resistência.
A esse respeito, é eloquente a tese da complementariedade entre interesses públicos e privados difundida por centros de representação do mercado da saúde como o Instituto Coalizão Saúde (ICOS) e o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais da Saúde (IBROSS). Essa orientação representa hoje um contramovimento histórico ao projeto matricial da Reforma Sanitária de, a partir da realização do SUS, transformar o Estado brasileiro. Mais do que a marginalização da ousadia sanitarista, sua influência procura promover a dissuasão da identidade e da coesão do campo sanitário, que, em certa medida, se vê constrangido ao cálculo de adaptação pragmática diante das demandas urgentes do sistema. Nesse caminho de saturação, parte importante da luta pelo direto público a saúde foi delimitada a partir do argumento da austeridade fiscal, da pressão por uma gestão pública compartilhada com as Organizações Sociais de Saúde (OSSs), ou mesmo com a tese de que o SUS é inadministrável sem a manutenção e aprofundamento do atual padrão de interações do Estado com os variados circuitos do mercado da saúde – como os incentivos fiscais às operadoras de planos, a dependência da rede de hospitais e serviços privados de exame de imagem e outros procedimentos diagnósticos.
Em boa medida, essas várias frentes de ataque sempre tiveram como estratégia a desconstrução do Estado brasileiro. Desde os anos 1990, momento inicial da implementação do SUS, a deslegitimação crescente das correntes que pensavam o país a partir de um projeto de formação nacional desidratou a capacidade de planejamento do Estado, fragilizando as instâncias de coordenação e regulação de políticas. Nessa crise de afirmação da cultura estatal se impôs um princípio de “soberania compartilhada”, em que os mais diversos setores empresariais da área da saúde, crescentemente articuladas ao mercado financeiro internacional, passaram a se apropriar do orçamento público. É parte desse princípio os esforços de contestação à expansão de instalações próprias do poder público e as iniciativas orientadas à regulação mercantil. Nesse movimento, a organização e execução de serviços do Estado passaram a ser reivindicados pelos agentes de mercado como uma atribuição que agora lhes competia. Em tal ambiente, formava-se a defesa de uma concepção de democracia e de expansão direitos que carecia de uma defesa consistente do Estado.
Desafios da fundação contingente do SUS
No cenário de expansão institucional do SUS as lutas da Reforma Sanitária se tornaram muito mais variadas e ramificadas no tecido social, sendo natural que as muitas frentes de luta desenvolvessem agendas próprias e se fragmentasse em frentes de resistência no interior do sistema público. Atualmente, o desafio colocado para as diferentes frentes de luta pode ser elucidado, por exemplo, no domínio da luta antimanicomial da Reforma Psiquiátrica, que foi capaz de promover a desospitalização da loucura, mas que se vê crescentemente premida pelo crescimento das comunidades terapêuticas; por sua vez, o Controle Social, que foi capaz de criar um novo paradigma participativo no interior do Estado brasileiro, percebe o esvaziamento desses arranjos no controle da gestão, demandando inovações na sua condição de influência política e institucional; os diversos sindicatos que representam os profissionais da saúde, acompanharam a expansão substantiva dos postos de trabalho, estruturados, no entanto, a partir de vínculos precários e sem nenhuma expectativa de realização de concursos públicos. Guardadas as diferenças, a profusão de OSSs, OSCIPs, SSAs e Fundações Estatais, construídas a depender da realidade municipal ou estadual, debilitou a estabilidade laboral na administração pública dos serviços de saúde, limitando a implementação de um sistema nacionalmente unificado.
Nessa constelação vigorosa de movimentos sociais difundiu-se também a formulação de distintas teses e práticas políticas voltadas para a superação dos problemas do SUS. Elucida essa condição o distanciamento crescente entre os gestores e os trabalhadores organizados da saúde. Outrora companheiros de uma mesma caminhada, é possível identificar atualmente o enraizamento de posições adversativas que se formaram ante a reivindicação por melhores salários e condições de trabalho, crescentemente percebidas como insensibilidade corporativa com as obrigações urgentes da gestão. Essas tensões políticas estão diretamente associadas a pulverização do programa, perceptível também nas controvérsias entre os estudiosos e formuladores de política dos departamentos de Saúde Coletiva. Não raro, formaram-se convicções opostas acerca do modelo de gestão – ser por meio de administração direta ou a partir de parcerias consagradas pela nova gestão pública –, no qual se questiona, inclusive, a centralidade desse debate. Essa condição é eloquente em esclarecer como a projeção do pensamento liberal sobre o desenho do Estado – como a Reforma Bresser, de 1995, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000 – firmou barreiras que foram fraturando lugares importantes da identidade e da luta sanitarista, evidenciando a importância de se demarcar uma linha de cisão com a ideologia dominante.
A permanência temporal dessas estruturas lateralizou, por exemplo, a proposta de uma carreira federal para as trabalhadoras e trabalhadores do SUS, transformando as legítimas demandas laborais de enfermeiros, médicos, farmacêuticos, odontólogos, técnicos, agentes comunitários de saúde e outros profissionais em um espesso labirinto de agendas e ações políticas. Uma carreira multiprofissional para o SUS tem implicações sistêmicas: em termos políticos, delimita com mais clareza o sentido do subfinanciamento para o debate público; reenquadra a responsabilidade municipal com a política de pessoal; fragiliza a contratação de OSSs e redimensiona as tensões entre gestores e trabalhadores. A proposta guarda ainda o potencial de superar a descontinuidade da assistência e unificar a luta por melhores condições de trabalho, efetivando uma mesa nacional de negociação no SUS. Como deixou explicito o Programa Mais Médicos ao intervir sobre a ampliação, distribuição e reestruturação da formação e do trabalho médico no território nacional, a questão da gestão do trabalho no SUS está diretamente associada a um pacto federativo atento ao desequilíbrio regional. Uma carreira SUS evoca mesmo as questões de um planejamento regionalizado e integrado dos serviços saúde da Atenção Primária, de expansão e distribuição pública de unidades de atenção especializada e de efetiva realização de uma política hospitalar para o SUS. Ao lado de outros estudiosos, as reflexões do professor Gastão Wagner vêm iluminando esse debate, evidenciando que a complexidade desse tema não é insuperável.
Nesse contramovimento de ousar na superação das casamatas que procuram reduzir o otimismo da vontade à uma condição de pensamento romântico, se coloca o esforço de ampliar a unidade entre os variados sujeitos políticos da Reforma Sanitária – como a Abrasco, o Cebes, a Rede Unida, as instâncias partidárias que discutem a saúde, os segmentos sindicais e de representação de usuários, as representações parlamentares, os movimentos pela formação e educação em saúde, entre outros. Nesse domínio, a coesão política depende diretamente do entendimento de que o protagonismo político está na disposição de se abrir ao encontro, em manter a mão estendida ao diálogo, aproximando expectativas. Em ano eleitoral, a Frente Pela Vida, que foi uma instituição que renovou a luta nacional pelo SUS no contexto da pandemia, pode organizar sua atuação nos estados forjando “espaços de credenciamento de candidaturas sanitaristas”, efetivamente comprometidas com um programa SUS 100% público.
A esse movimento de unidade para dentro do campo sanitarista, mais do que nunca se coloca a necessidade de vinculação às aspirações de classe do movimento negro e de mulheres negras, das lutas feministas, da juventude, dos coletivos LGBTQIA+, das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, dos catadores de recicláveis, da população em situação de rua, dos trabalhadores de entrega, dos movimentos por terra e moradia. Esses segmentos sofrem na pele a ausência de um sistema de saúde que não se realiza plenamente, e são forças que vêm demarcando um ponto de cisão com a perversa estrutura capitalista presente no Estado brasileiro. Em seus processos de luta, atualizam o entendimento republicano da fundação e alargamento contínuo da liberdade, possuem uma resistência que é educadora da consciência pública, e são hoje sujeitos políticos ativos das diversas políticas públicas da democracia brasileira. São núcleos políticos renovados de cidadania que protagonizam a derrota do negacionismo fascista e devem, portanto, compor os espaços de direção – integrando ação, formulação e decisão em um programa sanitarista que busca se atualizar historicamente. Certamente, a universalidade socialista perseguida pelo SUS apenas se realizará plenamente incorporando essas cidadanias negligenciadas.
Para além do elitismo de representar os humildes na política, o desafio da democratização do Estado brasileiro que forma a tradição sanitarista exige uma ligação orgânica com as classes que pretende representar. A realização e a estabilidade institucional de um programa político dependem não apenas da correlação de forças entre vanguardas e elites, mas também da formação de consensos públicos ampliados, uma vez que a saída constitucionalizada dos conflitos exige sempre um reconhecimento público para se preservar no tempo.
SUS: horizonte de renovação da democracia
O trabalho de terra arrasada promovido poder oligárquico contra o Brasil democrático, abre um caminho importante a sua própria deslegitimação, nos lembrando que o pensamento autoritário demanda mais força do que consenso para viabilizar o seu programa. Essa falha nos informa uma janela de oportunidade para se iniciar o movimento contrário à fragmentação política e marginalização do programa de transformação que se estrutura em torno do SUS. A expansão da sensibilidade popular e da classe média no apoio ao SUS compõe o núcleo das transformações de relevo que se colocaram em curso com a pandemia. De agenda setorial a saúde pública passou ao centro da luta pelo Estado democrático brasileiro, iluminando o programa de uma reforma tributária progressiva, de políticas de desenvolvimento em ciência e tecnologia, e da necessidade de reconstrução da indústria nacional. Essa condição pode ser compreendida como um importante ativo político formador de consciências críticas uma vez que abre a possibilidade de superação do senso comum midiático de tratar o “SUS como problema” incontornável.
Esse entendimento da conjuntura conforma diretrizes importantes para uma síntese programática de reafirmação pública de uma identidade sanitarista. Em uma composição sanitária frentista, a unidade entre os vários mundos da Reforma definirá a nossa capacidade de ousar mais uma vez na história, avançando em um segundo ciclo virtuoso de realização do SUS.
*Ronaldo Teodoro, cientista político e professor no Instituto de Medicina Social da UERJ; pesquisador do CEE-Fiocruz e do CERBRAS-UFMG.