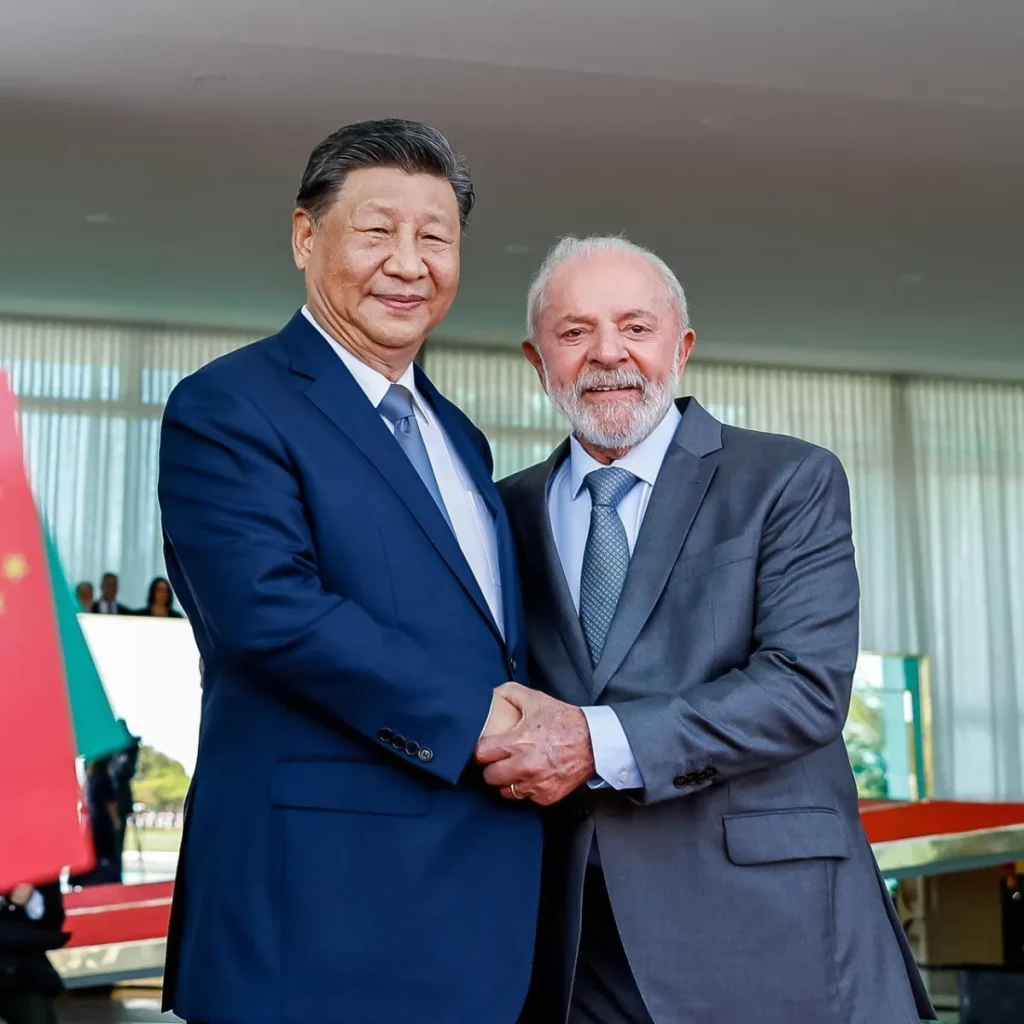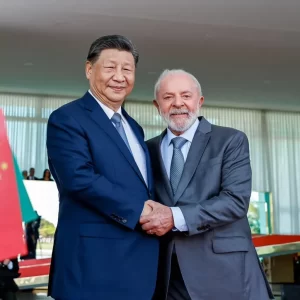O horror dos manicômios voltou, agora via “comunidades terapêuticas”. Revertê-lo requer realizar plenamente a Reforma Psiquiátrica, adotando uma clínica libertária e cidadã que inclui ações intensas de arte-cultura e economia solidária
Por Paulo Amarante, compartilhado de Outras Palavras

> Este texto é parte da edição 292 da Revista Cult — parceira editorial de Outras Palavras. O número reúne o dossiê sobre O pesadelo da normalidade. Veja o índice completo e leia outras publicações da Cult no OP.
Na virada dos anos 1970 para os anos 1980, o Brasil tinha cerca de 80 mil “vagas” em instituições psiquiátricas. O dado, sugerido por Luiz Cerqueira em Psiquiatria social: problemas brasileiros de saúde mental (Atheneu, 1984) é aproximado, na medida em que não havia um sistema de registro nacional confiável. Cerqueira o obteve mediante consultas pessoais a psiquiatras de todo o país. A expressão “vaga” está destacada porque não seria correto dizer que eram leitos em hospitais psiquiátricos: muitos internos dividiam camas ou mesmo dormiam no chão (oficialmente, era aceita a possibilidade, assim como a remuneração pelo sistema público, dos chamados “leitos-chão”!).
Existiam situações em que os internos viviam espalhados pelas amplas terras das instituições, inclusive em espécies de cavernas. Era o caso da Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, ou da Colônia do Juquery, em São Paulo, nas quais as informações sobre o contingente de internos variavam entre 20 mil e 30 mil pessoas. É impensável visualizar as condições de sobrevivência em uma instituição asilar com 20 mil pessoas institucionalizadas. Uma pesquisa realizada na Colônia Juliano Moreira em 1982 revelou que o tempo médio de permanência dos internos era de 26 anos.
O termo “colônia” era naturalizado. Tratava-se da ideia de constituir uma espécie de civilização exclusiva de loucos que, retirados do convívio, livrariam a sociedade sadia de seus incômodos. Um alienista do Rio de Janeiro falava de “cidades manicômios”. Outro, de um espaço de gestão de toda a espécie de distúrbios mentais e sociais, que iria dos “alienados” e “retardados mentais” a comunistas e maximalistas possuídos pelo “delírio vermelho”.
Em 1978, a história começou a mudar. Primeiro, por um documento de autoria de três jovens médicos (entre eles, eu) dirigido ao Ministério da Saúde, em que solicitávamos, talvez ingenuamente, medidas de saneamento daquela situação – o cenário era de mortes, maus-tratos, torturas, desnutrição, falta de profissionais e de recursos mínimos para atendimento. A resposta do Ministério foi imediata – demitiu sumariamente os profissionais, o que terminou por desencadear uma crise de âmbito nacional, com ampla repercussão na imprensa e na sociedade civil. O processo envolveu a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), parlamentares, sindicatos de várias categorias e outras entidades e movimentos sociais.
Assim, nascia, em abril de 1978, o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que viria a se tornar o ator estratégico de uma trajetória histórica ainda hoje em curso. O movimento seria o protagonista do processo que ficou conhecido como Reforma Psiquiátrica Brasileira.
Eram os anos da redemocratização. A greve desencadeada pelos profissionais de saúde mental, formalmente proibida pelo governo militar, repercutiu em outros setores ou foi por eles influenciada, como é o caso da greve dos metalúrgicos do ABC.

A Reforma
Em outubro de 1978, no Rio de Janeiro, um seminário internacional reuniu expressivos pensadores críticos em saúde mental, muitos deles ligados ao recém-criado movimento Rede de Alternativas à Psiquiatria. Participaram, entre outros, Robert Castel, Thomas Szasz, Ronald Laing, David Cooper, Félix Guattari, Erving Goffman, Howard Becker, Shere Hite e o psiquiatra italiano Franco Basaglia, figura em evidência naquele momento. Afinal, em 13 de maio daquele ano, havia sido aprovada na Itália a Lei 180, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Tratava-se da primeira lei que propunha a abolição total dos hospitais psiquiátricos, ou manicômios, como os italianos preferem denominar.
O documento ficou conhecido como Lei Basaglia em decorrência de ter sido disparado pelos processos desenvolvidos sob a liderança de Franco em Gorizia, nos anos 1960, e depois em Trieste na década seguinte. Tais experiências também desencadearam um movimento nacional, o Movimento Psiquiatria Democrática, que passou a reproduzir a influência basagliana na Itália e no resto do mundo, destacadamente no Brasil.
Basaglia chegava ao país em um momento muito especial de sua trajetória e da história italiana, e tal repercussão se fazia ouvir na Europa e América Latina. Ele criou fortes vínculos com os brasileiros – queria ir às favelas, aos hospícios, aos sindicatos e universidades. No ano seguinte, retornou ao Brasil por duas vezes. Na primeira, foi a várias capitais e, na segunda, entre outras cidades, visitou a mineira Barbacena, onde conheceu a famosa colônia pública, episódio que se tornaria um marco histórico da reforma psiquiátrica brasileira. Impactado pelas cenas de miséria e violência da instituição, Basaglia comparou-a a um “campo de concentração nazista”, lugar de produção de morte e não de cuidado e tratamento. A visita repercutiu fortemente na imprensa, tendo em vista que a sociedade brasileira não tinha nenhuma noção do que eram aquelas supostas “instituições de assistência médica”. Dois documentos se tornaram expressões daquele momento: o filme Em nome da razão (1979), de Helvécio Ratton, e o livro Nos porões da loucura (1982), de Hiram Firmino.
Com o avanço da redemocratização, o MTSM passou a vislumbrar novas perspectivas, entre elas a ultrapassagem da mera luta pela humanização das instituições psiquiátricas. Em outra frente, lutava pela criação de uma rede de saúde mental e atenção psicossocial com foco no fim dos manicômios ou, mais precisamente, pela utopia de uma sociedade sem manicômios. O manicômio passaria a ser entendido, para além dos edifícios, como a própria cultura social que operava a exclusão estrutural das pessoas diversas e diferentes, fora das normas sociais. Utilizando-se de uma frase da música “Vaca profana”, de Caetano Veloso, propalava-se que “de perto, ninguém é normal”.
Ao mesmo tempo, a proposta de um sistema único de saúde tomava corpo e começava a ganhar adeptos na sociedade brasileira – desde a apresentação formal do projeto do SUS no documento “A questão democrática na área da saúde”, apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e defendido por seu presidente, o sanitarista Sergio Arouca, à Câmara dos Deputados, em 1979, até a emblemática Conferência Nacional de Saúde, presidida por Arouca, em 1986.
Com o SUS definido como política pública de saúde na Constituição de 1988, o sistema passou a ter participação fundamental da sociedade, o que foi especialmente importante para os “usuários” dos serviços de saúde mental. Antes considerados apenas pacientes, internos, loucos e irracionais, os usuários se tornaram uma força política ativa não apenas na reforma psiquiátrica, mas na reforma sanitária como um todo. O MTSM se transformou no Movimento de Luta Antimanicomial (MLA) e passou a realizar encontros nacionais e a compor os conselhos de saúde em todos os níveis da federação, com protagonismo nas conferências da área.
Do momento inicial de denúncias da violência exercida nas instituições de saúde, o movimento passou a protagonizar, nos anos 1980, experiências práticas de assistência e cuidado em liberdade, com a participação ativa dos usuários e de seus familiares, além de atrair lideranças e atores sociais de outras frentes de incidência política, como movimentos de defesa dos direitos humanos, movimentos feministas e antirracistas, por exemplo.
As experiências alternativas ou inovadoras passaram a acontecer em todos os cantos, não apenas assistenciais – como a dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) –, mas também culturais, como os Centros de Convivência, os grupos artísticos, de teatro, coral, música, carnaval e de trabalho e economia solidária. Alguns dos grupos passaram a ser conhecidos nacional e internacionalmente, como o Coral Cênico Cidadãos Cantantes, as companhias teatrais Ueinzz!, Os Nômades e Pirei na Cenna, as bandas Harmonia Enlouquece, Sistema Nervoso Alterado, Trem Tan Tan e Os Cancioneiros, os coletivos carnavalescos Loucura Suburbana, Loucos pela X, Tá Pirando, Pirado, Pirou, Bibi-tantã, Zona Mental, Conspirados ou as cooperativas e iniciativas de geração de renda, como a livraria Louca Sabedoria, Geração POA, Projeto Gerar, Tear, Armazém das Artes, TV Tam Tam e muitas outra iniciativas de vídeo, música, artes plásticas. Impossível listá-las todas.
Na estratégia de desinstitucionalizar, ficou patente que não bastaria fechar manicômios e abrir serviços territoriais de cuidado em liberdade. Na questão do que abrir para fechar, notou-se que, além de abrir serviços de gestão clínica libertária e cidadã, seriam necessários dispositivos e estratégias de produção de outros serviços de vida para pessoas com experiências diversas. Dessa forma, foram fundamentais iniciativas de arte-cultura, geração de renda, atividades de participação e protagonismo social, dos esportes aos grupos de solidariedade, de autoajuda e ajuda mútua.
Esse movimento de reforma psiquiátrica teve resultados importantíssimos. Um deles foi a aprovação da Lei 10.216, de 2001. Embora não tenha sido tão avançado como sua fonte de inspiração, a Lei 180 da Itália, o documento introduziu inequívocos benefícios e direitos no âmbito da assistência psiquiátrica e saúde mental, ainda mais se comparada à lei então em vigor, datada de 1934. Com o amparo legal, foram fechadas mais de 60 mil daquelas “vagas” em centenas de manicômios por todo o país, para o qual foi fundamental a implantação, nos anos 2000, do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH), que contava com a participação de equipes de avaliação de gestores e técnicos, mas também de lideranças dos movimentos de usuários e familiares.

Luta antimanicomial: história e perspectivas
Entre memória e presente, este dossiê aborda a história e alguns dos desafios da reforma psiquiátrica no Brasil, desde o princípio de sua influência basagliana, no fim dos anos 1970, até questões atualíssimas. Nas próximas páginas, discutimos o caso das chamadas comunidades terapêuticas, o processo de medicalização da vida cotidiana e ainda o papel da arte e da cultura no campo da saúde mental, desde os tempos de Nise da Silveira até as experiências contemporâneas.
É Walter Melo que escreve sobre Nise da Silveira – psiquiatra que abriu horizontes, para nós brasileiros e para todo o mundo, sobre a violência institucional da psiquiatria, com suas lobotomias, eletrochoques, discriminação e estigmas, além de pontuar a arte e a cultura como estratégias de cuidado. Nise inspirou muitas das iniciativas da reforma psiquiátrica brasileira e soube deixar-se influenciar por elas nas suas perspectivas contemporâneas de luta por cidadania e direitos humanos. Emocionei-me com a beleza do texto de Walter, autor de um livro sobre a “doutora”, como também era chamada. A leitura me fez recordar o dia em que acompanhei Antonio Slavich para apresentá-lo a Nise e desse encontro ter nascido o Museo-Attivo delle Forme Inconsapevoli, em Gênova.
Livros, teses e documentários comprovam os princípios da reforma psiquiátrica no sentido da produção de vida dos sujeitos e da construção de nossos lugares sociais para as pessoas em sofrimento psíquico ou com formas diversas de estar no mundo. Em 2011, uma portaria do Ministério da Saúde instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que regulamenta e fomenta esses serviços e dispositivos, embora, é importante ressaltar, as atividades de arte-cultura e de economia solidária e geração de renda tenham sido apenas regulamentadas, sem o devido aporte financeiro. O que é uma lástima! O significado transcendental das iniciativas de arte-cultura e geração de renda, muito além dos sentidos tradicionais de terapia e entretenimento, é objeto do texto de Cristina Lopes, que também investiga os princípios éticos e epistemológicos de tais iniciativas.
Em “Franco e Franca”, escrevo sobre o questionamento da cientificidade da psiquiatria e a proposta de inversão epistemológica que os Basaglia propõem: em lugar de pôr os sujeitos entre parênteses, conclama a considerá-los na sua integralidade, complexa, não reduzida a quadros psicopatológicos. O artigo procura realçar, na mesma medida, a centralidade do papel de Franca na construção do pensamento e da prática antimanicomial na Itália, muito além do lugar de mera “auxiliar” de Franco.
Leonardo Pinho aborda os aspectos políticos e legais das ditas “comunidades terapêuticas”. No mesmo contexto do advento da RAPS, começaram a tomar força as resistências ao processo de reforma psiquiátrica, denominadas de “processo de contrarreforma”. Exemplo emblemático foi a inclusão, na própria RAPS, das “comunidades terapêuticas” de cunho religioso. Cabe ressaltar que, no contexto da Lei 10.216/2021, as pessoas que estavam institucionalizadas nos manicômios, assim como os novos usuários do sistema, não ficaram desassistidos: passaram a ser efetivamente cuidados nos mais de 3 mil Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços públicos abertos, de caráter comunitário, que oferecem tratamento em liberdade, com participação dos próprios usuários, assim como de suas famílias e da sociedade.
Portanto, além da fraude pela utilização de um projeto tão importante e inovador criado pelos ingleses para a reforma psiquiátrica, há a deturpação da finalidade das “comunidades terapêuticas” (daí a razão de estar entre aspas, para não confundi-la com aquelas de Maxwell Jones, Tom Main, Ronald Laing e David Copper). O que ocorre era uma verdadeira máquina de gestão da ausência de políticas sociais para os segmentos mais vulneráveis, especialmente a população negra e periférica. As comunidades terapêuticas são fundadas com base em uma visão conservadora e repressora sobre as drogas, que tem se demonstrado ineficaz, nociva e de uma enorme mercantilização da miséria humana.
Marcelo Kimati trata da “medicalização” da vida, pauta que tomou dimensões muito mais graves com o advento da pandemia da Covid-19. Autor e profundo conhecedor do tema, Kimati argumenta que o processo de medicalização desloca a preocupação do processo para a pessoa, em que seriam suas supostas inadequações ou fragilidades individuais as responsáveis pela doença. No texto, ele avalia a compartimentalização das identidades a partir dos diagnósticos de transtornos e aponta o caráter cultural que a medicalização do sofrimento mental assume na vida moderna, quando promete a remoção das dores psíquicas em um processo ligeiro.
Desde o fim do governo Dilma Rousseff até o governo Jair Bolsonaro, as propostas de reforma psiquiátrica foram duramente atacadas, desfinanciadas, desrespeitadas por gestores que representavam os interesses mercantis e conservadores na área. Na atual conjuntura, essas ações estão sendo reavaliadas e enfrentadas com medidas não apenas de reparação, mas de avanço do processo de reforma psiquiátrica.
Quando fechávamos esta edição, soubemos do falecimento do psiquiatra Franco Rotelli, no último dia 16 de março. Um dos fundadores da Psiquiatria Democrática na Itália, Rotelli levou a cabo o processo de superação do modelo psiquiátrico asilar naquele país.
Após o falecimento de Franco Basaglia, em agosto de 1980, foi ele que assumiu a coordenação de saúde mental de Trieste, que se tornaria centro de referência pela OMS. Ali, fechou manicômios e criou serviços e dispositivos de cuidado em liberdade. Ele esteve várias vezes no Brasil, participou de conferências e foi professor convidado da Fiocruz. Tive a honra de tê-lo como orientador internacional no doutorado e como co-autor de livros e artigos.
Franco Rotelli nos deixou um grande legado: demonstrou que é possível realizar com sucesso a reforma psiquiátrica.