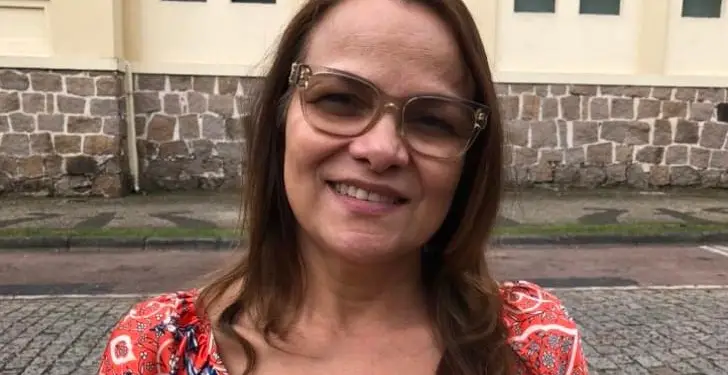Compartilhado de DW –
Invisível para muitos, a maior tragédia sanitária da história brasileira virou uma macabra estatística. A ilusão da volta ao normal, dizem antropólogos, sociólogos e psicólogos, esconde uma espécie de negação coletiva.
Há mais de três meses, em 19 de maio, o Brasil registrou pela primeira vez mais de mil mortos em 24 horas em decorrência da covid-19. Desde então, a situação epidemiológica do país, que já soma oficialmente mais de 113 mil óbitos pela pandemia, estabilizou-se em um trágico platô.
Se a situação sanitária parece longe de estar sob controle, por outro lado os discursos são de retomada de economia: há dois meses as atividades vêm sendo gradualmente reiniciadas em todo o território nacional, o isolamento social se afrouxa, e está sendo discutida a reabertura das escolas.
Para o antropólogo, cientista social e historiador Claudio Bertolli Filho, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e autor do livro História da Saúde Pública no Brasil, o país vive um cenário de “banalização da morte”.
Ele entende que isso é decorrente de uma dimensão política — a maneira como o governo federal conduziu e conduz a situação —, de uma aceitação social — o discurso de que “demos azar” ou de que quem tem comorbidades iria “acabar morrendo mesmo” —, e por fim, de aspectos culturais.
“O presidente Jair Bolsonaro é fruto da sociedade brasileira, que, historicamente, banalizou a morte, desde aquele papo que ‘bandido bom é bandido morto'”, diz Bertolli Filho à DW Brasil. “Há ainda uma tendência de nossa cultura, para sobrevivermos psicologicamente, a enfrentar o momento pandêmico negando as mortes, mostrando-nos imunes a elas.”
“É quando rejeito pensar que aquele que morreu é parecido comigo e eventualmente poderia ser eu próprio. Quem morreu é ‘o outro’, o ‘da periferia’, o que ‘tinha comorbidades’, o que ‘não seguiu as normas sanitárias'”, exemplifica o acadêmico.
Já para o historiador e sociólogo Mauro Iasi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autor de Política, Estado e Ideologia, a sequência diária de mortes, transformadas em estatística, acaba naturalizando-as à população.
“Quando nos vemos diante de um número elevado de mortes, como em um acidente, por exemplo, isso nos choca pela quebra desta aparente casualidade. No caso da pandemia, o ritmo diário das mortes, sua matematização pelas estatísticas, tende a devolver o fenômeno para o campo da casualidade, naturalizando-o”, argumenta ele.
Iasi exemplifica citando as mortes provocadas anualmente pela ação da Polícia Militar no Brasil — 5.804 em 2019. “A rotinização do fato faz com que se banalize o fenômeno, como parte da vida e, portanto, abrindo espaço para sua negação.”
Pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), o jornalista, economista e cientista político Bruno Paes Manso compara a sensação transmitida pelas mortes do coronavírus àquela em relação as vítimas de homicídio no país.
“Os grupos que morrem são vistos como aqueles que, de alguma forma, tinham justificativa para morrer. No caso dos homicídios, são as pessoas ‘que procuraram seu próprio destino’. [Para a opinião pública] a vítima é culpada da morte: são negros, pobres, moradores de periferia, suspeitos de serem traficantes”, comenta. “Existe uma certa ilusão de que as mortes se restringem a determinados grupos vistos pelas pessoas como aqueles que ‘podem morrer’. Isso gera não a banalização, mas uma tolerância a esse tipo de ocorrência.”
Ele acredita em uma lógica um tanto parecida nos óbitos decorrentes do coronavírus. Na racionalização, aponta o pesquisador, a opinião geral é de que a doença não atingiria os próximos, mas sim aqueles vistos como “o outro”: o idoso, aquele com comorbidades, os de alguma forma mais vulneráveis. Este raciocínio é balizado pelo que ocorre nas principais cidades — em geral, os distritos com maior número de mortos estão localizados nas periferias.
Desamparo
“O medo da morte iminente que vem junto com a pandemia mobiliza tanto conteúdos de medo e de desamparo, quanto uma espécie de negação coletiva, já que não existe nenhuma figura real de autoridade, nem na ciência, nem na política, que dê conta de ‘funcionar’ como figuras paternas ou maternas que possam cuidar ou proteger contra a morte”, analisa a psicóloga Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Até porque, em todo o mundo, por enquanto, ninguém sabe ainda como vencer essa ameaça comum a todos os seres humanos, com exceção da esperada chegada de vacinas.”
Ela lembra que o fato de essas mortes serem divulgadas diariamente por meio de estatísticas numéricas também dificulta a “identificação” por parte da população. Isso só não ocorre, pontua a professora, quando as mortes chegam a círculos próximos ou vitimizam alguma celebridade.
Para o psicólogo Ronaldo Pilati, professor da Universidade de Brasília (UnB), o fenômeno não pode ser chamado de “banalização”, mas sim de “minimização”. Ao recordar da comoção que houve no Brasil quando a Itália registrava cerca de mil mortes em um dia, por exemplo, ele ressalta que era um momento em que os brasileiros estavam “mais atentos e conectados à questão”, já que o mês de março foi quando diversas medidas de quarentena e isolamento social foram implementadas de fato.
“Com o passar do tempo e a maneira ineficiente com que o Brasil enfrentou a pandemia, houve uma mudança de comportamento”, observa. “Não houve enfrentamento coordenado [da questão] e isso confirmou a expectativa de desamparo que o brasileiro tem quando depende do Estado para a resolução de problemas.”
No livro Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, a antropóloga americana Nancy Scheper-Hughes relata como mães brasileiras de favelas com altos índices de mortalidade infantil acabam lidando com os óbitos de seus filhos. Para a pesquisadora, a impotência faz com que essas mulheres acabem se conformando com a partida daqueles “mais fracos”, exercendo uma espécie de triagem para favorecer os bebês mais saudáveis, com mais “talento para viver”.
Professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o antropólogo e sociólogo Marko Monteiro concorda que essa sensação é decorrente da desigualdade social brasileira. “Convivemos com a morte historicamente, desde a formação do país, a maneira violenta como foi construída a nação. Nossas ações cotidianas são permeadas por violência”, resume. “A banalização é consequência disso: os números mostram que quem está morrendo mais são as pessoas de áreas periféricas, negras, sem acesso… São os fatores modificáveis.”
“Então temos mecanismos sociais e psicológicos para conviver com essas mortes, que muitos consideram inevitáveis. É a clássica atitude do ‘eu não sou coveiro’, do ‘e daí?’… Por que isso ressoa em muita gente? Porque há a ideia de as mortes eram inevitáveis, que essas pessoas morreriam de qualquer jeito”, afirma.