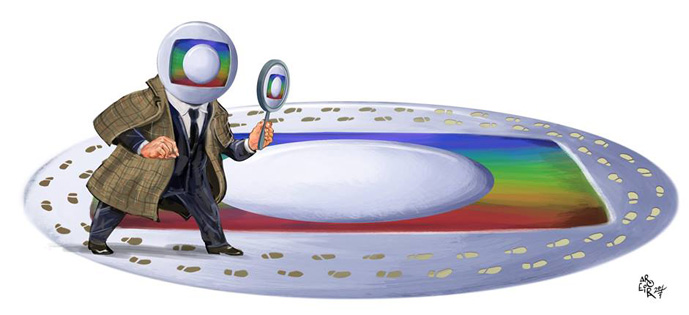Por Juliana Gragnani. compartilhado de BBC News –
Douglas Martins Rodrigues, Claudia Silva Ferreira, Eduardo de Jesus Ferreira, Roberto de Souza Penha, Carlos Eduardo Silva de Souza, Cleiton Corrêa de Souza, Wilton Esteves Domingos Júnior, Wesley Castro Rodrigues, Evaldo Rosa dos Santos, Luciano Macedo.
E tantos outros.
 Direito de imagemAFP
Direito de imagemAFP“Eu chorei muito quando vi o rapaz querendo respirar e o policial com o joelho apertando o pescoço dele. Eu não gosto de ver, porque sempre que vejo, lembro da minha irmã”, diz Jussara Silva Ferreira. “Engraçado, aqui todo dia acontece isso. Todo dia tem um preto morrendo.”
Como o americano George Floyd, a irmã de Jussara, uma mulher negra, foi vítima de violência policial. Claudia Silva Ferreira foi morta aos 38 anos e arrastada por 350 metros por uma viatura da Polícia Militar na zona norte do Rio em 2014. Seis anos depois do crime, nenhum dos policiais acusados do homicídio e da remoção do cadáver de Cláudia foi punido.
A grande maioria das pessoas mortas por intervenções policiais no Brasil são negras. Entre 2017 e 2018, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 6.220 registros de mortes por intervenções policiais daquele ano, 75,4% eram pessoas negras, sendo que, segundo dados do IBGE, esse grupo representa 55% da população.
Além disso, 99,3% eram homens e 77,9% vítimas tinham entre 15 e 29 anos de idade.
O dado objetivo é esse: no Brasil, a polícia mata mais negros, homens e jovens.
“Centenas de garotos são mortos nas favelas. Tem casos que nem aparecem”, diz João Tancredo, advogado de vítimas de violência policial.
“A questão humana, do afeto, está escorrendo pelas mãos. Estamos enxugando gelo com sangue. Mata-se por nada. A vida dessa população não vale nada para o Estado. E nós, da classe média, temos grande responsabilidade nisso, por achar que a solução é o extermínio.”
A BBC News Brasil revisitou cinco casos de mortes de brasileiros após intervenções policiais nos últimos anos, dentre milhares de casos possíveis, para verificar qual foi seu desfecho. Os casos escolhidos aconteceram na última década, em sua maioria há tempo suficiente para que houvesse um desfecho legal. Todos também tiveram cobertura da imprensa e repercussão nas redes sociais.

 Direito de imagemREPRODUÇÃO
Direito de imagemREPRODUÇÃO‘Por que o senhor atirou em mim?‘ – Douglas Martins Rodrigues, 17 anos (2013)
Douglas tinha 17 anos quando uma bala disparada por um policial militar atravessou seu tórax e lhe tirou a vida.
Ele era estudante e também trabalhava em uma lanchonete em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Num domingo, estava com o irmão de 12 anos a uma quadra de casa, no Jardim Brasil, zona norte.
Estavam indo a um campeonato de pipas quando um carro de polícia passou pelos dois e encostou. Os policiais haviam ido atender a uma ocorrência de perturbação de sossego. Eram 14h.
“Testemunhas dizem que o PM, sem falar nada, desceu atirando”, diz uma reportagem da Folha de S.Paulo daquela época.
Foi o policial Luciano Pinheiro Bispo quem atirou em Douglas.
As últimas palavras ditas pelo adolescente, segundo testemunhas, viraram um símbolo nos protestos pedindo o fim do extermínio de jovens negros em periferias: “Por que o senhor atirou em mim?”
Bispo declarou na Justiça Militar que o disparo foi acidental. Em 2016, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo pela morte de Douglas — o juiz considerou que faltavam provas para determinar se o tiro foi intencional ou não, e a defesa alegou que havia um problema na arma utilizada pelo policial. A sentença foi transitada em julgado.
A morte do jovem baleado pela polícia gerou protestos, na época. Há registros de manifestações próximas à rodovia Fernão Dias, na zona norte de São Paulo. Uma reportagem do portal de notícias R7 fala em três ônibus, um carro incendiado e pneus incendiados, além de barricadas feitas com madeira. Na época, a PM usou balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão.

 Direito de imagemREPRODUÇÃO
Direito de imagemREPRODUÇÃO‘Arrastada como um bicho pela viatura da PM‘ – Claudia Silva Ferreira, 38 anos (2014)
É muito difícil esquecer as imagens do corpo de Claudia sendo arrastado por uma viatura da Polícia Militar. Um vídeo, gravado por um cinegrafista anônimo que estava em um carro atrás da viatura, foi amplamente divulgado pela mídia em 2014.
Claudia, conhecida como Cacau, tinha quatro filhos, de quem “cuidava com unhas e dentes”, diz a irmã, Jussara. “Ela era bem alegre, tinha muitos amigos. A gente se lembra dela o tempo todo.” Era auxiliar de serviços em um hospital.
Aos 38 anos, quando ia comprar alimento para os filhos, segundo depoimento do marido, foi baleada no Morro da Congonha, em Madureira, zona norte do Rio.
A Polícia Militar estava realizando uma operação no Morro da Congonha, e segundo a corporação, houve troca de tiros na chegada dos policiais. Claudia foi baleada por volta das 8h.
Um laudo posterior mostrou que sua causa de morte foi um tiro que atingiu seu pulmão e o coração. Em seguida, foi colocada dentro de um carro da PM que a levaria a um hospital.
No trajeto, a porta traseira do carro se abriu, Claudia caiu do porta-malas, mas uma parte de sua roupa ficou presa no para-choque do carro, fazendo com que ela fosse arrastada no asfalto por cerca de 350 metros. No vídeo, é possível ver o momento em que os policiais param a viatura e colocam o corpo de Claudia de volta no porta-malas. Ela chegou morta ao hospital.
“Arrastaram ela que nem um bicho, jogaram ela no carro como se ela fosse um animal. Eles não estavam nem aí”, diz Jussara, irmã de Cláudia, à BBC News Brasil. “Eu me pergunto até hoje: como que eles não viram aquela porta se abrir, ela sendo arrastada? É porque eles não estão nem aí. Ela é um ser humano, eles também são seres humanos…”
Dois policiais militares, Zaqueu de Jesus Pereira Bueno e Rodrigo Medeiros Boaventura, foram acusados pela morte de Claudia. Na Justiça Militar, segundo o advogado João Tancredo, que representa parte da família, foram absolvidos de homicídio por insuficiência de provas para a condenação. Mas uma nova audiência deve decidir se a competência para julgar os dois é da Justiça Militar ou se vão a júri popular.
Outros quatro policiais militares, Adir Serrano, Rodney Archanjo, Alex Sandro da Silva e Gustavo Ribeiro Meirelles respondem pelo crime de fraude processual, por terem modificado a cena do crime, removendo Claudia. Todos os policiais respondem ao processo em liberdade.
“Eles estão soltos? Estão soltos. Mas a gente vai falar o quê? A gente não vai falar porque depois eles vêm pra nossa casa e inventam alguma coisa”, afirma Jussara. “Eu tenho medo de denunciar a falta de punição porque a gente não tem segurança nenhuma. A gente vai gritar, falar, depois eles aparecem na nossa casa do nada, inventam história.”
“Só teve repercussão porque uma pessoa filmou ela sendo arrastada.”
Ela diz que a vida de toda a família mudou depois da morte de Claudia. “Ela tomava conta de todos. A família se separou, cada um foi para um lado. Os filhos mais novos até hoje choram e dizem que sentem falta dela”, diz. “Minha mãe foi definhando, definhando e dizia o tempo todo que sentia falta da filha.”
A mãe, Sebastiana, morreu no último dia 29. Ela estava com dor no estômago, mas a família não conseguiu interná-la no hospital porque, segundo Jussara, a recomendação de profissionais de saúde foi mantê-la em casa para que ela não corresse risco de contrair coronavírus no hospital.

 Direito de imagemREPRODUÇÃO
Direito de imagemREPRODUÇÃO‘Brincava na porta de casa‘ – Eduardo de Jesus Ferreira, 10 anos (2015)
Em 2015, Eduardo de Jesus Ferreira estava brincando com o celular na porta de casa, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio.
Foi morto por um tiro disparado por um policial. Ele tinha 10 anos.
“Era uma criança muito doce, dizia que me amava várias vezes por dia”, disse a mãe do garoto, Terezinha Maria de Jesus, ao jornal O Globo. “Ele me falava que tinha um futuro bonito pela frente. Agora, não tem mais.”
Na época, a Polícia Militar divulgou nota admitindo autoria da morte da criança. A PM informou que o tiro se deu em meio a um confronto entre policiais e criminosos.
Ao menos um vídeo foi feito mostrando o menino no chão, morto, e um policial saindo de cena, enquanto moradores o chamavam de “assassino”.
Um inquérito da Polícia Civil concluiu que os policiais Marcus Vinicius Nogueira Bevitori e Rafael de Freitas Monteiro Rodrigues agiram em legítima defesa, sem intenção de matar o menino, tendo “errado na execução”. Em 2016, o processo contra os PMs foi arquivado pelo Tribunal de Justiça do Rio.

 Direito de imagemREUTERS
Direito de imagemREUTERS111 tiros – Roberto de Souza Penha,16 anos, Carlos Eduardo Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, Wesley Castro Rodrigues, 25 anos (2015)
O carro ficou completamente esburacado.
Foram 111 tiros disparados por quatro policiais militares, que tiraram a vida de cinco jovens na zona norte do Rio, em 2015, no caso que ficou conhecido como a Chacina de Costa Barros.
Roberto de Souza Penha, 16 anos, Carlos Eduardo Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, e Wesley Castro Rodrigues, 25 anos perderam a vida no dia 28 de novembro de 2015.
Os cinco, moradores do Morro da Lagartixa, no Complexo da Pedreira, tinham saído para comemorar o primeiro salário de Roberto como jovem aprendiz, passando o sábado no Parque de Madureira.
Voltaram para casa à noite em um Palio branco dirigido por Wilton. Já perto de casa, quatro policiais militares do 41º Batalhão os interceptaram. Disparam 111 tiros, dos quais 63 atingiram o carro e a região do tronco dos jovens, que estavam desarmados.
Testemunhas relatam que ouviram os gritos dos jovens dizendo: “Não atira, somos moradores!”.
No dia seguinte, os quatro policiais foram detidos. Houve manifestações da comunidade. Dois dias depois do ocorrido, o comandante do batalhão foi exonerado. Três dias depois, foi decretada a prisão preventiva dos policiais.
Eles foram acusados de cinco homicídios qualificados, duas tentativas de homicídio qualificado (o irmão de Wilton, Wilkerson, e um amigo, Lourival, estavam em uma moto atrás do carro, mas sobreviveram). Um policial foi acusado de fraude processual por alteração da cena do crime.
Os policiais disseram em depoimento que foram checar uma denúncia de roubo de carga. Também disseram que um dos jovens estaria com o tronco para fora do carro com uma arma na mão e que eles teriam sido atacados a tiros. Os policiais apresentaram um revólver calibre 38 que teria sido usado pelo jovem, mas a perícia constatou que a arma estava danificada e “não apresentava capacidades para produzir tiros”.
Meses depois, em abril de 2016, um dos quatro policiais foi solto, beneficiado por um habeas corpos concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em junho, outros habeas corpus foram acatados pelo STJ, colocando os outros três policiais para responder ao processo em liberdade.
Em agosto, os quatro policiais voltaram para a prisão, com habeas corpus anulados.
Quatro anos depois do crime, em novembro do ano passado, dois policiais militares, Marcio Darcy Alves dos Santos e Antônio Carlos Gonçalves Filho, foram condenados a 52 anos e seis meses de prisão. Um dos acusados, Fábio Pizza Oliveira da Silva, foi absolvido das acusações, e outro, Thiago Resende Viana Barbosa, ainda será julgado.
A próxima audiência está marcada para setembro de 2020.
Oito meses depois, Wilkerson, o rapaz que estava na moto, morreu vítima de um aneurisma cerebral. A mãe de Roberto, um dos adolescentes de 16 anos, morreu em julho de 2016. Joselita de Souza tinha 44 anos e teve uma parada cardiorrespiratória. Reportagens mostram que Adriana, mãe de Carlos Eduardo, também de 16 anos, entrou em uma grave depressão.

 Direito de imagemREPRODUÇÃO
Direito de imagemREPRODUÇÃO‘Calma, amor, é o Exército’ – Evaldo Rosa dos Santos, 51 anos e Luciano Macedo, 27 anos
Evaldo Rosa dos Santos estava levando sua família para um chá de bebê. No carro estavam ele, seu sogro, sua mulher, seu filho de sete anos e uma amiga da família.
Por volta das 14h daquele domingo, dia 7 de abril de 2019, uma rajada de tiros atingiu o carro da família. Vinha de militares em Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Ao jornal Folha de S.Paulo, a mulher de Evaldo contou que, antes dos tiros, disse ao marido: “Calma, amor, é o Exército”.
O Exército tirou a vida de Evaldo, que era músico, e de Luciano Macedo, um catador de material reciclável que tentou socorrer a família e morreu atingido por três tiros nas costas. Sua viúva estava grávida de cinco meses e viu a cena.
Segundo o Ministério Público Militar, naquela tarde os militares efetuaram 257 tiros de fuzil e pistola. Destes, 62 atingiram o carro da família, um Ford Ka branco. Não foram encontradas armas ou outros objetos de crime com as vítimas.
A versão do Exército é de que o carro foi confundido com o de um bandido.
Nove dos militares ficaram presos preventivamente por um mês e meio, mas foram soltos por maioria de votos no Superior Tribunal Militar no dia 23 de maio.
Seis dias depois do caso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Exército não havia matado ninguém e que o caso era um “incidente”. “O Exército não matou ninguém. O Exército é do povo. A gente não pode acusar o povo de assassino. Houve um incidente. Houve uma morte. Lamentamos ser um cidadão trabalhador, honesto”, afirmou, na época.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra 12 militares por “terem causado a morte de Evaldo Rosa dos Santos e Luciano Macedo e atentado contra a vida de Sergio Gonçalves de Araújo, expondo a população local a perigo, bem como por terem deixado de prestar socorro às vítimas”. Ou seja, os 12 foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado (duas acusações, com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão), uma tentativa de homicídio (dependendo da gravidade, pode chegar a pena semelhante) e por não terem prestado assistência (de um a seis meses ou multa).
Segundo a denúncia do Ministério Público, “a ação injustificada dos militares, além de ter causado a morte de dois civis e atentar contra a vida de outro, expôs a perigo a população local de área densamente povoada”
Em dezembro do ano passado, a primeira instância da Justiça Militar da União, no Rio de Janeiro, ouviu os 12 militares acusados da mortes de Evaldo e Luciano Macedo. Testemunhas também já foram ouvidas.
O processo ainda está em andamento, em fase de diligências. O Ministério Público Militar não requereu diligências, mas a defesa sim.
Depois dessa fase, as partes deverão apresentar suas alegações escritas e, na sequência, uma sessão de julgamento será marcada.
Há ainda um Inquérito Policial Militar em andamento. Conforme revelado pelo jornal O Globo, o Ministério Público Militar levantou contradições e omissões nos depoimentos prestados pelos militares sobre a ação, como a omissão de que estavam usando um rádio transmissor apreendido com traficantes para monitorar atividades de criminosos.

Racismo, violência e impunidade
Os casos revisitados nesta reportagem ilustram os dados citados no início: a polícia no Brasil mata mais negros, homens e jovens. Também mostram que a Justiça demora ou deixa de punir ou investigar esses crimes.
Para David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados mostram que a sociedade é racista, e que o racismo estrutural se manifesta de diferentes formas nas instituições brasileiras.
“Estudos sobre como a polícia escolhe seus suspeitos mostram que a polícia tem muito mais facilidade para dizer que abordam mais pobres do que dizer que abordam mais pretos, sem entender a relação entre racismo e pobreza”, diz Marques. “Reflete de forma geral o que a sociedade brasileira diz, que não é racista. De acordo com essa visão, racismo é só quando pessoa ofende a outra pela cor da pele, e não quando um conjunto de atuações da polícia demonstra essa desigualdade racial.”
Esses estudos, diz ele, mostram que a polícia escolhe seus suspeitos por meio de um conjunto de critérios — roupa, cabelo, forma como está vestindo, região da cidade em que está circulando — que são signos associados com a cultura negra. “São marcadores racializados.”
Além disso, há uma complacência da sociedade com a letalidade da polícia no Brasil.
“Uma concepção bastante tradicional é que, para fazer controle do crime e da violência, é preciso agir com violência, algo que é expresso na máxima ‘bandido bom é bandido morto'”, explica. “A ideia permeia quase todas as ações nessa área.” Segundo ele, no entanto, não é a maior parte dos policiais que matam, mas alguns policiais que matam recorrentemente.
E isso leva a um terceiro ponto: a falta de responsabilização dos policiais que praticam crimes.
O advogado Gabriel Sampaio, coordenador do programa de enfrentamento à violência institucional da Conectas (ONG em defesa dos direitos humanos), avalia que há três impedimentos objetivos, “razões bem estruturais”, para a responsabilização de policiais.
O primeiro, diz ele, é a falta de normas suficientes para assegurar a devida apuração de mortes violentas como consequência de ações policiais. Ele cita os autos de resistência, quando o policial alega que houve reação da vítima e que, portanto, o agente agiu em legítima defesa.
“Em casos em que há pouco engajamento social ou visibilidade dada pela mídia, muitos são colocados em autos de resistência, e nenhuma apuração é garantida”, diz. É por isso que ele defende a aprovação do projeto de lei 4.471 de 2012, que garante que as mortes provocadas por policiais sejam investigadas.
O segundo obstáculo, de acordo com Sampaio, diz respeito à atuação da Justiça Militar. Nem sempre, diz ele, há transparência nas investigações, e é comum que haja apurações com pouca profundidade.
“Em geral, notamos falta de maior controle social porque o tema não vai ao júri. Além disso, testemunhas podem se sentir intimidadas a ir em batalhão de polícia depor”, afirma. “Há uma zona cinzenta desse processo, uma cifra oculta que não é captada e que é bastante importante.”
E a terceira questão é a inoperância do controle externo. Para ele, outros órgãos do sistema, como o Ministério Público e a Polícia Civil agem com “certa complacência” em casos como esses. “Os próprios agentes responsáveis por levar adiante investigações acabam deixando de tomar providências ou de levar a fundo investigações importantes”, afirma.
Para Marques, “é fundamental fortalecer os mecanismos de controle da atividade policial, principalmente os externos”. “É preciso que o Ministério Público, a Polícia Civil e a perícia façam seu papel.”
Ele cita a criação das ouvidorias da polícia, nos anos 1990, como iniciativa de mais um controle externo da atividade policial, mas que, em sua maioria, “não adotaram de fato essa missão”. “A maior parte se tornou escritórios de operacionalização da Lei de Acesso à Informação”, diz ele.
Marques também defende que haja um processo formativo que oriente policiais a buscar suspeitos de forma técnica e que padronize o que se espera das ações policiais.
Um documento da ONG Human Rights Watch de 2016 sobre a violência policial no Rio sugere, além de reforçar a atuação do Ministério Público e da Polícia Civil, acoplar câmeras ao colete dos policiais e melhorar as condições de trabalho de policiais militares.