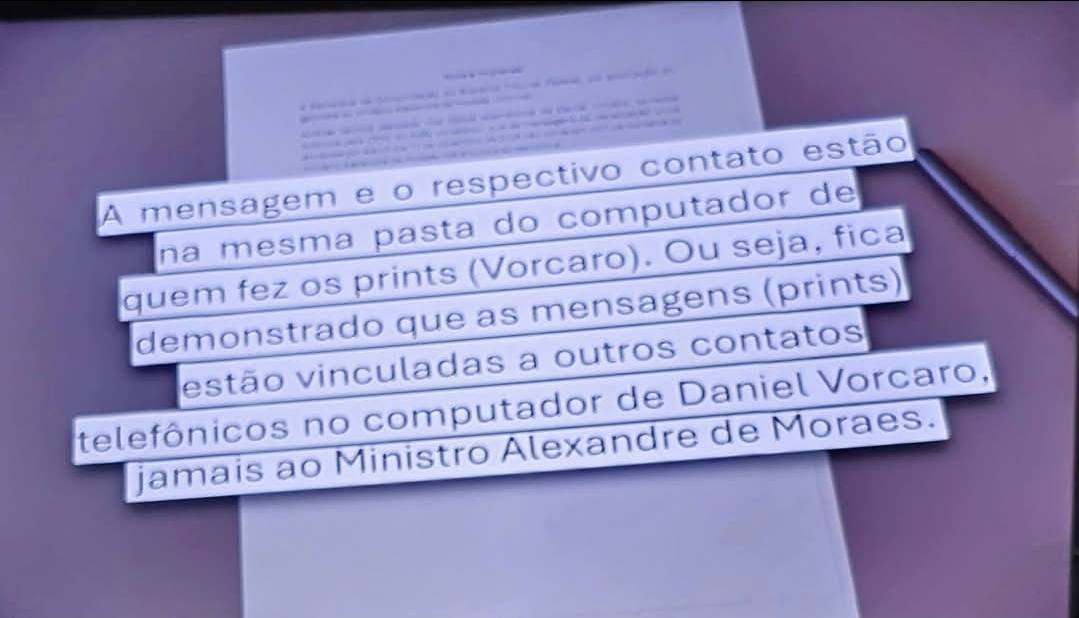Por Nirton Venancio, Cineasta, roteirista, poeta, professor de literatura e cinema
“Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba / mais possível novo quilombo de Zumbi”…
“Maurício Lucila Gildásio Ivonete Agrippino Gracinha Zezé / gente espelho da vida, doce mistério”…
Nesses versos, respectivamente trechos das músicas “Sampa” (1978) e “Gente” (1977), de Caetano Veloso, há homenagens explícitas ao escritor, dramaturgo e cineasta José Agrippino de Paula. Seu livro “PanAmérica”, publicado em 1967, praticamente deu uma guinada diferente na literatura brasileira naquela década de mudanças pelo mundo todo.
De forte incidência pop, ou para ser mais preciso àqueles tempos, representativamente beat, narra as maluquices e casos amorosos de um cineasta enquanto tenta filmar nada mais nada menos do que A Bíblia Sagrada, colocando no elenco nomes como John Wayne, Marilyn Monroe, Burt Lancaster, Charles De Gaulle, entre outros, e eles próprios interferindo na construção das cenas. Viagem lisérgica total, situemos assim. Ou não. No mínimo, o suprassumo da estética tropicalista. A influência de Agrippino no movimento é inegável: Jorge Mautner lembra que “quando ele falava, todos silenciavam”.
Essa mistura desvairada em sua criação, com personagens reais da cultura estadunidense, é, na verdade, uma crítica muito bem armada sobre a sociedade de consumo. Caetano Veloso dizia que o livro parecia “Ilíada”, do poeta grego Homero, narrada por Max Cavalera, ex-vocalista do Sepultura. É uma boa semelhança entre coisas diferentes. O fato é que Agrippino soube como pouquíssimos captar – e viver na pele – o século XX no que ele teve de mais representativo no ser humano e seus signos.
“PanAmérica” foi reeditado em 2001, pela Papagaio Editora, que relançou em 2005 o primeiro livro de Agrippino, “Lugar público”, originalmente publicado em 1965.
Agrippino foi diretor do muito comentado e pouco visto “Hitler Terceiro Mundo”, seu único longa-metragem, de 1968, um dos mais radicais do cinema alternativo que já vi. Goste-se ou não do filme ou do gênero, não dá para ficar indiferente a um trabalho que marcou época e influenciou outros diretores.
O não menos original Carlos Reichenbach (1945-2012) dizia que suas obras “deflagraram uma revolução mental e sensível na minha geração”. Os curtas rodados em Super-8 já traziam a linguagem inovadora de um artista inquieto e visionário.
Em 1976 Gilberto Gil musicou alguns trechos do livro “PanAmérica” e inseriu na canção “Eu e ela estávamos ali encostados na parede”, gravada no antológico “Doces Bárbaros – Ao Vivo”.
Agrippino vivia em Embu das Artes, na Grande São Paulo, desde o começo dos anos 80, esquecido do mundo, que tanto observou. Desde então teve uma vida difícil, principalmente depois da morte de sua filha, batizada Manhã, em acidente de carro em 1992, que teve com a bailarina e coreógrafa Maria Esther Stockler, de quem estava há muito tempo separado, mas nunca a esqueceu. “Maria Esther está lá na avenida Angélica falando com Caetano. Ela gosta de sair”, delirava de saudade.
Sua cabeça ficou mais em desordem quando soube da morte de Esther, por câncer, em 2006, na cidade de Paraty, onde residia, sucumbida à depressão e ao alcoolismo. A exímia criadora da coreografia imagética na dança brasileira tinha 67 anos e nunca se recuperou da perda da filha.
Um ano depois, na manhã de 4 de julho, Agrippino faleceu de um infarto fulminante, nove dias antes de completar 70 anos. Foi encontrado pelo irmão, que o visitava regularmente, levava as roupas lavadas, abraços demorados, e entre os itens necessários para sua manutenção, o arroz integral que ele comia diariamente desde os anos 60.
A cabeça de Agrippino não segurou a barra. O emaranhado do tempo aumentou a esquizofrenia que sofria nesta panAmérica de Áfricas utópicas. Espelho da vida, doce mistério.
Na foto da década de 80, Acervo do SESC-SP, o artista em frente à casa onde viveu seus últimos anos.