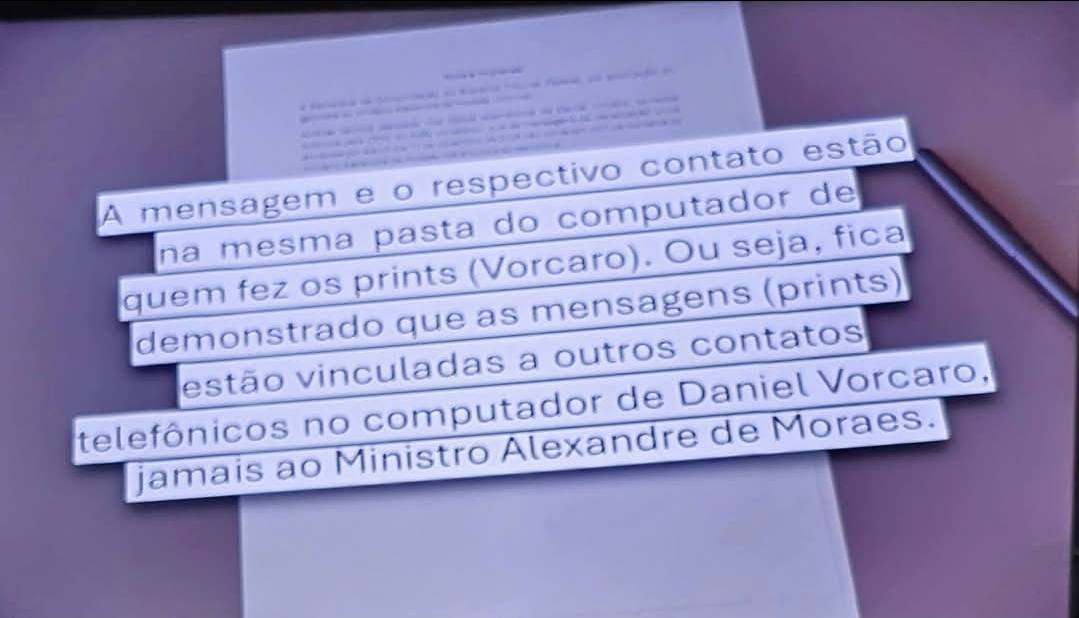No Brasil, a violência contra negros sempre acontece em nome de outra coisa que não o ódio racial
Acauam Oliveira e Rafael Mantovani, compartilhado da Piauí
Aidentidade é o fundamento das associações humanas, nos dizem os antropólogos e sociólogos. Não existe exemplo de sociedade que tenha se organizado sem produzir mitos e práticas culturais para criar a identificação mútua entre seus membros. Como identidades geram diferenças, e estas muitas vezes resultam em conflitos, poderíamos supor que um mundo no qual todos compartilhassem de uma única identidade seria um mundo pacificado. Mas essa suposição atende apenas à lógica, como sabemos, pois as identidades são muitas, variadas e estão em permanente conflito, tanto mais hoje.
Diferente da identidade autoproduzida por uma sociedade para agregar seus membros é a identidade heterônoma – criada de fora para dentro em relação a determinada sociedade. Foi o que ocorreu a partir do século XVI com diversos povos da África, que passaram a ser identificados como “negros” pelos europeus. Os habitantes da África não se entendiam como “negros”, mas como xonas, soninquês, fulas, sossos, ibos, iorubás. A imensa gama de diferenças foi toda amalgamada pelos ditos colonizadores sob a nova rubrica identitária, que ao mesmo tempo decretava a pretensa inferioridade racial e social dos povos africanos e servia de justificativa para submetê-los pela violência e eliminar suas identidades particulares.
Para colonizar esses povos, no século XVI, a mentalidade europeia também os hierarquizou no plano espiritual: eles não pertenciam à cristandade, mas ao mundo pagão, inferior. No século XIX, essa hierarquização ganhou verniz científico, sempre com o mesmo objetivo: provar a superioridade dos brancos sobre todos os povos diferentes deles. A identidade atribuída aos africanos foi um opróbrio que perdurou por séculos – e a palavra “denegrir” é um sintoma disso na língua portuguesa, pois significa, ao mesmo tempo, “macular” e “tornar negro”.
Os resultados de quatrocentos anos denegrindo africanos estão visíveis na realidade brasileira. Habitantes das zonas esquecidas das cidades, os negros hoje são privados de direitos básicos, como educação, saúde e lazer, constituem a maioria dos desempregados e dos que estão em condições de extrema pobreza (75%, segundo o Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). São também privados do direito à vida. Crianças, adolescentes ou adultos, não importa: são eles os alvos preferenciais das armas da polícia. Além da subtração material, é preciso levar em conta a subjetiva. Os negros são os humilhados, os suspeitos preferenciais de crimes, aqueles que terão dificuldades redobradas para vingar na vida. Pois a sociedade, hierarquizada em termos de raça, se esmera em colocá-los no seu “devido” lugar. Esse conjunto de ignomínias tem efeito catastrófico na psique de um indivíduo e em seu grupo social.
Aidentidade dos brancos é afirmada por todos os meios na sociedade – da educação à publicidade. O objetivo dessa produção identitária persistente é torná-la norma universal. Como se trata de prática antiga e constante, infiltrada em todos os cantos, sequer é notada. Em tal ambiente, como uma pessoa negra pode afirmar seu valor, senão por meio da elaboração da sua própria identidade? Como pretos (e não só eles, mas também outras etnias) podem encontrar seu lugar no mundo a não ser reelaborando o mundo que conspira contra eles? Mas, quando isso ocorre, quando alguns produzem entre si uma identidade que é diferente da identidade branca dominante, sempre há brancos para reclamar. “O identitarismo é violento”, dizem. Para eles, é fácil falar assim, pois não veem que a violência se origina em seu próprio raciocínio eurocêntrico.
Em sociedades complexas como as atuais, as identidades se multiplicam. As demandas das variadas identidades tornam-se incontornáveis, e por isso mesmo despertam reações violentas em grupos nostálgicos da hegemonia que até então exerciam. O avanço dos movimentos de extrema direita em diversas partes do mundo – como nos Estados Unidos, no Brasil, na França e na Hungria – é sustentado em grande parte por essa retórica de enfrentamento ao que chamam de “identitarismos”, entre eles o dos negros, assumindo contornos muito problemáticos no debate público.
O comediante branco norte-americano Tom Segura listou em 2018, no stand-up Disgraceful, uma série de palavras que poderiam soar ofensivas a diversos grupos atualmente, mas que eram de uso comum no passado. Depois, ele disse: “Vocês podem estar aí sentados se perguntando: ‘Tom, o que nós ainda podemos dizer?’ Vou te dizer o que nós podemos dizer: ofensas raciais contra brancos. Todas elas.” E a plateia, que não era composta somente por negros, caiu na risada. Então, Segura arrolou uma série de insultos contra brancos. E completou: “Ninguém se importa [com esses insultos]. [O branco] Não é um grupo historicamente marginalizado. […] A palavra hunky [branquelo] é hilária por si só. Mas, por alguma razão, pessoas brancas verdadeiramente racistas se agarraram a ela. É um indicador óbvio para apontar um racista. Se eles se sentirem ofendidos, saiam correndo, o.k.?”
Qual é o prejuízo concreto sofrido por uma pessoa branca ao ser chamada de branquela ou palmito? A rigor, nenhum. Tanto assim que desfeitas como essas costumam ser trocadas pelos brancos entre si. Em contrapartida, qual é a consequência de ofensas racistas dirigidas aos negros, senão demarcar para o ofendido um lugar inferior na sociedade, separá-lo do conjunto, afastá-lo da vida comum e, no limite, condená-lo ao genocídio? No Ocidente dominado hegemonicamente pela cultura branca, a lealdade entre as pessoas brancas estimula a valorização do racismo. O objetivo da lealdade entre pessoas negras é outro.
Afirmar que black is beautiful, celebrar a negritude, promover os valores ancestrais dos negros, lutar pelos direitos que lhes são devidos não é colocar em prática uma nova identidade na forma de violência racial. É justamente o oposto: é um processo de autovalorização e autodefesa, em resposta ao racismo dominante, que é uma invenção dos brancos. Daí o caráter profundamente violento de quem associa a luta identitária e antirracista dos negros à violência e à ideia delirante de que buscam “tomar o poder”. Como se o objetivo dos negros fosse subjugar os brancos, quando o que buscam é o direito elementar de poder viver.
No Brasil, afora a violência do racismo, circulou, como se sabe, a teoria de que a democracia racial seria a principal característica do país. Essa construção ideológica, que pretendia disfarçar, ou esconder, a presença determinante do racismo na formação nacional foi amplamente desmoralizada nos últimos anos, graças, entre outros motivos, aos esforços da militância negra. Não são poucos os ressentimentos que essa vitória causa aos saudosos da reconfortante ideologia da “brasilidade” como doce mistura de todas as raças, obviamente que com os brancos na coloração dominante.
Um dos produtos desse ressentimento é o ataque ao identitarismo negro. Apesar do verniz “esclarecido” de alguns críticos, o seu anti-identitarismo se configura frequentemente como uma forma nova e insidiosa de racismo – que recauchuta argumentos antigos, incorporando novos, como o de que os movimentos dos negros implicam necessariamente uma confrontação racista da parte destes, com relação aos brancos.
Os anti-identitários reacionários costumam recorrer a um conjunto de estratégias que mal disfarçam a torção que promovem na história, quando não na lógica. Para “comprovar”, por exemplo, que os negros são tão racistas quanto os brancos, costumam mobilizar o fato (real) de que negros libertos poderiam possuir seus próprios escravos. Estabelecida a premissa, parte-se para as conclusões, mediante um curioso salto ideológico. Se os próprios negros possuíam escravizados, não seria possível afirmar que, no limite, a culpa pela escravidão é tanto destes quanto dos brancos? Afinal, todos usufruíram dela em alguma medida. Ou ainda: se os negros se comportaram de forma tão vil ao escravizar seus irmãos, em vez de lutar contra seus opressores, que moral teriam para cobrar responsabilidade dos brancos? Note-se como, num passe de mágica, os negros deixam de ser as vítimas para se tornarem colaboradores da escravidão e até culpados por ela.
Mas a torção ideológica tem ainda outra utilidade: pretende demonstrar que, no Brasil, as relações raciais são muito mais complexas do que a mera oposição entre preto oprimido e branco opressor. Todos teríamos algo de vítima e algoz. É uma retórica inteira que se ergue sobre a suposta simetria – absolutamente falsa – entre a condição de negros e brancos no período escravista. Pois, se é verdade que alguns negros puderam passar à condição de libertos, graças a processos diversos de emancipação, e até adquirir escravizados, foi somente porque estes escravizados não eram brancos. Donde, então, a equivalência? Porventura havia senhores negros de escravos brancos?
As contestações ao identitarismo negro recorrem não apenas a falácias desse tipo, mas também à criação de certa “ambientação” argumentativa sinistra, em que se insinua serem os negros predispostos a cometer violências terríveis. É um medo de raízes antigas. Uma delas remonta à Revolução Haitiana, iniciada em 1791, quando os escravizados se revoltaram contra seus dominadores, proclamando o fim da escravidão e a independência do primeiro país das Américas a ser governado por negros. No Brasil, essa revolução foi usada como um alerta pelos antiabolicionistas para que o país puxasse ainda mais forte o cabresto da escravidão.
O “estuprador negro” é um dos personagens principais desse filme de terror projetado no inconsciente dos brancos. O estupro é um crime abjeto que qualquer pessoa civilizada condena, a despeito de ser praticado por brancos ou negros. Relacionar episódios de estupros cometidos por negros à luta identitária, como se esta pudesse trazer a ameaça de violações em série, é uma fantasia cuja função é ampliar a violência racista contra os negros, como ressaltou Angela Davis em ensaio publicado no livro Mulheres, Raça e Classe: “O mito do estuprador negro tem sido invocado sistematicamente sempre que as recorrentes ondas de violência e terror contra a comunidade negra exigem justificativas convincentes.”
Ao estuprador, acrescentem-se as figuras dos pretos violentos, dos selvagens e mesmo dos militantes fanáticos – associados aos fundamentalistas religiosos –, e temos grande parte do elenco desse filme de terror. A estratégia consiste em pintar um cenário tipicamente gore, marcado por um clima de violência promovida por assassinos sádicos e extremistas, no qual ninguém gostaria de viver. O passo seguinte é associar essa narrativa a identitários tresloucados que, no limite, estariam sonhando com a liderança de um Hitler negro.
Mas por que o identitarismo branco precisa operar com essa fantasia de filme de terror? A resposta é simples: porque a própria realidade é em tudo distinta daquilo que ele imagina ou deseja. A cada instante, a realidade explicita a inferioridade social dos negros, como já demonstraram intelectuais e artistas, como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Dona Ivone Lara, Elza Soares e Mano Brown. Produzir fantasias é o que resta ao imaginário racista brasileiro. De preferência, aquelas em que os negros são os agentes de um pesadelo vivido pelos brancos.
A realidade dos próprios negros no Brasil, entretanto, é muito mais trágica que qualquer filme de horror. Nela, Emilly, de 4 anos, e Rebeca, de 7 anos, foram mortas a tiros enquanto brincavam na porta de casa. João Pedro, de 14 anos, foi morto dentro de casa no momento em que estava com seus primos. Ágatha Felix, de 8 anos, foi morta após um dia de passeio com a família. Marcos Vinícius, de 14 anos, foi morto a caminho da escola. Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos, que estava grávida, foi morta quando visitava sua avó. Poderíamos seguir indefinidamente nessa listagem aterrorizante.
O pesadelo real, cotidiano, é vivido pelos negros do país – não pelos brancos. Quem tenta convencer os brancos de que eles estão ameaçados por causa de sua cor precisa, para obter convencimento, elaborar essa fantasia sádica e também obscena, pois inverte, em proveito próprio, a experiência real dos negros no Brasil. A ideia de que negros fascistas estejam se preparando para destruir os brancos é mais um produto da imaginação racista, endossando o ciclo ininterrupto de mortes na comunidade negra.
“Em Crown Heights, no verão de 1991, os pretos promoveram um formidável quebra-quebra que se estendeu por quatro dias, durante o qual gritavam ‘Heil Hitler’ em frente a casas de judeus. Mas a elite midiática, do New York Times à ABC, contornou sistematicamente o racismo [dos negros], destacando que séculos de opressão explicavam tudo.”
Essa cena terrível, à la Quentin Tarantino, construída sob medida para fixar a imagem odiável de um grupo de nazistas negros movidos por puro ódio bestial contra os judeus, é um exemplo de fantasia racista. Ela aparece em uma narrativa do antropólogo Antonio Risério publicada numa edição de janeiro passado do jornal Folha de S.Paulo, com o título Racismo de Negros contra Brancos Ganha Força com Identitarismo.
Tudo parece crível, tanto mais se contado por um antropólogo. Mas a verdade é que ele, estrategicamente, omitiu elementos essenciais do episódio, como apontou o professor de comunicação Fernando Conceição, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em um texto no mesmo jornal, também publicado em janeiro, com o título Risério, Ideólogo de Senhores Brancos, Distorce a Verdade Sobre Racismo. O “quebra-quebra” feito pelos negros foi porque um carro dirigido por um judeu, avançando o sinal, atropelou duas crianças de imigrantes da Guiana. Uma delas, de 7 anos, morreu. A outra ficou gravemente ferida. A ambulância de uma comunidade judaica logo se apresentou ao local, mas levou apenas o criminoso para um hospital privado, sem socorrer as crianças.
Podemos, obviamente, seguir condenando os contornos antissemitas desse episódio, mas o cenário torna-se muito mais complexo quando são apresentados os detalhes do conflito, e não apenas uma sinopse descontextualizada, feita sob medida para reforçar a imagem de um bando de identitários fanáticos a ameaçar uma comunidade branca inocente.
Mas, outra vez: o cenário fantasioso do “supremacismo negro” – em contraponto ao supremacismo branco, mas recorrendo aos seus métodos – não encontra base na realidade. Como não encontra, simula veracidade, de modo a reforçar o clima de terror que os negros representariam. Daí o tom farsesco, porém funcional, que frequentemente adquirem essas narrativas, recorrendo a um Frankenstein argumentativo, que recauchuta velhos preconceitos e lhes acrescenta novos contornos. É um cenário que só existe na fantasia dos autores que lhe dão forma, fruto de sua imaginação reacionária e violenta. Seu fundamento não é a realidade. É o medo de que uma mudança social profunda implique o fim da hegemonia branca.
Poderia um negro replicar o racismo? É claro que sim: quando odeia a si próprio, quando o mundo consegue convencê-lo de que não existe nele mesmo nada de que possa se orgulhar. Afinal, ele não possui as características que a sociedade apresenta como legítimas: a cor, a cultura e o passado dos brancos. Esse racismo eventualmente replicado por um negro é, porém, uma reverberação do próprio racismo histórico. Não é um novo racismo, que os negros teriam criado para se contrapor ao que foi inventado pelos europeus. Como vimos, o movimento negro é por essência antirracista, pois sua luta é, exatamente, contra o racismo. Não existe, portanto, racismo reverso.
No Brasil as coisas são mais complexas, de fato, mas não como quer a crítica reacionária. Aqui é preciso considerar o que o sociólogo Florestan Fernandes caracterizou como o preconceito de ter preconceito. Com isso, ele quis dizer que o racismo existe no Brasil e é praticado cotidianamente – ao contrário do que se tentava propagar em sua época –, mas em nossa terra não deve nunca ser nomeado como tal.
Seguindo essa “convenção” brasileira, os ataques recentes à luta identitária dos negros tratam o fator “raça” como algo circunstancial. Enquadram toda violência contra os negros como consequência não do racismo, mas dos conflitos previsíveis no sistema democrático, que envolvem indiscriminadamente todas as raças.
Essa visão perversa, que oblitera séculos de domínio sobre os negros, levada ao limite, pretende indicar que os únicos casos de racismo no Brasil, de fato, seriam aqueles em que o agressor deixa claro, com todas as letras, que sua motivação principal foi o ódio racial. Ou seja, no Brasil, caso a pessoa não seja flagrada em um ato evidentemente racista, ou não confesse tê-lo praticado, ela pode agir como preferir, inclusive à maneira de um membro da Ku Klux Klan, sem que sua atitude seja interpretada como racista.
Como racismo é crime – ainda que apenas no papel –, cria-se esta situação, no mínimo, absurda: o delito só se confirma mediante a confissão do criminoso. Ele pode até mesmo matar quantos negros quiser, inclusive crianças e adolescentes, desde que não exponha a real motivação racista, mas declare ter agido no cumprimento do seu dever. É como se, no Brasil, vivêssemos uma espécie de racismo sem racistas – um crime contínuo e permanente, mas sem criminosos.
Ao afirmar que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, Florestan Fernandes iluminou o problema com grande sagacidade, mas faltou dizer algo mais. Na verdade, o racista brasileiro ama o seu racismo, pois pode praticá-lo livremente no país, nas formas insidiosas às quais já está acostumado. Ele não tem problema algum em ser visto como alguém que menospreza negros e indígenas, pois a margem de tolerância ao seu preconceito é grande na sociedade, na mídia e entre seus pares. Às vezes, esse preconceito é até recompensado. Como, aqui, a morte sistemática de negros sempre se dará em nome de outra coisa, o racismo não precisar ser nomeado como tal. É um “crime perfeito”, como definiu o antropólogo Kabengele Munanga, congolês naturalizado brasileiro. Vivemos em um paraíso racista – sem crime e sem culpados, mas com um amontoado gigantesco de corpos.