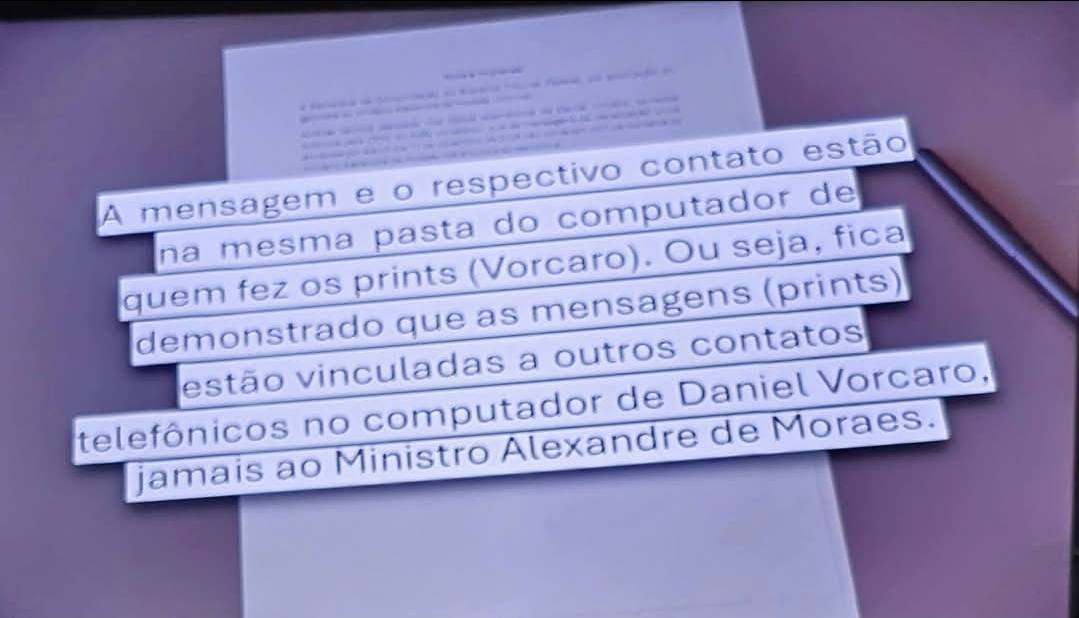“Buscamos a pátria pelo que ela não é. Identificamos a pátria no que ela não é. A minha pátria não é a negação de outras pátrias. O meu lugar no mundo não é a destruição do mundo.”
Por Urariano Mota, compartilhado de Vermelho
 Imagem: reprodução/Pinterest
Imagem: reprodução/Pinterest
A pergunta voltou nesta manhã, quando acordei, ao pôr os pés nesta véspera do sete de setembro. A primeira coisa que me ocorreu, quando despertei do sono da madrugada, foi anotar frases para não esquecer o sonho. Num rabisco rápido, anotei:
“Buscamos a pátria pelo que ela não é. Identificamos a pátria no que ela não é. A minha pátria não é a negação de outras pátrias. O meu lugar no mundo não é a destruição do mundo. Chuva e tanajura da infância”.
E desses rabiscos faço a coluna.
Buscamos a pátria no que ela não é. Nós a identificamos no que ela não pode ser. Assim como no romance “A mais longa duração da juventude”, nas últimas horas de Vargas:
“Ele sai pela Sete de Setembro sem olhar para os lados. Se o seguem, se está perdido, não adianta mais. Vai num andar que deseja firme até o ponto do ônibus. Quem sabe? Quem sabe se não tem um resto de vida um pouquinho mais longo? Ele se encoraja com os termos finais de quem não possui mais esperança. Vai morrer? Vai morrer. ‘Faz parte do revolucionário’. Mas que porra de revolução é essa que o deixa sozinho na última hora? ‘Vagas, a revolução não tem culpa’, outra voz lhe vem. ‘Que não tenha, mas eu é que estou me fodendo, sem ninguém’. Viver não é passear por um jardim, recorda de um poema de Bóris Pasternak. ‘Que consolo!’, e põe o rosto entre as mãos frias. Um ônibus para, pessoas sobem. Ele entra também, sem saber para onde vai. Que importa? será executado amanhã. E pela janela vê a Conde da Boa Vista, a ponte Duarte Coelho, a avenida Guararapes, o rio Capibaribe, como pela primeira vez. Que amargo encanto. ‘Como é bonita a minha cidade. Só agora percebo. Me perdoa, Recife, por ter sido tão brutal. Tu és para mim a mundo, o lugar da fraternidade que ainda não temos. Mas um dia vamos ter, e tu serás a companheira e camarada da revolução’. E põe as mãos juntas como se rezasse, logo ele, um ateu sectário, põe as mãos juntas por um reflexo antigo, da infância: ‘Eu te amo a ti, somente a ti, acima de todas as coisas. Eu te amo como o meu último afeto. Estás acima do que mais amo, minha pátria”
Como em “Soledad no Recife”, onde a pátria não é a negação de outras pátrias. Nem o nosso lugar no mundo é destruição do mundo:
“Grande e terno poeta Mario Benedetti, a Soledad que conheceste em Buenos Aires, em Montevidéu, a bela e graciosa e feliz mulher, porque vivia no que acreditava, porque lutava para um mundo fraterno, porque se entregava ao mundo como quem se doa a uma fraternidade, estava na verdade, quando pela covardia foi apanhada, com os olhos sem que se fechassem. Os dela estavam uma câmera que refletia em instantâneo o perverso das luzes. ‘Soledad estava com os olhos muito abertos, com expressão muito grande de terror’, assim registrou esse instantâneo a advogada Mércia Albuquerque. Do país onde te encontravas, Benedetti, apenas com a dor da perda e a memória da vida de Soledad, é natural que somente pudesses escrever, no calor da urgência, quando te referiste àquelas duas câmeras no rosto de Sol, com o amor que despertaram em ti:
‘tus ojos donde la mejor violencia
se permitía razonables treguas
para volverse increíble bondad’.
Silêncio. Entram a romanza para violin y orquesta nº. 2 e o terror. O mais piedoso é o silêncio. Uma pausa, um parágrafo. Passemos ao largo, se quisermos, o parágrafo seguinte pode ser ultrapassado de um salto, assim como editamos com os olhos uma crua imagem no cinema.
‘O que mais me impressionou foi o sangue coagulado em grande quantidade. Eu tenho a impressão de que ela foi morta e ficou deitada, e a trouxeram depois, e o sangue, quando coagulou, ficou preso nas pernas, porque era uma quantidade grande. O feto estava lá nos pés dela. Não posso saber como foi parar ali, ou se foi ali mesmo no necrotério que ele caiu, que ele nasceu, naquele horror’”.
E como em “O filho renegado de Deus”, quando vêm a chuva e tanajuras da infância:
“Algo como uma pátria impossível, utópica, que um dia tenha sido realizada. O beco, dona Maria no beco, tinha cheiro de tanajura frita na panela com banha de porco. Que felicidade no cheiro, no antegosto, na prelibação daquelas pretinhas apetitosas com temperos de só maciez e bondade. Comê-las, antes de ser o fim da festa, era uma festa contínua que não cansava nem atingia o abarrotamento da exaustão. As tanajuras fritas se comiam, para o menino, como o justo coroamento de um trabalho de curumim, como se ele fosse um menino índio e livre, que caçava ao canto de ‘cai, cai, tanajura, tua bunda é uma doçura’.
O curioso e bom é que antes da tanajura tinha a chuva, o toró, a pequena tempestade que descia do céu amplo, cinza, de um cinzento que para os meninos era uma festa, pois transformava o beco num grande chuveiro, num banho coletivo. Ah, suas mães permitiam que os moleques de calção ou nus pulassem na chuva, se emporcalhassem aos gritos ‘a praia, a praia’. Os meninos escorregavam na lama, que faziam de areia junto ao mar. Se soubessem então que existia algo de nome piscina, chamariam os mergulhos na lama de piscina. Ficavam todos molhados até os ossos, mas sem frio, porque brincar debaixo da chuva era um exercício, uma ginástica entre os pulos e gritos. Debaixo d’água disputavam um bueiro, um grosso cano que descia de um prédio em construção. Durante a chuva o bueiro jorrava, e por isso metiam a cabeça sob esse chuveiro farto, agachados, para melhor desfrute da abundante alegria”
Esta é a pátria sonhada, tão diferente da oficial do 7 de setembro.