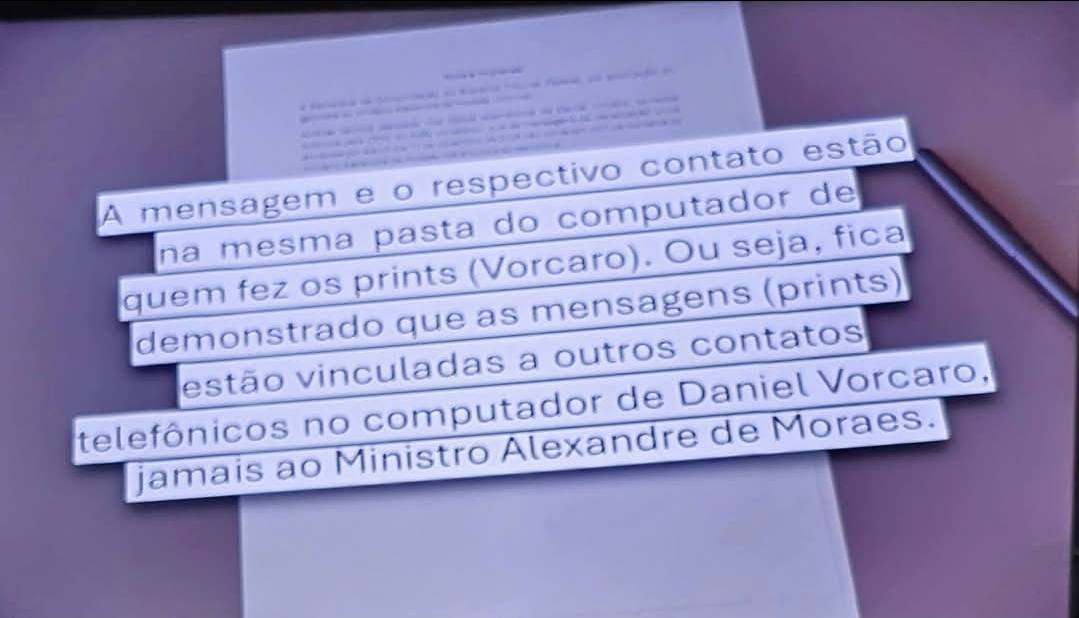Por Claudio Lovato, Museu da Pelada –
Na terça-feira de manhã, pouco tempo depois de saber da queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense e um timaço da imprensa esportiva brasileira, saí às ruas do centro de Florianópolis, onde moro.
Saí porque não consegui ficar em casa trabalhando. Saí porque precisava saber se aqueles relatos escabrosos que eu acabara de ler na internet eram totalmente verdadeiros. Saí porque senti uma ânsia irrefreável de me misturar à multidão e estar bem no meio dela se e quando eu descobrisse (e me convencesse intimamente) que aquilo realmente tinha acontecido lá nas montanhas dos arredores de Medelín.
Estou na minha segunda passagem por Florianópolis e essa foi a primeira vez – e, espero, a última – em que andei, andei e andei e não vi ninguém sorrir. Ninguém. Na verdade, quase não ouvi ninguém falar, embora as ruas já estivessem abarrotadas de gente.
Andei pelo centro de Floripa, percorri a Felipe Schmidt inteira, da Beira-Mar à Praça 15, depois a Conselheiro Mafra, e então a Deodoro (onde cruzei por um casal de idosos, ele com a camisa da Chape, de braço dado com a esposa, ambos olhando para o chão) e a Tenente Silveira e a Esteves Júnior e a Bocaiúva e, por fim, a Almirante Lamego, onde resido, e tudo o que vi e ouvi nesse trajeto foi tristeza e silêncio, algo que não combina em nada com esta cidade falante e ensolarada, com este estado alegre e otimista que ama o futebol e faz dele uma de suas principais formas de celebração da vida.

Há coisa de três ou quatro semanas recebi do Sérgio Pugliese um desafio: entrevistar alguém da Chape para o Museu da Pelada. Moro em Floripa, como já expliquei, Chapecó fica no Oeste Catarinense, e essa distância física, aliada a compromissos profissionais e familiares, terminaram por me impedir de fazer o processo andar na velocidade em que eu gostaria. Chegaríamos ao intento, com certeza. Com certeza! Pois é.
Na quarta-feira, dia em que escrevi estas linhas, saí de novo às ruas de Floripa. Praticamente repeti o trajeto feito no dia anterior. Os sorrisos já começavam a voltar. Tímidos, sim. A célebreexpansividade dos “manezinhos” dava os primeiros sinais de regresso. Muito de leve. Não será de um dia para o outro. Não poderia ser.
No começo do ano fui ao estádio Orlando Scarpelli para assistir Figueirense x Chapecoense pelo Campenato Catarinense. Empate de 1 a 1. Finalizada a partida, acompanhando parentes e amigos que torcem pelo Figueira, fui saindo do estádio no meio da torcida do clube da capital, e, por várias vezes, ouvi comentários que variavam nas palavras, mas mantinham o mesmo sentido: “Essa Chapecoense não é fácil!” Havia respeito, simpatia e admiração. Que agora – para os torcedores do Figueirense e de todos os outros clubes do Brasil – se transformarão numa saudade fraterna. Lindamente fraterna.
Eu gostaria de escrever um final mais positivo e alentador para este texto, mas o que dizer? Vamos em frente? Sim, vamos em frente! Vida que segue? Claro, vida que segue, sempre! Bola para frente? Opa, lógico, bola pra frente! Mas com o tempo.
Com o tempo.
Só com ele.
Foto da capa: Nelson Almeida / AFP News Agency