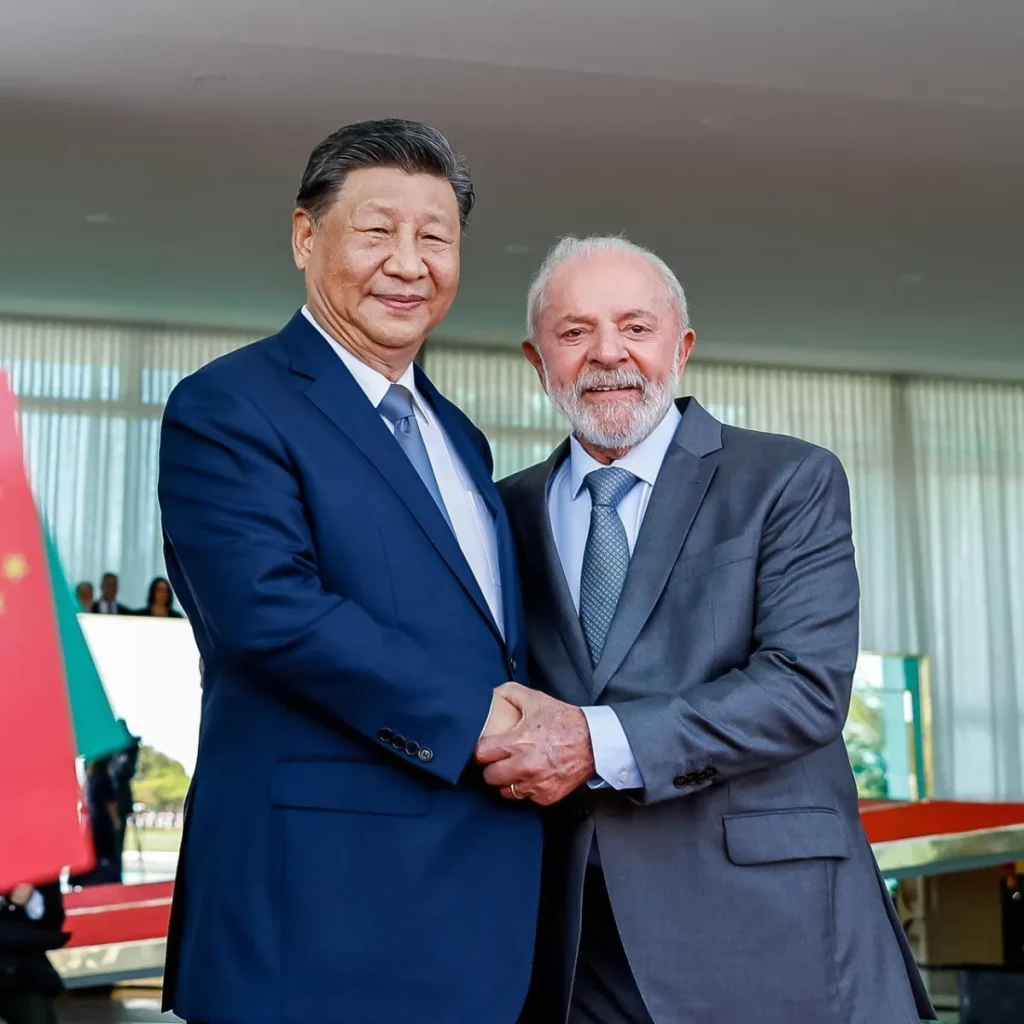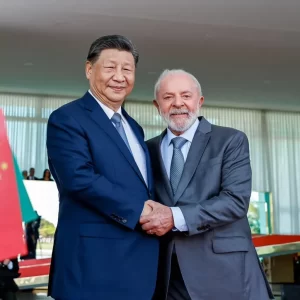Por Luiz Moreira, especial para o Brasil 247 –

“É cada vez mais freqüente que ministros do STF emitam opiniões sobre os assuntos mais diversos da vida política nacional. Não raro essas opiniões expressam críticas a poderes, censuras a instituições ou contêm até mesmo prognósticos políticos. Essas condutas não são ortodoxas, contrariam não apenas a tradição judiciária segundo a qual ao juiz compete uma atuação reservada aos feitos judiciais sob seus cuidados. É o que comumente se chama de liturgia do cargo”, diz o jurista Luiz Moreira, em artigo exclusivo para o 247; “na medida em que magistrados angariam simpatia popular, imiscuindo-se em assuntos tradicionalmente reservados aos partidos, à sociedade organizada, aos poderes políticos e à construção das narrativas políticas, tornam-se atores políticos como os demais, não podendo mais desfrutar de papel de árbitros das disputas”; do STF, Joaquim Barbosa saiu para abraçar eventual carreira política; no tribunal, Gilmar Mendes tem realçado posições antipetistas
“O século do Poder Judiciário”
O Ministro Ricardo Lewandowski tem defendido a tese segundo a qual há uma hegemonia judiciária decorrente de um período que contempla tanto democracia quanto universalização de direitos. Segundo ele “estamos no século do Poder Judiciário”.
Independentemente da validade dessa tese, cumpre-nos discutir com Lewandowski tanto a tarefa que cabe ao Judiciário em um cenário institucional em que há crescente demanda por participação popular nas instâncias decisórias, quanto possível subordinação do Judiciário aos interesses dos grupos que detêm hegemonia política e a maneira pela qual essas questões interferem na produção de um consenso expresso pela opinião pública, induzido ou formulado pela mídia.
Em primeiro lugar, surge a pergunta pela tarefa do Judiciário em uma democracia constitucional, na qual se exige das instituições uma rigorosa justificação de suas funções. Assim, não se atribui ao Poder Judiciário “fazer” justiça, pois o voluntarismo ou o decisionismo judicial cede lugar a uma atuação institucional em que o “fazer justiça” significa o cumprimento correto dos procedimentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Portanto, fazer justiça é o desincumbir-se de uma correção procedimental em que há uma sucessão lógica de acontecimentos, não sujeita a humores, a arbitrariedades ou a caprichos. Desse modo, aliando-se um sistema coerente de direitos a uma lógica piramidal judiciária, com primazia das decisões colegiadas sobre as individuais, em que juízes mais experientes, reunidos em um colegiado, controlam as decisões dos demais juízes, há a institucionalização do judiciário como garantidor dos direitos fundamentais dos cidadãos.
No entanto, na medida em esse sistema obtém sua legitimidade da política, passa ele a sofrer influência tanto de grupos capazes de representação quanto de consensos que traduzem modos de vida desses mesmos agrupamentos. Assim, se é verdade que o direito só é legítimo na medida em que é produzido pela democracia, também o é a necessidade de uma contenção, a fim de distinguir sistema de justiça de instituições políticas. Nesse contexto de divisão horizontal de tarefas é que a Constituição brasileira estabeleceu uma diferenciação entre poderes políticos, aos quais compete estabelecer as regras de conduta, pois regidos pelo princípio majoritário, e o poder judiciário, cuja tarefa é decidir os conflitos utilizando-se das regras anteriormente criadas, contrariando, se necessário, opinião dos grupos hegemônicos, econômicos, corporativos ou midiáticos.
Em segundo lugar, como em qualquer sistema no de justiça há uma falha estrutural que propicia o surgimento de um estado de exceção na democracia constitucional. Essa exceção autoritária na democracia constitucional permite a institucionalização da violência, transformando cidadãos em inimigos. Na mídia, essa violência se cristaliza quando o cidadão é transformado em alvo de campanha jornalística cujo propósito é caracterizá-lo como inimigo do agrupamento hegemônico. Essa exposição midiática se caracteriza como justiçamento. A outra face desse justiçamento ocorre, no sistema de justiça, com a transformação do processo em pena, isto é, a pena a que o cidadão é submetido é justamente responder a um processo judicial, não importando se ele é culpado ou inocente. Afligido pelas peculiaridades burocráticas, pela linguagem própria e pela demora inerente ao processo judicial, o castigo do cidadão é responder ao processo judicial.
Tendo essa advertência como pano de fundo, cumpre-nos rapidamente analisar o papel conferido pela Constituição ao STF. Fundamentalmente possui o STF três tarefas: (I) funcionar com última instância recursal do judiciário brasileiro; (II) exercer jurisdição nas ações que lá se originam; e (III) exercer o papel de Tribunal Constitucional.
Ora, resta saber se essa atividade jurisdicional conferida ao STF pela Constituição se coaduna com o protagonismo pretendido e como tal protagonismo será visto pelas demais instituições republicanas e pela sociedade brasileira.
É certo que o prestígio do Judiciário decorre da posição eqüidistante adotada ante os conflitos existentes na sociedade. Conflitos não apenas jurídicos. Qual a razão de os poderes políticos deferirem a um rival normativo o poder de arbitrar suas demandas? A sociedade conferirá a um membro das disputas partidárias a tarefa de arbitrá-las?
Convém recordar que a aferição dos aspectos constitucionais e legais da legislação é realizada tanto no Legislativo (pelas Comissões de Constituição e Justiça) quanto pelo Executivo. Assim, a expertise jurídica não é privativa do Judiciário. A constituição de quadro de pessoal com alta sofisticação jurídica é antes uma questão de remuneração do que vocacional. Assim, creio que a imparcialidade que se espera do Judiciário é a razão de seu prestígio e não o desbordamento de suas históricas atribuições.
No entanto, é cada vez mais freqüente que ministros do STF emitam opiniões sobre os assuntos mais diversos da vida política nacional. Não raro essas opiniões expressam críticas a poderes, censuras a instituições ou contêm até mesmo prognósticos políticos. Essas condutas não são ortodoxas, contrariam não apenas a tradição judiciária segundo a qual ao juiz compete uma atuação reservada aos feitos judiciais sob seus cuidados. É o que comumente se chama de liturgia do cargo. A fim de se manter eqüidistante das disputas, o magistrado não disputa a hegemonia política, não cria narrativas para que, assim, possa desfrutar do prestígio que a função de magistrado angariou.
Na medida em que magistrados angariam simpatia popular, imiscuindo-se em assuntos tradicionalmente reservados aos partidos, à sociedade organizada, aos poderes políticos e à construção das narrativas políticas, tornam-se atores políticos como os demais, não podendo mais desfrutar de papel de árbitros das disputas. Em um mundo em que não há mais oráculos a consultar nem tradições donde se obter normas, talvez seja conveniente reservar a alguma instituição a tarefa do distanciamento institucional dos negócios públicos. Espera-se que o Judiciário preserve para si tal incumbência. Caso contrário, outra surgirá.
Luiz Moreira, Doutor em Direito pela UFMG, ex-Conselheiro Nacional do Ministério Público, é professor de Direito Constitucional.