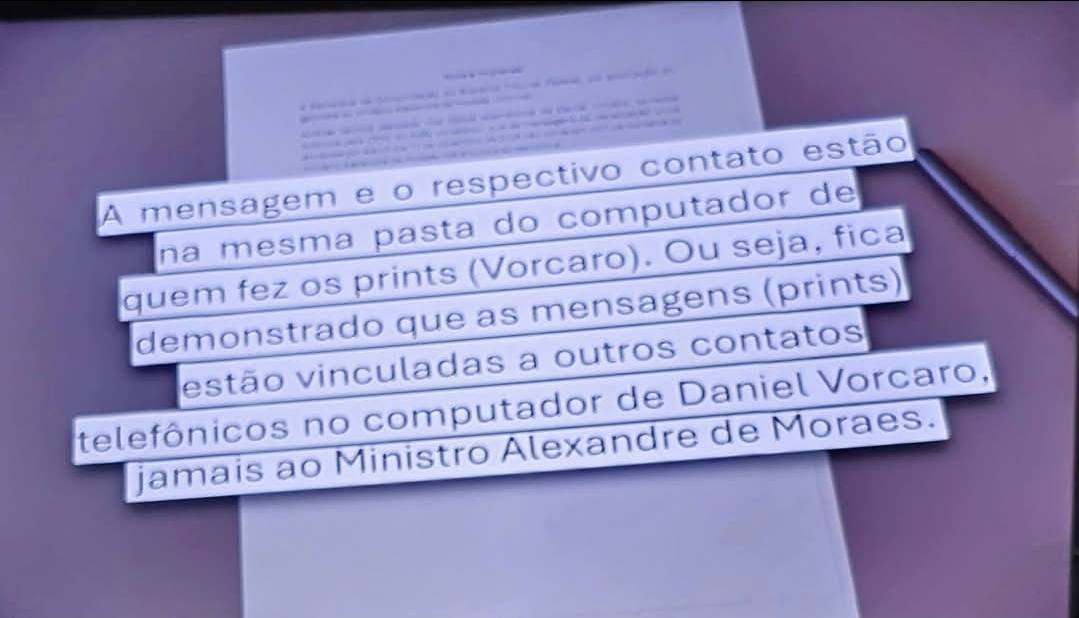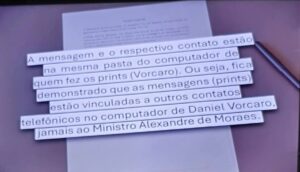Por Claudio Lovato Filho, jornalista e escritor –
Ele estava em todos os jogos que disputávamos em nosso estádio. Só no nosso estádio, porque, para ele, era muito complicado viajar. Tinha 14 anos, me disseram. Chamava-se Jean Carlos, havia nascido com paralisia cerebral, também me disseram.
Ele ficava numa área reservada para o pessoal que usava cadeiras de roda, os cadeirantes, como se diz hoje. Seu pai o levava aos jogos. Seu pai era um sujeito calvo que estava sempre sorrindo.
O menino ficava em estado de completa euforia quando estava no estádio. Quando nosso time ganhava (o que não era tão raro assim), ele ficava alegre de um jeito que chegava a preocupar as pessoas em volta.
O menino vivia para os jogos, me disseram, e não havia como não acreditar. Um dia me disseram que a admiração maior era por mim, que o guri era meu fã de carterinha. Vejam só.
Logo eu, um volante que só marcou 17 gols ao longo de toda a carreira.
Mas era comigo. Um dia, assim que o juiz apitou o fim de um jogo, uma vitória apertada nossa por um a zero, corri até a beira do campo, cruzei a pista atlética, tirei a camisa e a entreguei a ele.
Eu não consigo descrever com as minhas palavras como foi a reação dele. Achei que ele fosse explodir ou decolar para a lua.
Entreguei a camisa a ele, o pessoal em volta aplaudiu, o velho dele olhou para mim, juntou as duas mãos e baixou a cabeça, para me agradecer, e eu repeti o gesto, meio sem jeito.
Então fui embora para o vestiário, me sentindo muito bem, de uma maneira que eu só iria entender mesmo mais tarde.
Isso foi há muito tempo, tempo demais, mas é tudo muito nítido na minha cabeça.
Acho que é isso o que mais me faz falta hoje, a sensação de ser importante para os outros.
Ficaram algumas histórias para contar.
Já é alguma coisa, é sinal de que se viveu de verdade, que houve sentido no que se fez, me disseram, e eu quero muito acreditar nisso.