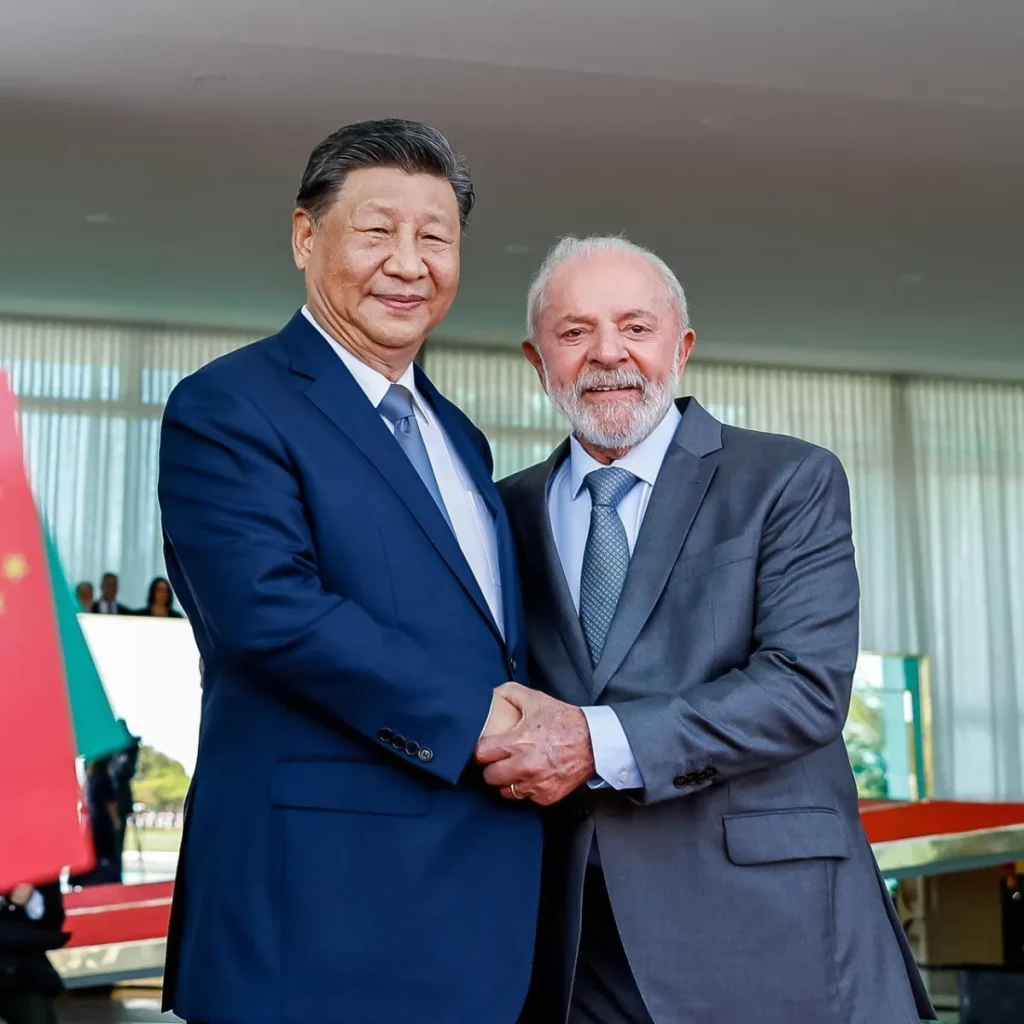Por Liana Melo, publicado em Projeto Colabora –
Preconceito e burocracia ainda são entraves à formalização do emprego. Perfil dos que chegam ao Brasil muda à medida que outros países levantam barreiras

É como viver um pesadelo no paraíso. Era assim a vida da jovem congolesa Lucia Mbuya Zelesa, 19 anos. A primogênita de sete irmãos, sendo seis meninas, passou a vida em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo (RDC) – país rico em recursos minerais, mas mergulhado em uma crise humanitária e assolado por conflitos armados que já mataram 5 milhões de pessoas nas últimas duas décadas. Em outubro de 2015, ela, seus irmãos e seus pais desembarcaram em São Paulo. Desde então, Lucia mora com uma tia na capital e a família vive em Mauá, na região metropolitana do estado, cidade escolhida por muitos conterrâneos para recomeçar a vida, longe de uma violenta guerra civil.
Com o pai graduado em Economia e a mãe em Pedagogia, ambos funcionários do governo, a família tinha uma situação econômica acima da média local – o Congo está listado entre os países mais pobres do continente, segundo seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Apesar do emprego e de um bom salário, os pais de Lucia deixaram tudo para trás, solicitaram refúgio e passaram a engrossar as estatísticas de 500 mil congoleses espalhados pelo mundo. A fuga foi de avião para a Europa e depois para o Brasil, e não nos “barcos da morte”, como ficou conhecido o transporte ilegal que faz a travessia pelo Mediterrâneo levando imigrantes para a Europa.
Aqui, os Mbuya Zelesa viraram pobres e Lucia, arrimo de família. A situação socioeconômica mudou para pior, os amigos estão distantes, mas passaram a viver sem medo e longe de um país onde uma mulher é violentada a cada minuto e meio, o que levou as Nações Unidas (ONU) a considerarem o Congo como um dos piores países do mundo para ser mulher em pleno século XXI. O estupro virou arma de guerra. O país é alvo de uma cobiça internacional por seus recursos minerais abundantes. Todos querem um pedaço do país, seja na forma de ouro, cobalto, cobre, estanho e tungstênio, mas, em troca, geram pobreza, desemprego e violência.
Foi deste cenário de horror que a família fugiu. Lucia, logo que chegou, foi à luta. Tomou conhecimento do projeto Empoderando Refugiadas, do Pacto Global, realizado em parceria com o Instituto Lojas Renner, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a ONU Mulheres e o PARR (Programa de Apoio a Recolocação de Refugiados), e se inscreveu. Chamou a atenção do gerente de Sustentabilidade das Lojas Renner e diretor-executivo do Instituto Renner, Vinícios Malfatti: “Ela tem potencial de crescimento”. A empresa está abrindo vaga para mulheres, independente de sua origem, gênero, credo ou raça.
“No começo senti medo, mas fui surpreendida pela boa receptividade dos colegas de trabalho”, conta Lucia, que virou caixa da Camicado, rede de lojas de produtos para casa do grupo Lojas Renner. Ela hoje tem emprego e carteira de trabalho assinada. Sem entrar em detalhes sobre os traumas do passado recente, ainda que estejam todos gravados em sua memória, seja porque viu, ouviu ou leu, a jovem prefere focar no trabalho e nos estudos. Aluna do 4º semestre de Recursos Humanos na Faculdade Anhanguera, Lucia sonha com uma pós-graduação, só não decidiu ainda se será em Relações Internacionais ou na área de Serviço Social.
Difícil saber quantos são os refugiados no Brasil que desfrutam das mesmas condições trabalhistas de Lúcia. “Ainda não trabalhamos com números específicos de refugiados no mercado formal de trabalho”, admitiu, em nota, o Ministério do Trabalho. Depois da Síria, o Congo é o segundo país em número de refugiados reconhecidos no Brasil pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão ligado ao Ministério da Justiça. Em 2016, o país recebeu 9.552 refugiados de 82 nacionalidades, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Em seu último relatório, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur)reconheceu que uma em cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio, deslocada interna ou refugiada.
Lucia já morava em São Paulo quando a Avenida Paulista foi tomada por manifestantes anti-imigração, em maio de 2017. Foi um ato em repúdio à nova Lei de Migração, que, apesar dos muitos vetos, vem sendo considerada um avanço na forma como o país lida com a questão migratória. “Antes, o migrante era visto como uma ameaça à segurança nacional; hoje, com a nova lei, a pessoa migrante passou a ser um sujeito de direitos e deveres”, analisa Pétalla Timo, representante da Conectas Direitos Humanos, em Brasília. Apesar do movimento no centro de São Paulo, a onda de extremismo que tomou conta de outros países ainda não chegou com força total ao país – os refugiados e os migrantes representem apenas 1% da população brasileira.

Ao contrário de Lucia, que veio do segundo maior país africano, Cedrick Dinoa, 30 anos, deu as costas para o menor país do continente: o Togo. Ambos falam francês, idioma oficial dos seus países, inglês e português, com alguma fluência. O togolês ainda domina o alemão. A carteira de trabalho está assinada, mas a ocupação no Hospital Nove de Julho, no centro de São Paulo, é aquém da sua formação, como ocorre no país com inúmeros refugiados advogados, arquitetos, engenheiros. Cedrick, formado em Sociologia da Educação, trabalha na farmácia central do hospital, responsável por distribuir os remédios nas enfermarias. Tendo chegado aqui um ano antes dos Mbuya Zelesa, ainda chora quando fala do seu país.
Cedrick deixou família e amigos no Togo, país comandado pelos Gnassingbe há mais de cinco décadas. Líder estudantil na época em que fez faculdade – ele se formou em 2013 -, o togolês temia o destino reservado a muitos de seus colegas contrários ao governo: a tortura. “Eles queriam me matar”, conta choroso, enquanto mostra, pelo WhatsApp, fotos e filmes com cenas de violência no seu país. Foi através do ADUS – Instituto de Reintegração do Refugiado, que Cedrick conseguiu um emprego.
“Os refugiados que chegam aqui são mais qualificados”, comenta Marcelo Haydu, diretor do ADUS, explicando que um dos motivos é o fato de o país estar longe das principais zonas de conflito no mundo. A boa qualificação, no entanto, não é garantia de um bom emprego. Há sete anos trabalhando com refugiados, Haydu conta que, até hoje, apenas um profissional conseguiu validar seu diploma e exercer sua profissão no Brasil: “Além do preconceito, eles precisam driblar a burocracia”. Só que esse perfil vem mudando, à medida que os Estados Unidos e países da Europa levantam barreiras, ou muros, contra os refugiados mundo afora.