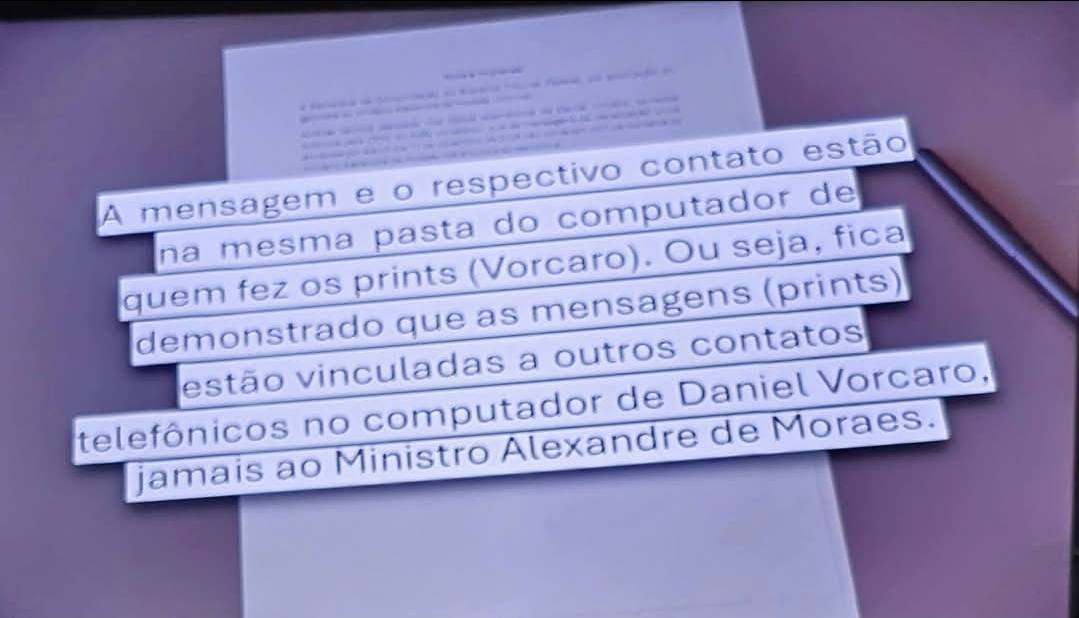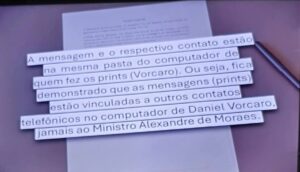Por Anna Beatriz Anjos – Compartilhado de Agência Pública –
Epidemiologista evolutivo norte-americano explica as relações entre desmatamento, agronegócio e o aparecimento de doenças e critica governos que “adotaram a negligência como política” na pandemia
Não é de hoje que o epidemiologista evolutivo Rob Wallace alerta para a relação entre o agronegócio e o surgimento de patógenos mortais aos seres humanos. No livro “Big Farms Make Big Flu”, de 2016 – lançado no ano passado em português como “Pandemia e Agronegócio” –, ao analisar surtos do vírus influenza em fazendas de porcos e aves, o norte-americano comparou o vírus a furacões e escreveu, em tom quase premonitório, que “um Katrina de influenza poderia estar engrossando seus braços na fila das epidemiologias”.
Três anos depois, a Covid-19 transformou em realidade as previsões de Wallace. Embora não tenha sido o influenza a varrer o mundo, ele explica que o aparecimento do coronavírus causador da doença, cuja origem possivelmente são morcegos, está intimamente relacionado ao atual modelo de produção de alimentos. “Na China e em outros lugares, a vida selvagem está sendo incluída no modelo industrial do agronegócio”, disse à Agência Pública.
Por isso, ele vislumbra novas epidemias num futuro não tão distante. “É improvável que demore mais cem anos para que tenhamos uma nova pandemia realmente grave, como aconteceu a partir de 1918 [com a gripe espanhola]. É muito provável que tenhamos a Covid-22, a Covid-23”, afirma. No fim do ano passado, em parceria com outros pesquisadores, Wallace lançou um novo livro, “Dead Epidemiologists: On the Origins of Covid-19”, abordando esse e outros aspectos da pandemia.
Ex-consultor da FAO-ONU e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o epidemiologista também critica os governos “neoliberais de direita” que adotaram “uma abordagem malthusiana” e apostaram na “imunidade de rebanho”, mas destaca que, ainda assim, o caso de Jair Bolsonaro é “único”: “A filosofia política genocida já ocorria muito antes do surgimento da Covid-19, portanto, de certa forma, não nos surpreendemos com ela. Mesmo assim é horrível, porque do que vale um governo que não consegue proteger sua população?”, questiona.

O Brasil é visto neste momento como o epicentro da pandemia, com o número mais alto de mortes diárias no mundo. Além disso, novas cepas têm sido detectadas por aqui – primeiro a P1, em Manaus, e agora outra variante, que combina 18 mutações, identificada por pesquisadores em Belo Horizonte. Você acredita que o Brasil é uma ameaça para todo o planeta no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia?
O Brasil é apenas mais um dos países onde houve negligência, ela está em todos os lugares, em alguns mais do que em outros. Nos países onde a negligência foi adotada como política oficial, vimos surgir novas variantes: nos Estados Unidos, temos uma que apareceu na Califórnia; há o caso da Inglaterra, com a B117; a P1 no Brasil; além da cepa da África do Sul.
Em sua maioria, esses são regimes neoliberais de direita. No início do surto, o pensamento nesses lugares era: “O que vamos fazer? Imunidade do rebanho. Vamos deixar o vírus se espalhar e aí todo mundo vai ficar protegido por ter sido exposto.” Essa é uma abordagem malthusiana, porque permite que milhões de mortos sejam deixados pelo caminho, e também um completo fiasco, já que a resposta imune das pessoas à exposição ao vírus é diferente da resposta gerada pela vacinação – a vacina provoca uma resposta muito mais forte.
Por outro lado, há países politicamente bastante diferentes entre si – China, Islândia, Vietnã, Taiwan, Nova Zelândia, Austrália – que usaram a governança para seu fim básico: intervir para que uma grande pandemia não matasse seu próprio povo. É importante analisar a complexidade do contexto geral para perceber que, ainda assim, o Brasil é único, por ter como presidente um incompetente e fascista que vê o genocídio como parte de seu programa de governo.
A filosofia política genocida já ocorria muito antes do surgimento da Covid-19, portanto, de certa forma, não nos surpreendemos com ela. Mesmo assim é horrível, por que do que vale um governo que não consegue proteger sua população?
Nós tiramos o Trump da presidência aqui, mas mais de 70 milhões de eleitores votaram em um homem que matou meio milhão de norte-americanos. Trump e sua filosofia derivam da própria história colonial e genocida dos EUA, que perdura até hoje e se manifesta no assassinato de indígenas e na escravização de pessoas negras. Vemos a mesma política no Brasil, de muitas maneiras. Portanto, de certa forma, os EUA e o Brasil são espelhos um do outro.
Você vê com preocupação o potencial de surgimento de novas variantes no Brasil, por conta da alta circulação do vírus?
Nosso grupo de pesquisa batizou a variante B117, que surgiu no Reino Unido, de “cepa BoJo”, em homenagem ao primeiro-ministro Boris Johnson. Isso tem um aspecto de sátira política, mas queremos chamar atenção para o fato de que o aparecimento de doenças não tem a ver só com o vírus. Sim, é importante fazer análises moleculares e acompanhar as mutações, mas há uma razão bastante explícita pela qual as novas variantes surgiram em países negligentes: eles permitiram que o vírus circulasse.
Em vez de imunidade de rebanho, tivemos a “multiplicidade de rebanho”, que é quando você permite que o vírus circule em meio às pessoas e faça experimentos com o sistema imunológico humano de forma a driblar a imunidade.
Certamente isso aconteceu no Brasil, onde a P1 emergiu mesmo com alguns esforços de promover o lockdown. Esses patógenos normalmente evoluem em um local e se espalham para o resto do mundo, superando as outras variantes. Portanto, a resposta é sim, isso é perigoso.
Em sua análise, no Brasil há locais com condições favoráveis ao aparecimento de um novo patógeno perigoso para os humanos, como aconteceu em Wuhan, na China?
Com certeza. Muitos dos patógenos transmitidos por vetores se urbanizaram. Sei que o Zika tem a reputação de ser um patógeno urbanizado – foi da África para a Ásia e depois para o Brasil, principalmente nas cidades –, mas isso não significa que não tenha nada a ver com desmatamento, tem muito e em vários aspectos. O primeiro deles é que o Zika teve alguns dos piores resultados clínicos, principalmente se co-infectado com dengue e febre amarela – é o que chamamos de ativação recíproca, quando as proteínas de um patógeno ativam as proteínas do outro.
Nas duas últimas décadas, cientistas brasileiros têm mostrado que o desmatamento está impulsionando a disseminação de várias espécies de mosquitos que atuam como vetores de doenças, e alguns entomologistas brasileiros descrevem em detalhes como muitas dessas espécies estão chegando às áreas urbanas.
Em segundo lugar, a distinção entre urbano e rural não é mais o que era antes: há a propagação do continuum urbano para dentro da floresta a ponto de cidades estarem surgindo encravadas na floresta. Isso expande o circuito de produção e leva a uma simplificação da floresta em termos ecológicos.
Assim como o SARS-Cov-2, pesquisadores acreditam que os coronavírus causadores da SARS, cujo surto eclodiu em 2002, e da MERS, que apareceu em 2012, vieram de morcegos. Por que os morcegos estão envolvidos no surgimento de patógenos que conseguem quebrar a barreira de espécie e infectar humanos – processo conhecido como spill over?
Em condições normais, a maioria dos patógenos leva um tempo para passar de hospedeiro a hospedeiro, e isso deve ser um limite para o quão “durão” ele pode ser. As exceções a essa regra são os patógenos de animais como os morcegos, os únicos mamíferos que voam.
O sistema imunológico dos morcegos tem que ser muito bom porque eles não podem se dar ao luxo de ficar doentes, já que um morcego que não voa é um morcego morto. Os morcegos e seus patógenos, portanto, vivem numa espécie de guerra evolutiva, o problema é que, em humanos, esses patógenos causam danos consideráveis porque nós não estamos no mesmo nível.
Quando a SARS surgiu em 2002, pesquisadores encontraram na floresta vários tipos de coronavírus parecidos com o SARS-Cov-1 [causador da SARS]. Tivemos três eventos terríveis de SARS nos últimos oito anos porque os coronavírus estão evoluindo a partir das defesas que os morcegos estão desenvolvendo contra eles.
Nós definitivamente não queremos entrar no meio dessa briga. Imagine só, a gente entra num bar e vê dois caras, um segurando uma garrafa quebrada e outro com uma arma. O que fazemos? Saímos do bar, não queremos ficar entre eles, certo? Mas é exatamente isso que estamos fazendo.
Em que sentido estamos “entrando nessa briga”?
Quando vemos um morcego com uma arma na mão e o SARS com uma garrafa quebrada, nos afastamos. A mesma coisa com os mosquitos: queremos garantir que as pessoas não sejam picadas por eles dando-lhes moradia e saúde adequadas e o que mais for necessário. Só não queremos nos expor a potenciais danos com os quais não podemos lidar. O que as florestas fazem é trabalhar para nós por conta própria.
Em virtude de sua complexidade, elas são como uma caixa que guarda alguns dos patógenos mais perigosos e garante que eles não se espalhem para as comunidades ao redor. Ainda assim, às vezes acontece o spill over para comunidades indígenas ou pequenos agricultores que vivem ao seu redor. Porém, quando esses grupos estão ligados a uma longa cadeia periurbana, qualquer evento de spill over – cujas frequência e diversidade aumentaram – tem uma chance muito maior de chegar a uma cidade da região e, de lá, se propagar para o resto do mundo.
Agora, é muito trabalhoso se tornar um vírus celebridade, nem todo mundo pode ser a Madonna ou o Justin Bieber. Você precisa experimentar muito antes de chegar à combinação que te permitirá abrir o cadeado e se tornar um patógeno celebridade.
Quando comunidades tradicionais e pequenos agricultores são forçados a deixar suas terras, basicamente elimina-se as pessoas que sabem manejar a floresta, preservar sua complexidade e cuidar dos serviços ecossistêmicos dos quais dependemos.
E esses grupos provavelmente serão forçados a entrar no ciclo de migração, fazendo com que o corredor periurbano seja não apenas o meio pelo qual as mercadorias são transportadas, mas um caminho que as pessoas percorrem o tempo todo, de uma direção a outra, de forma que qualquer patógeno pode encontrar seu trajeto para a cidade.

Esse processo tem a ver com o aumento da frequência de aparecimento de patógenos mais perigosos?
Antigamente, os patógenos diziam “levei 150 anos para me tornar uma celebridade”, e agora você tem essa estrela que saiu de um rincão da Amazônia e cinco anos depois já está na balada bebendo champanhe e se divertindo. Aumentamos a velocidade com que isso acontece e a diversidade dos patógenos que estão atingindo esse feito.
É improvável que demore mais cem anos para que tenhamos uma nova pandemia realmente grave, como aconteceu a partir de 1918 [com a gripe espanhola]. É muito provável que tenhamos a Covid-22, a Covid-23. Ou serão as próximas pandemias causadas pelos vírus influenza? Ou vai ser um vírus Nipah [que apareceu pela primeira vez na Malásia em 1998]?
Muitos de nós estávamos de olho na peste suína africana, que saiu da África, atravessou a Eurásia e chegou à China em 2018, matando metade dos suínos chineses. Não estamos vendo apenas novas celebridades emergindo um ano após o outro, estamos vendo várias aparecendo ao mesmo tempo. Muitos tipos de patógenos diferentes estão percorrendo esse caminho em vários lugares ao redor do mundo.
Especialistas têm discutido em que lugares do mundo há chances da próxima pandemia surgir – China, Índia, Brasil etc –, quase todos países do Sul Global. Isso dificulta a responsabilização de empresas e países ricos que incentivam o modelo de agronegócio e lucram com ele?
Podemos discutir porque os patógenos são a causa do surto. Aí podemos falar sobre a causa da causa, que é o desmatamento. Depois, temos que debater ainda a causa da causa da causa, que é como o desmatamento está sendo impulsionado e por quais motivos. Isso tem a ver com os circuitos de capital e as geografias relacionais, segundo as quais o que acontece de um lado do mundo influencia o que ocorre no outro.
O nosso grupo de pesquisa considera que lugares como Londres, Nova York e Hong Kong são os maiores focos mundiais de doenças porque é dessas cidades que parte o dinheiro responsável por promover o desmatamento que leva aos eventos de spill over, seja no Brasil, África ou China.
Em seus livros, você explica que a agricultura industrial oferece os “meios exatos pelos quais patógenos desenvolvem os fenótipos mais virulentos e infecciosos”. O que isso significa?
O melhor jeito de facilitar o surgimento de um patógeno mortal é por meio do sistema industrial de criação de aves, suínos ou gado. Não estou dizendo que o agronegócio tem a intenção de fazer isso, mas é uma junção perfeita de circunstâncias que contribuem exatamente para o aparecimento desses patógenos.
Explicando melhor: imagine que você é um vírus ocupando um hospedeiro. Você não pode ser muito letal porque, se matar seu hospedeiro muito rapidemante, não consegue infectar o próximo. Você precisa se replicar somente até o ponto em que está pronto para passar ao seguinte hospedeiro, e para isso calcula mais ou menos quanto tempo demora normalmente para que ele apareça.
Por isso as florestas, com sua complexidade, são tão importantes: num ambiente desse, é improvável que você encontre seu próximo hospedeiro tão rápido, isso demora um pouco [devido à biodiversidade]. Mas se você está num celeiro com 50 mil perus ou 250 mil galinhas apinhados e com o mesmo sistema imunológico, todos terão a imunidade deprimida pelas condições de aglomeração a que estão submetidos.
Você, que é um vírus, olha e pensa “isso é ótimo, não tenho que me preocupar porque meu próximo hospedeiro está logo ao lado”. O fato desses celeiros estarem cheios de porcos e galinhas ajuda a selecionar as linhagens mais virulentas. E não é apenas um celeiro, frequentemente eles são construídos perto um do outro, num mesmo lugar, para atender às necessidades da produção em escala.
Como o agronegócio tem muito poder político, eu costumo dizer que esses vírus têm os melhores advogados do mundo trabalhando para eles, porque esses advogados estão protegendo um modelo de negócio de sofrer intervenções. Mas podemos seguir colocando a culpa no vírus, nos pequenos agricultores ou na China.
Segundo especialistas, o SARS-Cov-2 se espalhou por meio do comércio de animais selvagens na China. Que semelhanças esse tipo de comércio tem com o agronegócio mais tradicional?
Nós estávamos preocupados com sopa de morcego, mas não se trata apenas do animal, é mais sobre como ele está sendo integrado a um determinado modo de produção. Na China e em outros lugares, a vida selvagem está sendo incluída no modelo industrial do agronegócio. Parte do dinheiro que sustenta o agronegócio está começando a custear esse setor mais formalizado.
Como estamos caminhando a passos largos para a destruição da Terra e de seus animais, o que sobra deles se torna cada vez mais valioso, e de repente se transforma em mais um meio de ganhar dinheiro. Resumindo, os animais selvagens estão se tornando menos selvagens de duas maneiras: ao serem integrados à agricultura industrial e ao serem expulsos das florestas por conta de sua fragmentação.
Por isso, cada vez mais estão sendo selecionados animais que consigam sobreviver nessas novas paisagens periurbanas. É o que acontece nos Estados Unidos com os gansos da neve: eles costumavam passar o verão nas terras úmidas do Golfo do México, que foram destruídas para dar lugar a shoppings centers.
Enquanto outros animais não resistem e morrem, os gansos agora passam o verão nas fazendas do norte do país, aumentando a interface com a criação de aves e o spill over do vírus influenza. O capital industrial está desconectando todas essas ecologias.
As ecologias estão sempre mudando, mas agora elas estão sendo desplugadas e reconectadas de forma a permitir que patógenos anteriormente marginalizados surjam em todos os lugares ao mesmo tempo.

Considerando que o agronegócio é uma força política e econômica muito importante em vários países – no Brasil, representa 26% do PIB –, há maneiras de ao menos diminuir o risco epidemiológico relacionado a essa atividade?
Existem maneiras muito práticas de intervir, como a engenharia reversa. Primeiro, é preciso introduzir a agrobiodiversidade, que atuará como uma espécie de corta-fogo imunológico. Isso quer dizer que, numa mesma fazenda, deve-se criar diferentes raças de animais, porque aí, se um porco ficar doente, é improvável que o patógeno passe para as cabras ou galinhas.
Dessa forma, o agricultor consegue sobreviver economicamente e não favorece o surgimento de novas doenças, porque não haverá a densidade necessária para suportar um patógeno tão mortal. Não significa o fim da doença, só significa que uma doença não vai acabar com tudo. A segunda coisa é permitir que os animais se reproduzam de maneira natural para que aqueles que sobreviveram a surtos epidemiológicos transmitam sua imunidade à próxima geração. Em outras palavras, reintroduzir as leis de Darwin como um serviço ecossistêmico a favor da agricultura.
Muitos pequenos produtores já fazem isso, e esse é o melhor jeito de alimentar o mundo e ao mesmo tempo protegê-lo do estrago que esses patógenos podem causar. Existe um processo de descampezinação, mas devemos pegar o sentido contrário, precisamos de mais camponeses. Isso confunde as mentes progressistas porque elas aceitam as premissas da produção industrial e pensam que a única coisa que se tem a fazer é socializar os meios de produção, quando na realidade a riqueza depende do trabalho e da terra.
Precisamos de terra no sentido de uma fonte regenerativa dos meios pelos quais sobrevivemos como espécie, e os animais não humanos e todos os outros seres devem ser incluídos na noção do que é uma visão progressista.
Você disse em outras entrevistas que a vacina “pode ser uma distração das medidas necessárias para evitar que os patógenos continuem a se expandir”. Por quê?
Quando se trata de derrotar a Covid-19, precisamos vacinar todo mundo para evitar que as variantes surjam. O problema é o foco unicamente no aspecto emergencial do surto como forma de desviar a atenção de suas razões estruturais.
Ao dizermos “temos uma vacina, o problema está resolvido”, deixamos de lado todas as discussões sobre a causa da causa da causa, que não só nos trouxe a esta pandemia e a todos os diferentes surtos ocorridos no século XXI, como também nos levará àqueles que ainda estão por vir.
Obviamente precisamos tomar medidas de emergência, elas são importantes: a vida das pessoas está em jogo e precisamos de vacinas, antivirais e atendimento de saúde, mas as razões pelas quais tudo isso não está disponível para todos estão estreitamente ligadas aos motivos pelos quais as doenças surgem.
Acredita que os modos de vida dos povos indígenas e tradicionais oferecem uma alternativa a esse sistema?
Não quero fetichizar ou colocar ninguém num pedestal, mas as populações indígenas entendem como produzir alimentos, como mantê-los, como pensar nosso lugar no mundo. Eles estão tentando nos apontar um caminho e, de alguma forma, estão nos chamando de volta à Terra, porque partimos dela.
Quando o Elon Musk coloca uma nave no espaço, isso representa, de fato, o que fizemos: deixamos para trás nosso planeta e os povos indígenas. Eles têm o direito de estar incrivelmente bravos com o que fizemos, mas muitos deles, de alguma forma, conseguem nos oferecer perdão em seus corações, nos chamando de volta à Terra e dizendo “vamos nos unir novamente ao planeta”.
Não é que as culturas ao redor do mundo não tenham cometido erros, houve civilizações que colapsaram por razões ecológicas, mas os erros foram específicos, relacionados a uma paisagem particular. Já nós, o sistema capitalista, fizemos a versão global disso, constituímos a falha de julgamento como diretriz primária, como princípio – vamos destruir coisas e nos orgulhamos disso.
Somos deuses caminhando sobre a terra da qual dependemos e estamos destruindo. O capitalismo gosta muito de enaltecer a engenhosidade da humanidade. Mas o Elon Musk nos levando a Marte não tem nada a ver com salvar a humanidade, é sobre o fim da humanidade.