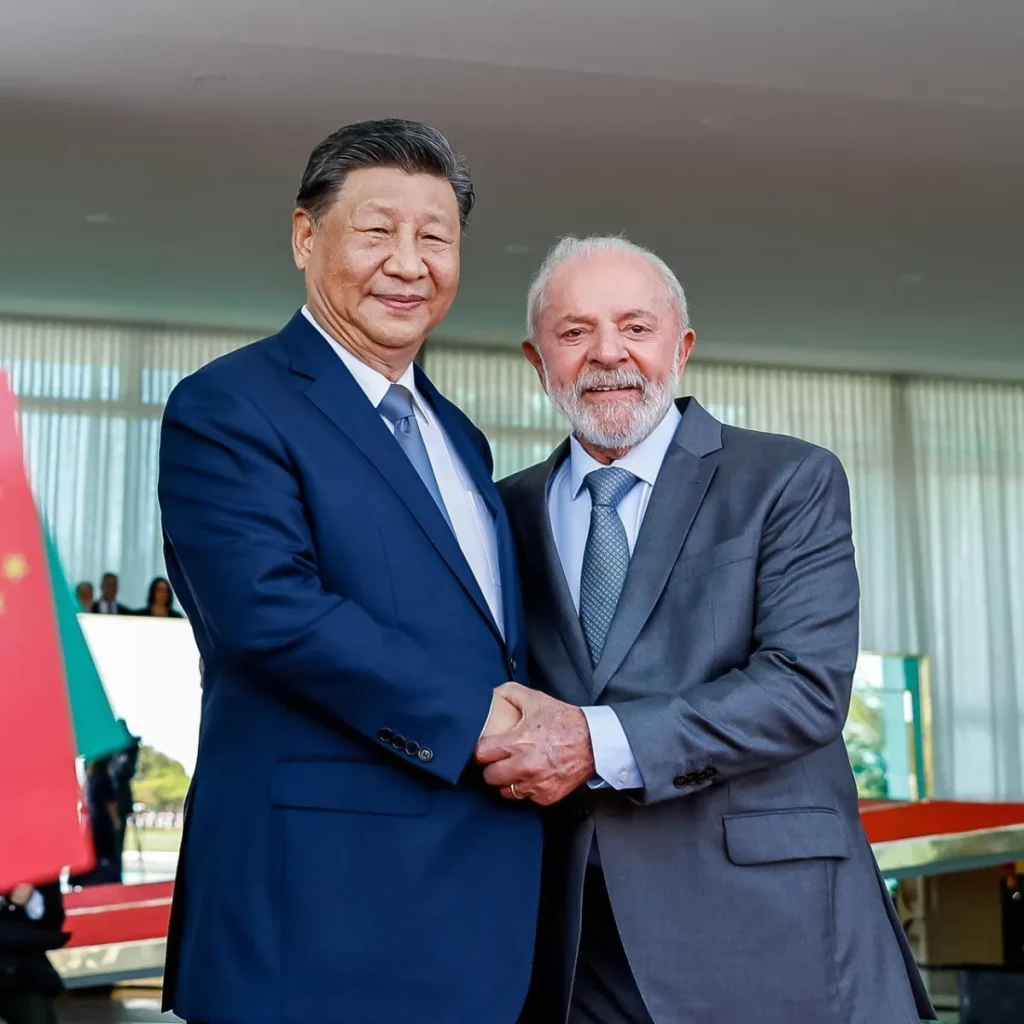Pajé Raimunda, 77 anos, conta sua história como uma das lideranças do Povo Tapeba, no Ceará, responsável por fundar a comunidade da Ponte
Por Pajé Raimunda Tapeba, compartilhado de Projeto Colabora
Na foto: A pajé Raimunda, em Caucaia: rezadeira, curandeira e líder da luta pela demarcação da terra dos Tapeba no Ceará (Foto: Helene Santos / Governo do Ceará)
Eu tenho 77 anos e toda a minha vida foi no município de Caucaia. Nós vivíamos entre indígenas, não tinha gente branca, morávamos em ocas de palha, dormíamos todos juntos em esteiras de palha de bananeira, feitas do próprio junco. As panelas eram de barro, e comíamos todos juntos também. (O depoimento de Raimunda foi dado a jornalista Natali Carvalho).
Eu me criei assim, na comunidade do Trilho, na mata, não tinha escola, não tinha praticamente nada nessa época, só o canto dos pássaros e os indígenas, vivendo da natureza, da sua própria ciência e sabedoria. Quando fiz 17 anos, eu me casei com o filho do cacique, foi nessa mesma época que começou a aparecer dono para a nossa terra, e aterra já não era mais do povo Tapeba. Os posseiros alegaram inclusive que nós, indígenas, nem existíamos. Mas nós éramos filhos da terra de Caucaia, nela íamos ficar.
Infelizmente, depois de muitas intrigas, eu saí de lá, daquele espaço, e vim construir morada na beira deste rio, que nomeamos de Rio Ceará: a comunidade da Ponte. Faz 44anos que moro aqui. Neste pedaço de chão tive meus filhos, meus 38 netos, 35 bisnetos e11 tataranetos. Eu tive um casal de gêmeos que morreram depois de uma semana morando no Rio, Deus levou. Tudo aqui nessa redondeza, veja bem, é um ‘familhão’ que eu tive que educar, para ensinar histórias e costumes, tudo isso sem leitura, porque eu não sei ler nem escrever, eu fui criada dentro da mata.
É melhor atirar comigo parada, porque se eu correr nenhum tiro acerta em mim
Pajé RaimundaCurandeira e líder do Povo Tapeba
Quando apareceu escola, eu tive que trabalhar para colocar meus filhos lá, mas eu achava tudo aquilo muito estranho, essa coisa de estudar, eu fui criada em uma cultura e ter que me adaptar a outra era muito difícil. Mas a sabedoria e ciência que Deus me deu, ninguém tira, está tudo gravado, eu lembro de tudo.
À medida que mais donos surgiam para nossa terra, mais índios que moravam no Trilho vinham se proteger onde eu estava. Muitos foram postos para fora da terra, poucas ocas ficaram por lá. Muitos dos tapebas de hoje nasceram aqui, na beira desse rio. Mas os posseiros sempre estavam lá, dizendo que não éramos donos das nossas terras, então eu entendi que precisamos fazer algo.
Eu disse “negada, vamos ter que tomar uma posição, porque estamos todo tempo correndo e fugindo, nós somos os verdadeiros donos da terra de Caucaia e nós não temos nem um local fixo, estamos em um canto e quando damos fé, temos que sair, precisamos fazer algo porque sem terra não somos ninguém”.
Foi quando o Dom Aloísio, o arcebispo de Fortaleza, mandou uma pessoa nos procurar, para saber se indígenas realmente existiam; bom, eu disse: “existimos, mas não temos um canto certo para continuar existindo, porque a terra é da gente mas nós somos expulsos quase a todo momento”. Foi quando nossa luta pela terra começou realmente; ele nos apresentou a Funai, que primeiramente eu achei que fosse coisa para matar a gente.
Mesmo assim, constantemente alguém aparecia duvidando da nossa existência, inclusive numa dessas fizeram uma barreira com um pessoal para tirar nosso sangue, dizendo que queriam fazer teste de DNA para saber se éramos índios; eu não deixei ninguém tirar o sangue dos meus parente.

Ora, mas não se vê, eu nasci e me criei dentro de uma cultura, ouvindo e vendo meus parentes – que não estão mais vivos – contando suas histórias, do direito dos povos indígenas. Eles diziam que o nosso Ceará, o nosso Brasil era coberto de povos indígenas, índios que casaram com portugueses, alemães; para melhor dizer, at o posseiro pode ter sangue de índio.
Eu me tornei pajé do povo Tapeba, porque toda vida eu cuidei da medicina, das plantas medicinais na aldeia, da reza, da cura, porque sou curandeira, sou rezadeira. São dons dados por Deus; eu tenho esses dons de nascença, por isso ninguém tira. Só Deus e eu sabem da minha sabedoria e da minha resistência. A minha mãe também era rezadeira; tudo o que ela tava fazendo, eu ficava do lado reparando, prestando atenção. Foi o tempo que Deus levou ela, e eu fiquei já com aquela memória da cura.
Todos os remédios que eu fazia, curavam. Hoje os tapebas já se consultam com o médico, mas nós mantemos um trabalho conjunto: ele como médico, eu como pajé. O filho mais velho de um dos meus filhos teve uma doença que a mãe ficou doida, levava para os hospitais e nada da cura; e eu que curei ele, graças à medicina ancestral. Foi assim que me tornei mestre da cultura, pela Universidade Estadual do Ceará, mas eu nunca fui atrás de titulação, meu filho resolveu as coisas, e eu fui titulada assim. Eu nem sei andar na cidade, só por aqui mesmo, na mata. Mas muita gente vem aqui para aprender comigo sobre a medicina indígena.
Muita gente vem para eu rezar neles; uma vez chegou uma senhora aqui com uma doença, o marido dela já tinha vendido a casa para pagar o tratamento, ela não andava, ficou paralisada. Ele trouxe ela para que eu rezasse, ela voltou andando. Ele perguntou quanto era, e eu disse que não cobrava; afinal, eu não entendo nada mas meus encantados sabem de tudo. Se for para resolver, resolve; se for para Deus levar, Deus leva.
Mas eu já passei por cada coisa nessa vida que você nem imagina. Um dos posseiros já colocou até arma de fogo na minha cabeça. Eu sempre ia à mata para pegar palha para fazer as nossas vestes, mas, no ano de 1982, um dos posseiros começou a colocar arame e estacas na parte onde eu pegava as palhas. Quando eu cheguei lá, ele tava passando o arame. Ele disse: “vai para onde?”; eu disse que ia tirar palha, mas ele começou a gritar e dizer que eu não ia passar, e eu fiquei curiosa com aquilo: “por que eu não posso passar se a terra é minha e eu sempre vim aqui tirar palha?”. Eu estava com minhas filhas e fiz elas passarem por debaixo do arame. Foi nesse momento que ele apontou a arma para mim e mandou eu correr. Eu só respondi “meu amigo, é melhor atirar comigo parada, porque se eu correr nenhum tiro acerta em mim”. Ele não gostou, me chamou de nega atrevida. Não foi a primeira vez que uma arma foi apontada para mim, também não sei quando será a última.
Eu já tenho 77 anos nessa luta por essa demarcação de terra. Porque eu o que tive de passar já passei, já criei meus filhos, netos e bisnetos, um ‘familhão’ medonho que eu eduquei, passei a cultura, a sabedoria, a experiência. Ensinei como se convive com a natureza e se vive dentro de uma comunidade indígena, mas como fazer tudo isso sem terra? Fica muito difícil, e a história vai cada vez mais se prolongando para a frente, e nós continuamos no mesmo canto da luta. Eu já não enxergo tão bem, e já estou velha. Mas eu sei que só vou morrer quando a terra for demarcada.