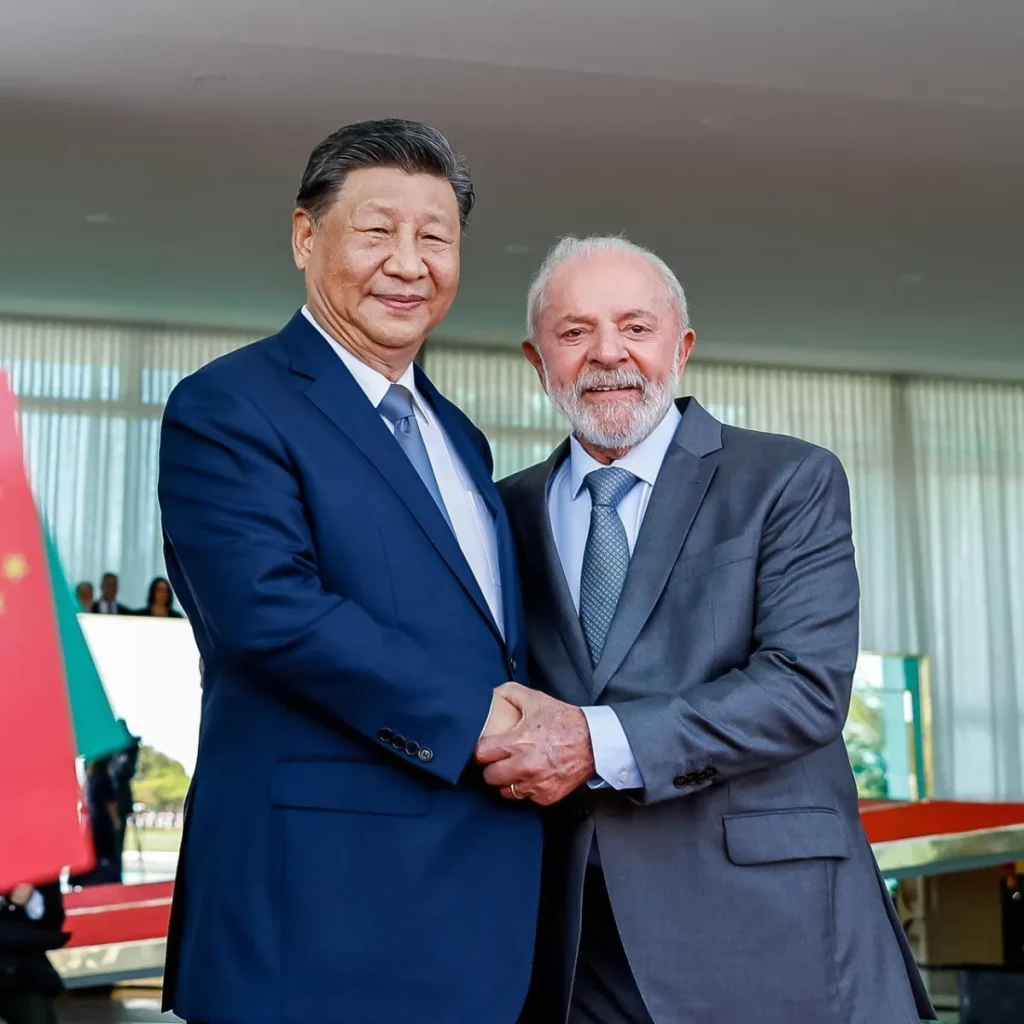Por Walter Falceta, publicado em Jornal GGN –
Nunca manejei um revólver Taurus, nunca toquei numa pistola Glock, nunca quis compreender o funcionamento de um AK-47.
Trabalho como jornalista há 36 anos, quatro meses e três dias, desde que me tornei repórter e redator da modestíssima e fascinante Folha de Vila Formosa, na Zona Leste paulistana.
Ainda que enfraquecida, ainda vigorava a Ditadura anterior, e cada frase impressa, em qualquer lugar, representava um lance do jogo, uma peça movida na disputa complexa pela redemocratização.
Recordo de um entrevero com um antigo e ameaçador “coronel” do bairro, no antigo casarão da Anália Franco. Saltei grade, fiz peripécias com a minha moto TT 125, noticiei uma arbitrariedade.
Naquele 1983, época de desemprego e saques pela urbe, fotografei manifestações e exibi a violência policial.
Por este motivo fui preso, passei horas em uma C14, esmagado com mais 10 pessoas. Foi o time mais comprimido da história. Dois tiros perfuraram a viatura. Por milagre, não atingiram ninguém.
Depois, fui para um caminhão espinha-de-peixe. Apanhei demais com aquele pesado bastão sextavado de madeira, antigamente muito usado pela PM.
Um policial me aplicou vários “telefones”, golpes duplos nos ouvidos. E é por isso que abrigo um zumbido de grilo que, com atenção, posso escutar neste momento, enquanto teclo este texto.
Depois da surra, entusiasmei-me ainda mais com a profissão, que encaro como um sacerdócio. Era para eu me tornar padre. Não rolou. Resolvi viver minha missão pelo jornalismo.
Estive no Chile e senti a repressão nos últimos tempos do governo Pinochet. Ainda sinto o sabor corrosivo dos venenos aspergidos pelo Zorrillo, o carro militar dos fascistas.
Vi e documentei as agruras do povo em muitos outros lugares, especialmente nos rincões profundos do nosso Brasil.
Senti-me um correspondente de guerra durante a violenta desocupação de uma fazenda em Getulina, no interior de São Paulo. Tive de cessar o trabalho para conduzir a lugar seguro um menino sem-terra perdido dos pais.
No Acre, dei um baile nos jagunços da família que assassinou Chico Mendes. Visitei os pavilhões do antigo Carandiru e, numa casa de detenção, vi o corpo de um detento fumegando.
Pude ver quando a “força da lei” agrediu as irmãs e os irmãos índios ou quando reprimiram brutalmente os sem-teto, essa gente pela qual se empenha obstinadamente o padre Julio.
Testemunhei a morte de gente pela cólera e também pela seca nordestina. E encarei alguns dos responsáveis, a elite que constitui e mantém privilégios desde 1500.
Percorri o Morro do Alemão, senti a tensão nas torcidas de futebol e vivenciei a experiência da universidade invadida pelo arbítrio.
Aqui nestas páginas do Facebook, no jornalismo que hoje nos é permitido, reportei os embates de 2013 e de 2016: a bomba maldosa, o golpe doloroso e a bala de borracha que fura o olho do divergente.
E, formidavelmente, para toda essa aventura, nunca precisei de uma só arma de fogo.
Nunca manejei um revólver Taurus, nunca toquei numa pistola Glock, nunca quis compreender o funcionamento de um AK-47.
Sempre andei “armado” de papel e caneta. Por vezes, de uma máquina fotográfica.
Meu principal equipamento de guerra tem sido a máquina de escrever. Começou mecânica. Hoje, é digital, até portátil.
Na verdade, nenhum jornalista de verdade precisa de armas de fogo. Precisa apenas de compreensão da história humana, de entendimento do papel transformador do jornalismo na construção da civilidade.
O melhor jornalista precisa ser atento, generoso, destemido e, sim, atuar como militante da justiça, concebida em seu vasto sentido filosófico.
Exige-se imparcialidade de toda apuração. Mas toda produção jornalística deve assumir como meta a celebração da verdade, o aprendizado libertador e a busca do bem comum.
Ando sempre armado. Meu disparo, no entanto, é o dedo na tecla. Jamais é pela morte. É sempre pela vida.