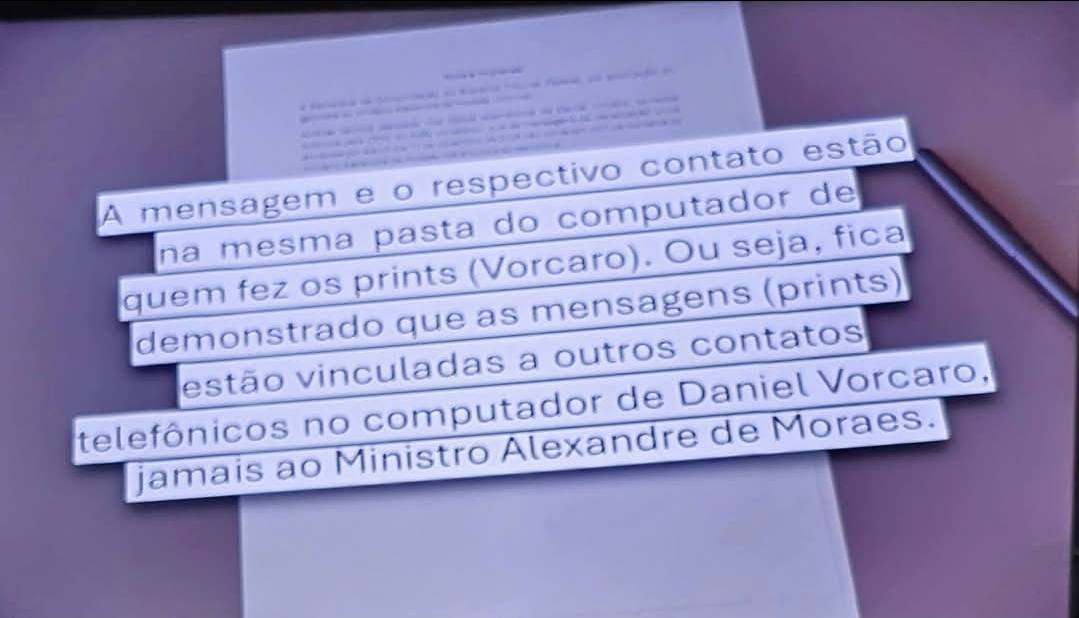”Memórias de um Leitor Anárquico nos Anos de Chumbo”
Noite quente em Paquetá, meados de março. Enquanto trabalho no catálogo de livros raros para o próximo leilão, ouço o canto do urutau ecoando no Parque Darque ou em algum outro canto misterioso da ilha. Faço uma pausa. Respiro. Viro o rosto para a estante onde repousam volumes de publicações filosóficas e anarquistas. Revisito memórias de leituras que moldaram minha vida — livros que me trouxeram até aqui: sem patrão, sem pátria, sem destino. Com pouco dinheiro, mas uma biblioteca que clareia o mundo. Romper grilhões mentais exige coragem. E um bom livro, nas mãos certas, basta para incendiar a alma.
Foi em Brasília, nos anos 80, que encontrei esses incêndios. Na época, o Conjunto Venâncio, o CONIC, concentrava as poucas livrarias da cidade: Galileu, Presença, Tao Editora — esta última, um reduto de textos orientais. Havia também um entreposto de produtos naturais, fundado por um poeta ambientalista e jornalista, Ary Pára-Raios, alcunhado de *Jegue Elétrico*. Ali, entre blocos de tofu, incensos nepaleses e discursos inflamados de poetas marginais em frente ao Teatro Dulcina, vendia-se a *Víbora* — revista cujas capas cuspiam palavras de fogo: **desobedeça, desordeire-se**. Uma publicação que promovia dúvidas e caos. Era ali, entre batas indianas e mandalas hipnóticas, que ideias perigosas circulavam: afiadas como lâminas, prontas para cortar o cordão umbilical da conformidade. Um lugar onde o cheiro de *patchouli* se misturava ao aroma de revoluções silenciosas, e cada página virada era um convite à insubmissão.
Lembro-me de um poema lírico de Bakunin, publicado na *Víbora*, dedicado à sua namorada durante o cárcere nas masmorras do castelo de Shlisselburg:
*“Outrora, havia o luxo e a paixão de correr o meu olhar ao longe e ver sua cabeleira e a nossa bandeira ao vento.
Outrora, os musgos e as tarântulas abriam espaços para as suas delicadas pisadas,
e o outono tremulava à superfície do lago e vertia vodka para seu deleite…
Outrora, eu corria meu olhar ao longe e te via chegando.
Elegante como um astro, triste como uma antiguidade… e revolucionária como uma tempestade.”*
Recitava esse poema em noites insones, quando a madrugada parecia infinita e as palavras eram armas.
Foi numa dessas noites, perambulando pelo *Jegue Elétrico*, que um título atravessou meu olhar: *”Proudhon: Pluralismo e Autogestão”*, de Jean Bancal (1984). Editora e autor desconhecidos para mim, que vinha de uma overdose de orientalismo e ainda estava grogue pelo ultrarrelativismo mágico. Mas devorei aquele livro. Bancal desmontava o mito de que Proudhon era apenas um teórico caótico. A obra era um soco no estômago de quem via o anarquismo como bagunça. Bancal mostrava como Proudhon defendia uma sociedade pluralista: ninguém manda em ninguém, mas todos se organizam — sem Estado, sem patrão, sem hierarquia. O segredo? **Autogestão**. Trabalhadores no comando, federações livres, mutualismo econômico. Nada de revolução sangrenta: gente se ajudando, trocando justo, vivendo sem explorar ninguém. Bancal esfregava na nossa cara como Proudhon odiava capitalismo e Estado, faces da mesma moeda podre. E o mais incrível: o livro não era só história. Bancal fazia pensar como essas ideias cortam como faca hoje, num mundo de desigualdade e centralização. Proudhon não era um sonhador — era um pragmático da liberdade.
Naquele Brasil sufocado pela ditadura, onde publicações anarquistas rareavam, o livro era um achado. Mais tarde, num encontro na UnB em 1986, descobri outras obras. Conversei com Ricardo Lipe, editor de *O Inimigo do Rei* em Salvador, e conheci os criadores da *Víbora* — Kleber Lima, Flávio Bazzo —, além de Plínio Coelho, tradutor do livro de Bancal. Tais encontros foram fortuitos, fruto de uma mudança às pressas de Brasília, após problemas políticos: confundiram-me com militantes do *MAR (Movimento Anarquista Revolucionário)*, acusado de incendiar dezenas de carros da polícia. Depois, soube que os próprios policiais teriam cometido os atos para justificar a troca da frota velha da GEB (Guarda Especial de Brasília) por carros novos. Uma **falsa bandeira**.
Brasília dos anos 80 respirava contradições. Sob a frágil distensão militar, místicos e tradicionalistas duelavam por almas. Profetizavam a cidade como *Nova Atlântida*, um pássaro cósmico previsto por João Bosco. Do Vale do Amanhecer às pirâmides arquitetônicas, o misticismo competia com o autoritarismo. E no meio desse turbilhão, o CONIC abrigava espaços clandestinos de resistência.
Ler, naquela época, era ato político. Cada página exigia paciência de minerador: alguns livros eram pedras brutas, outros, ouro. Hoje, como livreiro, mantenho-me sem patrão — vício manso de quem escolheu a liberdade, mesmo sabendo que não há *bons lençóis* para o pensamento livre numa sociedade reacionária.
Quatro décadas depois, reconheço: Bancal e sua análise de Proudhon deram-me a chave para abrir portas. Não para deleite, mas para ação. Proudhon não é leitura fácil — exige suor intelectual. Seus conceitos são facas: cortam hierarquias, desmontam dogmas. Na Brasília dos anos 80, sob névoas místicas e botas autoritárias, essa era a arma necessária.
Desvencilho-me dessas lembranças. Ainda ouço o urutau noturno. Ainda catalogo livros. Mas sei que paisagens imateriais — como ideias — também se esculpem em relevo. Hoje, ao reler *Pluralismo e Autogestão*, confirmo: seguir sem patrão não é destino. É escolha diária, violenta e doce. Como virar a página de um livro que nunca termina.
**Dedicatória:**
Aos pensadores e ativistas anarquistas, passados e presentes, que dedicaram suas vidas à luta pela liberdade: suas ideias permanecem como raízes vivas, alimentando a esperança de um mundo sem correntes — mesmo que seus frutos floresçam além de nossos dias.
Em especial, homenageio **Alexandre Samis**, cuja persistência generosa inspirou estas memórias, trazendo à luz histórias de leituras entrelaçadas com atos de resistência.
*Pela liberdade que nos habita,*
*ontem, hoje e sempre.*
**Anísio Vieira**
Paquetá, março de 2025