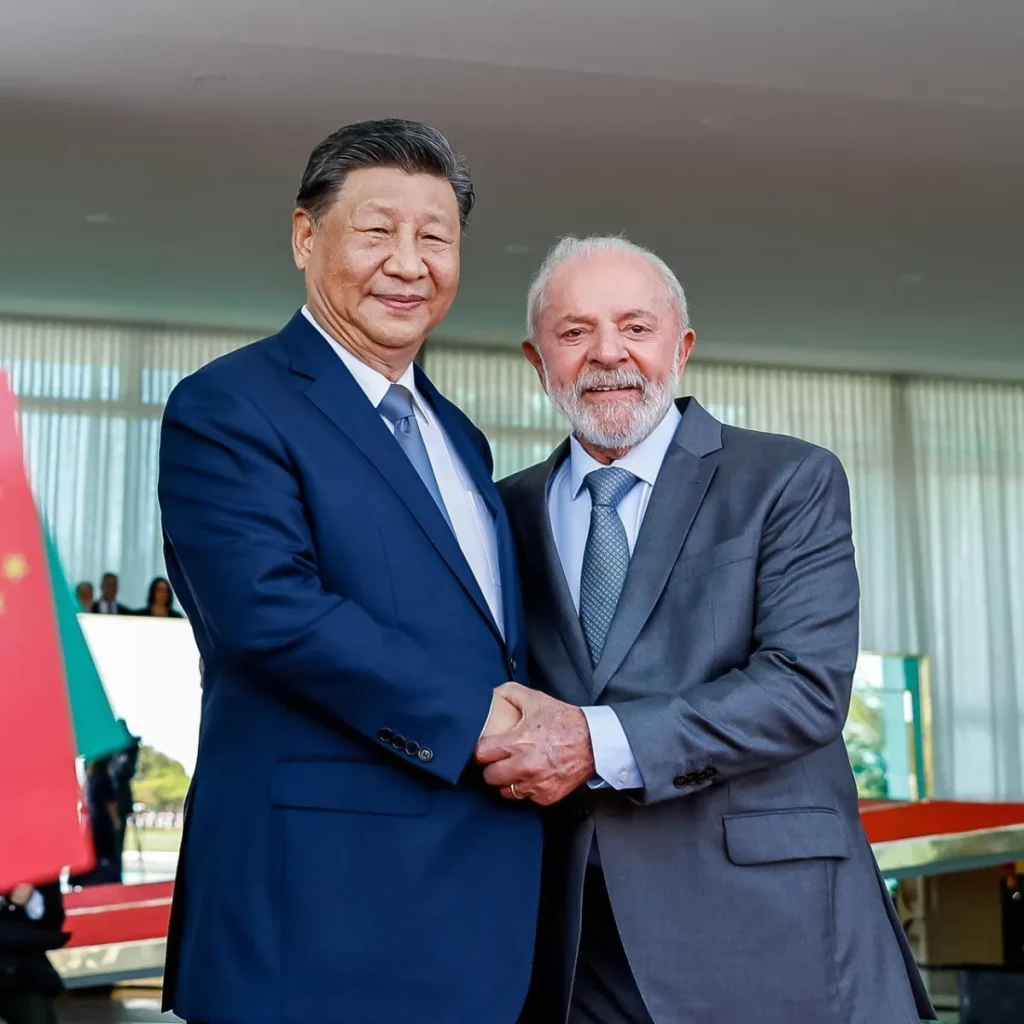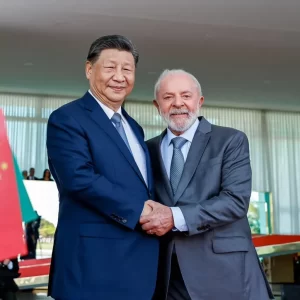Pesquisadora fala sobre herança colonialista no uso de substâncias produzidas por multinacionais europeias
Por Beatriz Drague Ramos, compartilhado de BdF

A população brasileira é tida como sub-humana frente à União Europeia (UE). A constatação é da pesquisadora Larissa Bombardi, que estuda os impactos e o funcionamento do comércio mundial de agrotóxicos. “Quando eu olho o fato de que no Brasil o resíduo de glifosato autorizado na água potável é cinco mil vezes maior do que aquele autorizado na União Europeia. Quando eu vejo que o resíduo de malationa no Brasil é 400 vezes maior do que o autorizado na União Europeia, sou obrigada a pensar que, no conjunto das relações internacionais, a população brasileira, latino-americana e africana é tida como sub-humana. Nós valemos menos.”
Dos dez agrotóxicos mais vendidos no Brasil, cinco são proibidos na UE. Isso significa que são autorizados em território nacional agrotóxicos cancerígenos, que provocam má formação fetal, alterações hormonais, infertilidade e mal de Parkinson, por exemplo.
Por trás disso, empresas como as alemãs Bayer e Basf, as estadunidenses Corteva e FMC, a estatal chinesa Syngenta e a indiana Upl venderam, em 2020, juntas, US$ 43 bilhões dessas substâncias. Mais de 80% desse mercado é controlado pela Bayer, Corteva e Syngenta.
Novo colonialismo
A autorização de venda de agrotóxicos proibidos na UE para nações do sul global, como o Brasil, coloca o país numa nova espécie de colonialismo, que se une, segundo Bombardi, à concentração de terras, à violência contra povos originários e às nossas origens escravocratas.
“A gente tem uma oligarquia que controla politicamente o país, que representa esse monopólio das terras no Brasil, que se afina com os interesses externos. O campesinato brasileiro é um campesinato que nasce sem terra. É um campesinado excluído. É uma sociedade que se constrói na exclusão.”
A análise está posta em Agrotóxicos e Colonialismo Químico, livro lançado em outubro do ano passado e divulgado pela própria autora no Brasil somente neste mês, quando ela finalmente volta – ainda que de passagem – ao país. Bombardi está há três anos exilada na Europa por conta de ataques sofridos após a divulgação do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, publicado em 2017.
Dentre as ameaças sofridas por ela estiveram um pedido para “fechar a boca, porque está falando demais” em um programa de rádio e um convite para passear em um avião de pulverização de agrotóxicos. “Em um determinado momento, os movimentos sociais disseram: ‘Você não pode continuar usando as mesmas rotas, os mesmos horários, tem que evitar rotina'”, o que é humanamente impossível para uma mãe solo de dois filhos.
Desigualdade de gênero
Para além das intimidações à sua integridade fisíca, Larissa sofreu o que ela chama de “terrorismo psicológico” quando tentaram desqualificar sua produção científica dizendo que seus dados não eram corretos. “Aquilo que a gente mais zela é pelo cuidado, pelo rigor científico.”
A descredibilização do trabalho científico feito de mulheres é o ponto de partida em Agrotóxicos e o Colonialismo Químico que traz na epígrafe um pouco do trabalho da bióloga Rachel Carson (1907-1964) e de toda a desqualificação que ela sofreu sendo chamada de “louca”, “comunista” e “histérica” por expor os efeitos do DDT [Dicloro-Difenil-Tricloroetano] e de outros agrotóxicos há mais de 60 anos. “É muito interessante trazer isso à luz, porque ela foi desqualificada como mulher, é algo que atravessa as décadas todas, de muitas mulheres que têm lidado com esse sistema.”
Ao longo das cerca de 85 páginas a pesquisadora traz um panorama da desigualdade de gênero que permeia os impactos do uso e venda de agrotóxicos no Brasil e apresenta iniciativas de agroecologia protagonizadas por mulheres.
“As mulheres acabaram sendo as guardiãs dessas práticas e são justamente quem, muitas vezes, através dessa mimetização da natureza, estão protagonizando as experiências agroecológicas, não só protagonizando, mas multiplicando, trocando entre elas, fazendo intercâmbios de conhecimentos, de sementes, de resistências, de formação política, etc.”
Por outro lado, os efeitos das substâncias tóxicas recaem de forma muito mais severa sobre as mulheres, indo de abortos espotâneos a problemas psicológicos.
Commodities
Bombardi é a convidada desta semana do BdF Entrevista e denuncia que grande parte da agricultura do mundo hoje é voltada para a produção de energia ou de commodities, que são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou em pequeno grau de industrialização e produzidos em larga escala, como a soja, o milho e o algodão.
No caso do Brasil, eles dominam a maior parte da produção agrícola total. É por isso que impor a monocultura à natureza é dar um tiro no próprio pé. “Estamos vendo uma grande parte dos efeitos climáticos, como o aumento da temperatura global, relacionados com o desmatamento e com o uso de fertilizantes químicos.”
O uso de agrotóxicos varia significativamente entre os estados, refletindo diretamente na produção de commodities. Em termos de uso por hectare, os estados mais destacados são Mato Grosso, Rondônia, Goiás e São Paulo. Em 2019, Mato Grosso liderou, com aproximadamente 121 mil toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos consumidos, seguido por São Paulo, com 92 mil toneladas, Goiás, com 49 mil toneladas e Mato Grosso do Sul, com 38 mil toneladas.
Além dos efeitos do monocultivo nas mudanças climáticas, a insegurança alimentar, sobretudo entre a população rural, ainda é alta. A fome ainda está acima do patamar de 2013, apesar de ter recuado nos últimos cinco anos. Em 2023 a insegurança alimentar era realidade para 64 milhões de pessoas, cerca de 8,6 milhões de brasileiros sofreram com essa privação grave. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2023, o percentual de lares enfrentando insegurança alimentar é inferior ao registrado em 2017 e 2018 (36,7%), durante a recessão, mas superior ao de uma década atrás (22,6%). Nas áreas urbanas, aproximadamente 8,9% dos lares sofreram com insegurança alimentar moderada ou grave, enquanto nas áreas rurais esse percentual era de 12,7%.
Parte da explicação da persistência da fome no Brasil vêm da falta de cultivo de alimentos básicos da mesa do brasileiro, fazendo com que haja a necessidade de importar, aumentando assim os preços nos supermercados. “A área para cultivo de feijão diminuiu 40%, a de arroz, cerca de 30%. O preço dos alimentos flutuam ao sabor do mercado internacional inclusive, por isso, o Brasil importa. É uma lógica que não está voltada para a segurança e para a soberania alimentar.”
Confira alguns trechos da entrevista abaixo. No vídeo acima, você pode conferir a entrevista na íntegra.
Brasil de Fato: O que é o conceito de colonialismo químico? E o que ele produz historicamente?
Larissa Bombardi: A gente tem uma Europa que hoje se beneficia do comércio e controla 30% das vendas mundiais agrotóxicos. Ela vende para os países substâncias que ela não tolera no próprio território e é protegida pela atual regulação internacional para isso.
Existem hoje três convenções mundiais para as substâncias tóxicas. Nenhuma delas é especialmente direcionada para agrotóxicos e, dentre essas convenções, há uma estrutura jurídica, um acordo que se chama PIC, Prior Informancy Consent, que significa consentimento de autorização prévia.
É o fato de que quando o Brasil, por exemplo, vai importar uma substância que é proibida na Europa, ele dá a sua anuência, então, há esse acordo internacional de que quando um país importa uma substância que é proibida do país que está exportando, o país que importa tem que dar a sua anuência.
Então, o que acaba acontecendo é que essa própria regulação tem um caráter colonialista também. Porque protege os interesses da União Europeia, ou dos países que controlam a produção e exportação dessas substâncias, embora essas substâncias não sejam toleradas no próprio território.
No colonialismo histórico, a gente teve todo esse processo de acumulação primitiva que se deu por meio do colonialismo, esse acúmulo de recursos na Europa, particularmente na Inglaterra, que se deu pela expoliação, pelo genocídio, pela pilhagem dos recursos naturais da América Latina. A gente vê algo paralelo acontecendo hoje, como se a gente reatualizasse, digamos assim, essa acumulação primitiva por meio desse avanço sobre os territórios indígenas e da grilagem de terras.
Quando a gente vê por exemplo, casos criminosos de uso de agrotóxicos, a gente vai ver que a substância utilizada foi produzida por justamente por uma dessas empresas sediadas na União Europei. Fica claro um mecanismo que remete ao período colonial, ou seja, um deslocamento dessa agricultura capitalista, dessa monocultura, que avança sobre áreas de camponeses, de povos originários, utilizando como arma nessa violência dos conflitos fundiários, uma substância que é proibida no território em que ela foi produzida.
Bem, e o colonialismo não existe sem a colonialidade. O que que é essa colonialidade? Esse monopólio de terras que a gente tem no Brasil, em que 1% dos proprietários controla 50% das terras, e que escolhe o destino do que serão essas terras no país. Essa oligarquia é ultra-representada.
O Brasil é um país que é majoritariamente urbano se a gente for pensar em termos da população. Mas o interesse dessas oligarquias rurais que congregam os interesses das grandes corporações de produção de agrotóxicos, elas estão ultra representadas no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados. Isso no nosso país e também nos demais países latino-americanos.
Então a gente vive um drama que tem a ver com as nossas entranhas, com as nossas raízes coloniais, que não foram superadas. A gente não superou isso. O racismo estrutural existente no Brasil é reflexo dessa estrutura colonialista. A gente tem uma oligarquia que controla politicamente o país, que representa esse grande controle, esse monopólio das terras no Brasil, que se afina com os interesses externos.
Um outro ponto tratado no livro é a queda da produção de alimentos básicos, como o arroz e o feijão, em comparação com a soja. A tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul acendeu um alerta sobre o cultivo de arroz no Brasil e, consequentemente, os valores dele nos supermercados. O nosso modelo agrícola está potencializando as mudanças climáticas? Ele está alimentando a população?
Grande parte da agricultura do mundo hoje é uma agricultura voltada para a produção de energia ou de commodities, que são coisas estranhas à alimentação. Diante da crise climática, discute-se a questão de combustíveis verdes, o que é um grande problema, porque a gente não discute o padrão de consumo, o padrão de transporte e vai, supostamente, substituir o combustível fóssil pelo de origem agrícola, como se isso fosse uma substituição que trouxesse um benefício ambiental. Mas na verdade não traz porque a gente está transformando a terra, que é a base da produção de alimentos, em um substrato para a produção de energia, por meio da monocultura. Quando a gente fala em monocultura, necessariamente a gente está falando da utilização de agrotóxicos, porque a monocultura vai na contramão da organização da própria natureza.
Hoje a gente tem no Brasil uma área que equivale a Alemanha só em soja. Mais de 90% dessa soja é transgênica, o que significa que, como uma grande parte das sementes transgênicas no Brasil, são sementes também preparadas para receber herbicidas. A gente tem hoje uma área no Brasil do tamanho da Alemanha em cultivos transgênicos que recebem agrotóxicos.
O que passa a acontecer é que os destinos dessas terras têm sido para a produção de commodities, essas mercadorias que são comercializadas na bolsa de mercadorias e futuro, que têm o seu preço conhecido nesse grande casino internacional, e para a agroenergia. E aí, o que acontece com a produção de alimentos? Ela decaiu.
As áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, por exemplo, caíram muito. A área para cultivo de feijão diminuiu 40%, de arroz, se eu não estou equivocada, diminuiu 30%. Então, todos os pilares da alimentação brasileira tiveram sua área diminuída. O Brasil importa feijão há dez anos. Para mim, isso é o maior símbolo do escândalo e mostra o quanto essa agricultura não alimenta a população.
O preço dos alimentos flutua ao sabor do mercado, do mercado internacional, inclusive. Por isso, o Brasil importa. O Brasil também exporta, mas importa, então é uma lógica que não está voltada para a segurança e para a soberania alimentar. É uma agricultura que não nos alimenta. A fome aumentou nos últimos dez anos. Obviamente que recrudesceu nesse período da pandemia, mas ela vem aumentando e acho que um dado fundamental e que elimina, de uma vez por todas, essa falsa ideia de que essa produção agrícola alimenta o país é que a população rural tem mais fome do que a população urbana.
Em 2023, o governo Lula aprovou 555 agrotóxicos, houve uma queda de 15% em relação a 2022. Apesar disso, número de aprovações é o 3º maior da série histórica iniciada há 24 anos. O governo federal está tratando esse tema de forma diferente? Se sim, como?
Bem, eu penso que o governo está tratando isso de forma diferente. Claro, é um escândalo, ser o terceiro maior número de aprovações. Mas eu também acredito que há mudanças pela frente. Por exemplo, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está resgatando o tema da política nacional de redução de agrotóxicos, a PNARA [Política Nacional de Redução de Agrotóxicos], que está resgatando o Plano de Produção Orgânica e Agroecológica [Planapo]. Isso está em pauta no governo. É muito diferente do governo ultraconservador de extrema direita em que isso não era tema. Mas é óbvio que é um desafio.
A colonialidade é uma marca que atravessa o país mesmo durante os governos progressistas, não é algo superado por um governo progressista que se elege. Então de avanços, por exemplo, eu poderia dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário selou compromissos com hospitais públicos, por exemplo, em São Paulo. Então o deputado Paulo Teixeira [PT] e o professor Fúlvio Scorza viabilizaram contratos com hospitais em que a alimentação hospitalar vai ser fornecida por produtores agroecológicos, por pequenos produtores. Isso é inovador.
O que poderia ser feito imediatamente e o que a gente tem que almejar? A gente tem que almejar a eliminação da pulverização aérea, uma prática proibida na Europa desde 2009. Não só por avião, como também por drone, porque a pulverização aérea é a principal forma de contaminação ambiental.
Emergencialmente o que poderia ser feito é banir as substâncias banidas na União Europeia, proibir a pulverização aérea e rever os limites de agrotóxicos, tanto na água, quanto nos alimentos. No mundo, como nós falávamos no início, a atual regulação internacional para as substâncias tóxicas é incipiente. O número de agrotóxicos internacionalmente banidos corresponde só a 3% do volume total, do número total de agrotóxicos autorizados. Então, não é nada. É quase nada.
A gente precisa caminhar na direção de uma regulação internacional para agrotóxicos. Tenho trabalhado nisso, coordenando uma aliança que se chama IPSA, uma Aliança Internacional para a Padronização de Agrotóxicos, que visa, obviamente, a eliminação programada dessas substâncias.
Deve haver um padrão de limite de resíduo de agrotóxicos, deve haver um padrão para a proibição de agrotóxicos, porque enquanto, por exemplo, a União Europeia já proibiu, ou nunca autorizou uma quantidade de 269 agrotóxicos, o resto do mundo mal chega à casa dos 30, outros nem à casa dos 100 agrotóxicos. Então é algo muito grave.
A ideia é que a gente traga esse debate para o âmbito internacional porque não é possível que o mundo viva com regras tão díspares em que uma grande parte da humanidade, especialmente dos países do Sul, estejam submetidos a um impacto dos agrotóxicos de forma diferente daquela da população dos países do Norte.
Uma das respostas também passa por punir as empresas e empresários que intoxicam a população?
Esse é um caminho também que deve ser considerado, sim, porque normalmente as empresas se isentam da responsabilidade, mas a gente sabe que, ao fim e ao cabo, elas são as responsáveis pelo que vem acontecendo. Uma fotografia clara de como as empresas são responsáveis é o fato da Bayer, hoje, nos Estados Unidos, (a Bayer é uma companhia alemã que comprou a Monsanto), está sendo processada na esfera dos bilhões de dólares em função dos casos envolvendo o câncer por exposição a glifosato.
É algo que caminha. Tem uma entidade muito importante que se chama Justice Pesticides, sediada na França, mas que tem representantes no mundo inteiro, e que faz parte da IPSA, que congrega casos na justiça envolvendo agrotóxicos, informações sobre agrotóxicos e justiça, processos contra as empresas ou de outra ordem.
É um tema que cresce e que deve merecer lugar central também no combate. As empresas têm que ser responsabilizadas. A gente não pode, como tem sido feito, responsabilizar as vítimas. Eu me lembro, claramente, da ex-ministra da agricultura do governo Bolsonaro, afirmando que os camponeses se intoxicam muitas vezes porque manipulam os agrotóxicos e depois fumam. Isso é algo triste, ter que lidar com esse tipo de narrativa no Brasil, quando a gente sabe muito bem o descontrole de como essas substâncias são utilizadas.
As companhias não se responsabilizam por isso e tanto é fato que as contaminações por agrotóxicos não estão restritas ao universo do manejo no ambiente de trabalho. A gente tem um número de bebês de zero a um ano que se intoxicam com agrotóxicos no Brasil. Então é algo que sai da esfera das relações de trabalho e contamina a população brasileira de uma forma muito cruel, especialmente as crianças e os adolescentes.
Nós estamos submetidos a uma exposição crônica a essas substâncias. Precisamos olhar isso sob uma outra perspectiva e entender que a população é vítima, que os trabalhadores são vítimas e que as empresas devem, sim, ser responsabilizadas pelos efeitos, seja na saúde humana, seja na saúde ambiental.
Edição: Martina Medina